
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LEI Nº 3.134, DE 29 DE MAIO DE 2025
|
DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E O FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO. |
Como Prefeito Municipal de Iúna, Estado do Espírito Santo, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - A Política Municipal de Saneamento Básico de Iúna, com fundamento na Lei Federal 11.445/07 e suas alterações, tem como objetivo, respeitadas as competências da União e do Estado, melhorar a qualidade da sanidade pública e manter o meio ambiente equilibrado buscando o desenvolvimento sustentável e fornecendo diretrizes ao poder público e à coletividade para a defesa, conservação e recuperação da qualidade e salubridade ambiental, cabendo a todos o direito de exigir a adoção de medidas nesse sentido.
1º Para os efeitos desta lei considera-se saneamento básico o conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de:
I- abastecimento de água potável: constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e seus instrumentos de medição;
II- esgotamento sanitário: constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para produção de água de reúso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente;
III- limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: constituídos pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana; e
IV- drenagem e manejo de águas pluviais urbanas: constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes.
2º Nas Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) ou outras áreas do perímetro urbano ocupadas predominantemente por população de baixa renda, o serviço público de esgotamento sanitário, realizado diretamente pelo titular ou por concessionário, inclui conjuntos sanitários para as residências e solução para a destinação de efluentes, quando inexistentes, assegurada compatibilidade com as diretrizes da política municipal de regularização fundiária.
Art. 2º - Os recursos hídricos não integram os serviços de saneamento básico.
1º A utilização de recursos hídricos na prestação de serviços públicos de saneamento básico inclusive para a disposição ou diluição de esgotos e outros resíduos líquidos, é sujeita a outorga de direito de uso, nos termos da Lei Federal nº. 9.433, de 08 de janeiro de 1997, de seus regulamentos e da legislação estadual.
2º As outorgas de recursos hídricos atualmente detidas pelas empresas estaduais poderão ser segregadas ou transferidas da operação a ser concedida, permitidas a continuidade da prestação do serviço público de produção de água pela empresa detentora da outorga de recursos hídricos e a assinatura de contrato de longo prazo entre esta empresa produtora de água e a empresa operadora da distribuição de água para o usuário final, com objeto de compra e venda de água.
Art. 3º - Não constitui serviço público de saneamento a ação executada por meio de projetos e atividades individuais e específicas, desde que o usuário não dependa da intervenção direta do poder público para operar os serviços, bem como as atividades e obras de saneamento básico de responsabilidade privada, previstas em lei ou normas regulamentadoras incluindo o manejo de resíduos de responsabilidade do gerador.
Art. 4º - Os resíduos originários de atividades comerciais desde que não se enquadrem como resíduos perigosos, podem ser considerados como resíduos sólidos urbanos mediante parecer técnico da área de meio ambiente.
Parágrafo único - Os resíduos industriais, de serviços de saúde, da construção civil, agrossilvopastoris, de serviços de transporte, de mineração e resíduos perigosos devem observar a legislação específica quanto ao seu manuseio e destino final.
Art. 5º - Para o estabelecimento da Política Municipal de Saneamento Básico serão observados os seguintes princípios fundamentais:
I- universalização do acesso e efetiva prestação do serviço;
II- integralidade, compreendida como o conjunto de atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento que propicie à população o acesso a eles em conformidade com suas necessidades e maximize a eficácia das ações e dos resultados;
III- abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública, à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente;
IV- disponibilidade, nas áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, tratamento, limpeza e fiscalização preventiva das redes, adequados à saúde pública, à proteção do meio ambiente e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;
V- adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;
VI- articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde, de recursos hídricos e outras de interesse social relevante, destinadas à melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante;
VII - eficiência econômica e sustentabilidade;
VIII - estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento e à utilização de tecnologias apropriadas, consideradas a capacidade de pagamento dos usuários, a adoção de soluções graduais e progressivas e a melhoria da qualidade com ganhos de eficiência e redução dos custos para os usuários;
IX- transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados;
X- controle social;
XI- segurança, qualidade e regularidade;
XII - integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos;
XIII - redução e controle das perdas de água, inclusive na distribuição de água tratada, estímulo à racionalização de seu consumo pelos usuários e fomento à eficiência energética, ao reúso de efluentes sanitários e ao aproveitamento de águas de chuva;
XIV - prestação regionalizada dos serviços, com vistas à geração de ganhos de escala e à garantia da universalização e da viabilidade técnica e econômico-financeira dos serviços;
XV - seleção competitiva do prestador dos serviços; e
XVI - prestação concomitante dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.”.
CAPÍTULO II
DO INTERESSE LOCAL
Art. 6º - Para o cumprimento do disposto no Art. 30 da Constituição Federal no que concerne ao saneamento básico consideram-se como de interesse local:
I- o incentivo à adoção de posturas, e práticas sociais e econômicas ambientalmente sustentáveis;
II- a adequação das atividades e ações econômicas, sociais, urbanas e rurais e do Poder Público, às imposições do equilíbrio ambiental;
III- a busca permanente de soluções negociadas entre o Poder Público, a iniciativa privada e sociedade civil para a prevenção e mitigação dos impactos ambientais;
IV- a adoção no processo de planejamento, de normas relativas ao desenvolvimento urbano e econômico que priorizem a proteção ambiental, a utilização adequada do espaço territorial e dos recursos naturais e que possibilitem novas oportunidades de geração de emprego e renda;
V- a ação na defesa e conservação ambiental no âmbito regional e dos demais municípios vizinhos, mediante convênios e consórcios;
VI- a defesa e conservação das áreas de mananciais, das reservas florestais e demais áreas de interesse ambiental;
VII- o licenciamento e fiscalização ambiental com o controle das atividades efetiva ou potencialmente degradadoras e poluidoras;
VIII - a melhoria constante da qualidade do ar, da água, do solo, da paisagem e dos níveis de ruído e vibrações, mantendo-os dentro dos padrões técnicos estabelecidos pelas legislações de controle de poluição ambiental federal, estadual e municipal no que couber;
IX- o acondicionamento, a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos;
X- a captação, o tratamento e a distribuição de água para consumo, assim como o monitoramento de sua qualidade;
XI- a coleta, a disposição e o tratamento de esgotos;
XII- o tratamento e/ou reaproveitamento de efluentes gerados por quaisquer atividades;
XIII - a drenagem e a destinação final das águas;
XIV - a garantia de crescentes níveis de salubridade ambiental, através do provimento de infraestrutura sanitária e de condições de salubridade das edificações, ruas e logradouros públicos;
XV - monitoramento de águas subterrâneas visando à manutenção dos recursos hídricos para as atuais e futuras gerações, exigindo o cumprimento da legislação.
CAPÍTULO III
DOS ÓRGÃOS EXECUTORES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Art. 7º - A Política Municipal de Saneamento Básico de Iúna será executada pelas secretarias e órgãos da Administração Municipal prestadores dos serviços, cada qual no âmbito de sua competência e monitorada pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico.
CAPÍTULO IV
DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO
Art. 8º - Os serviços básicos de saneamento de que trata o parágrafo único do art. 1º desta Lei poderão ser executados das seguintes formas:
I- de forma direta pela Prefeitura;
II- por empresa contratada para a prestação dos serviços através de processo licitatório;
III - por empresa concessionária escolhida em processo licitatório de concessão, nos termos da Lei Federal nº. 8.987/95;
IV - por gestão associada com órgãos da administração direita e indireta de entes públicos federados por convênio de cooperação ou em consórcio público, através de contrato de programa, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei Federal nº. 11.107/05.
1º A prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração municipal depende de celebração de contrato, sendo vedado a sua disciplina mediante convênios, termos de parceria ou outros instrumentos de natureza precária.
2º Excetuam do disposto no artigo anterior os serviços autorizados para usuários organizados em cooperativas, associações ou condomínios desde que se limite a:
a) determinado condomínio;
b) localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por população de baixa renda, onde outras formas de prestação apresentem custos de operação e manutenção incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários.
3º Da autorização prevista no parágrafo anterior deverá constar a obrigação de transferir ao titular os bens vinculados aos serviços por meio de termo específicos, com os respectivos cadastros técnicos.
Art. 9º - São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico;
I- a existência prévia de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação universal e integral dos serviços;
II- a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade ou órgão de regulação e de fiscalização;
Art. 10 - Os contratos relativos à prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão conter, expressamente, sob pena de nulidade, as cláusulas essenciais previstas no art. 23 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, além das seguintes disposições:
I- a autorização para a contratação dos serviços, indicando os respectivos prazos e a área a ser atendida;
II- inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de metas de expansão dos serviços, de redução de perdas na distribuição de água tratada, de qualidade na prestação dos serviços, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais, do reúso de efluentes sanitários e do aproveitamento de águas de chuva, em conformidade com os serviços a serem prestados;
III - as prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas;
III - as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação de serviços, em regime de eficiência, incluindo:
a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas;
b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas;
c) a política de subsídios;
IV - possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetos associados, incluindo, entre outras, a alienação e o uso de efluentes sanitários para a produção de água de reuso, com possibilidade de as receitas serem compartilhadas entre o contratante e o contratado, caso aplicável;
V - metodologia de cálculo de eventual indenização relativa aos bens reversíveis não amortizados por ocasião da extinção do contrato;
VI - repartição de riscos entre as partes, incluindo os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária;
VII - mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços;
VIII -as hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços.
1º Os contratos não poderão conter cláusulas que prejudiquem as atividades de regulação e de fiscalização ou de acesso às informações sobre serviços contratados.
2º Na prestação regionalizada, o disposto neste artigo e no anterior poderá se referir ao conjunto de municípios por ela abrangidos.
3º Fica vedada a distribuição de lucros e dividendos, do contrato em execução, pelo prestador de serviços que estiver descumprindo as metas e cronogramas estabelecidos no contrato específico da prestação de serviço público de saneamento básico.
Art. 10-B - Os contratos em vigor, incluídos aditivos e renovações, autorizados nos termos desta Lei, bem como aqueles provenientes de licitação para prestação ou concessão dos serviços públicos de saneamento básico, estarão condicionados à comprovação da capacidade econômico-financeira da contratada, por recursos próprios ou por contratação de dívida, com vistas a viabilizar a universalização dos serviços na área licitada até 31 de dezembro de 2033, nos termos do § 2º do art. 11-B da Lei Federal nº 14.026 de 15 de Julho de 2020.
Art. 11 - Os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% (noventa e nove por cento) da população com água potável e de 90% (noventa por cento) da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento.
Art. 12 - Nos serviços públicos de saneamento básico em que mais de um prestador execute atividade interdependente com outra, a relação entre elas deverá ser regulada por contrato e haverá órgão único encarregado das funções de regulação e de fiscalização, adequadas às normativas publicadas pela ANA, nos termos da Lei Federal 14.026/2020.
Parágrafo único - Na regulação deverá ser definido, pelo menos:
I- as normas técnicas relativas à qualidade e regularidade dos serviços aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos;
II- as normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos pagamentos por serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores dos serviços;
III- a garantia de pagamento de serviços prestados entre os diferentes prestadores dos serviços;
III- os mecanismos de pagamento de diferenças relativas a inadimplemento dos usuários, perdas comerciais e físicas e outros créditos devidos, quando for o caso;
V- o sistema contábil específico para os prestadores que atuem em mais de um Município.
Art. 13 - O contrato a ser celebrado entre os prestadores de serviços a que se refere o Art. anterior deverá conter cláusulas que estabeleçam pelo menos:
I- as atividades ou insumos contratados;
II- as condições recíprocas de fornecimento e de acesso a atividades ou insumos;
III- o prazo de vigência, compatível com as necessidades de amortização de investimentos, e as hipóteses de sua prorrogação;
IV- os procedimentos para a implantação, ampliação, melhoria e gestão operacional das atividades;
V- os direitos e deveres sub-rogados ou os que autorizam a sub-rogação;
VI- as hipóteses de extinção, inadmitida a alteração e a rescisão administrativas unilaterais;
VII - as penalidades a que estão sujeitas as partes em caso de inadimplemento;
VIII - a designação do órgão ou entidade responsável pela regulação e fiscalização das atividades ou insumos contratados.
CAPÍTULO V
DA PARTICIPAÇÃO REGIONALIZADA EM SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO
Art. 14 - O Município poderá participar de prestação regionalizada de serviços de saneamento básico que é caracterizada por:
I- um único prestador dos serviços para vários Municípios, contíguos ou não;
II- uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, inclusive sua remuneração; III - compatibilidade de planejamento.
1º Na prestação de serviços de que trata este artigo, as atividades de regulação e fiscalização poderão ser exercidas:
a) por órgão ou entidade de ente da Federação a que o titular tenha delegado o exercício dessas competências por meio de convênio de cooperação técnica entre entes da Federação, obedecido o disposto no art. 241 da Constituição Federal;
b) por consórcio público de direito público integrado pelos titulares dos serviços.
2º No exercício das atividades de planejamento dos serviços a que se refere o caput deste artigo o titular poderá receber cooperação técnica do Estado e basear-se em estudos fornecidos pelos prestadores.
Art. 15 - A prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico poderá ser realizada por:
I- órgão, autarquia, fundação de direito público, consórcio público, empresa pública ou sociedade de economia mista estadual ou municipal;
II- empresa a que se tenha concedido os serviços.
1º O serviço regionalizado de saneamento básico poderá obedecer ao plano de saneamento básico elaborado para o conjunto dos municípios.
2º Os prestadores deverão manter sistema contábil que permita registrar e demonstrar, separadamente, os custos e as receitas de cada serviço para cada um dos municípios atendidos.
CAPÍTULO VI
DA REGULAÇÃO E CONTROLE
Art. 16 - A regulação não poderá ser exercida por quem presta o serviço e atenderá aos seguintes princípios:
I- independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e financeira do órgão regulador;
II- transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.
Art. 17 - São objetivos da regulação:
I- estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários;
II- garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;
III- prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência;
IV - definir tarifas que assegurem o equilíbrio econômico e financeiros dos contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzem a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade;
V- definir as penalidades.
Parágrafo único - A regulação e controle de serviços de saneamento básico ficarão sob a responsabilidade da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná - AGEPAR, ou a outra entidade que venha a substituí-la.
Art. 18 - O órgão ou entidade reguladora, observadas as diretrizes determinadas pela ANA, editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos:
I- padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços;
II- requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;
III- as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos prazos;
IV- regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e revisão;
V- medição, faturamento e cobrança de serviços;
VI- monitoramento dos custos;
VII- avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados;
VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação;
IX- subsídios tarifários e não tarifários;
X- padrões de atendimento ao público e mecanismo de participação e informação;
XI- medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento.
1º As normas previstas neste artigo deverão fixar prazo para os prestadores de serviços comunicarem aos usuários as providências adotadas em face de queixas ou de reclamações relativas aos serviços.
2º O órgão ou entidade fiscalizadora deverá receber e se manifestar conclusivamente sobe as reclamações que, a juízo do interessado, não tenham sido suficientemente atendidas pelos prestadores dos serviços.
Art. 19 - Em caso de gestão associada ou prestação regionalizada dos serviços, poderão ser adotados os mesmos critérios econômicos, sociais e técnicos da regulação em toda a área de abrangência da associação ou prestação.
Art. 20 - Os prestadores de serviços de saneamento básico deverão fornecer ao órgão ou entidade reguladora todos os dados e informações necessárias para o desempenho de suas atividades, na forma das normas legais, regulamentares e contratuais.
1º Inclui-se entre os dados e informações a que se refere o caput deste artigo aquelas produzidas por empresas ou profissionais contratados para executar serviços ou fornecer materiais e equipamentos específicos.
2º Compreendem-se nas atividades de regulação a interpretação e a fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços e para a correta administração de subsídios.
Art. 21 - Deve ser dada ampla publicidade aos relatórios, estudos e decisões e instrumentos equivalentes que se refiram à regulação ou a fiscalização dos serviços, bem como aos direitos e deveres dos usuários e prestadores, a eles podendo ter acesso qualquer um do povo, independentemente da existência de interesse direto.
1º Excluem-se do disposto no caput deste artigo os documentos considerados sigilosos em razão de interesse público relevante, mediante prévia e motivada decisão.
2º A publicidade a que se refere o caput deste artigo deverá se efetivar, preferencialmente, por meio de site na internet, não excluindo os demais meios de comunicação.
Art. 22 - É assegurado aos usuários dos serviços públicos de saneamento básico:
I- amplo acesso a informações sobre os serviços prestados;
II- prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem estar sujeitos;
III- acesso a manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário, elaborado pelo prestador e aprovado pelo órgão ou entidade reguladora;
IV- acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços.
CAPÍTULO VII
DOS ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS
Art. 23 - Os serviços de saneamento básico de que trata esta Lei terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços:
I- de abastecimento de água e esgotamento sanitário, na forma de taxas, tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos, conjuntamente;
II- de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, na forma de taxas, tarifas e outros preços públicos, conforme o regime de prestação do serviço ou das suas atividades; e
III- de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, na forma de tributos, inclusive taxas, ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou das suas atividades.
1º Na instituição das tarifas, preços públicos e taxas para aos serviços de básico serão observadas as seguintes diretrizes:
a) ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda os serviços;
b) geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço;
c) inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos;
d) recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência;
e) remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços;
f) estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços;
g) incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços.
2º O Município poderá adotar subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir o custo integral dos serviços, desde que haja avaliação prévia da Secretaria de Assistência Social e anuência do setor de Tributos.
3º As novas edificações condominiais adotarão padrões de sustentabilidade ambiental que incluam, entre outros procedimentos, a medição individualizada do consumo hídrico por unidade imobiliária, nos termos da Lei nº 13.312, de 12 de julho de 2016.
4º Na hipótese de prestação dos serviços sob regime de concessão, as tarifas e preços públicos serão arrecadados pelo prestador diretamente do usuário, e essa arrecadação será facultativa em caso de taxas.
5º Os prédios, edifícios e condomínios que foram construídos sem a individualização da medição até a entrada em vigor da Lei nº 13.312, de 12 de julho de 2016, ou em que a individualização for inviável, pela onerosidade ou por razão técnica, poderão instrumentalizar contratos especiais com os prestadores de serviços, nos quais serão estabelecidas as responsabilidades, os critérios de rateio e a forma de cobrança.
Art. 24 - Observado o disposto no artigo anterior, a estrutura de remuneração e cobrança dos serviços públicos de saneamento básico poderá levar em consideração os seguintes fatores:
I- categorias de usuários, distribuídos por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de consumo;
II- padrões de uso ou de qualidade requeridos;
III - quantidade mínimo de consumo ou de utilização do serviço, visando à garantia de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente;
IV- custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade adequadas;
V - ciclos significativos de aumento de demanda dos serviços, em períodos distintos; VI - capacidade de pagamento dos consumidores.
Art. 25 - Os subsídios necessários ao atendimento de usuários e localidades de baixa renda poderão ser:
I - diretos: quando destinados a usuários determinados;
II- indiretos: quando destinados ao prestador dos serviços;
III- tarifários: quando integrarem a estrutura tarifária;
IV- fiscais: quando decorrerem da alocação de recursos orçamentários, inclusive por meio de subvenções;
V- internos a cada titular ou localidades: nas hipóteses de gestão associada e de prestação regional.
Art. 26 - As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a adequada destinação dos resíduos coletados e poderão considerar em conjunto ou separadamente:
I- os custos decorrentes da prestação dos serviços;
II- as características dos lotes e as áreas que podem ser neles edificadas;
III- o consumo de água; e
IV- a frequência de coleta.
Art. 27 - O reajuste de tarifas de serviços públicos de saneamento básico será realizado observando- se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais.
Art. 28 - Poderá ser realizada cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.
Art. 29 - As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser:
I- periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de mercado;
II- extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro.
1º As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelo órgão ou entidade reguladora, ouvidos os usuários e os prestadores dos serviços.
2º Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência, inclusive fatores de produtividade, assim como de antecipação de metas de expansão e qualidade dos serviços.
3º O órgão ou entidade reguladora poderá autorizar o prestador dos serviços a repassar aos usuários custos e encargos tributários não previstos originalmente e por ele não administrados, nos termos da Lei Federal nº. 8.987/95.
Art. 30 - As tarifas devem ser fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões tornados públicos com antecedência mínima de 90 (noventa) dias com relação à sua aplicação.
Parágrafo único - A fatura a ser entregue ao usuário final deverá ter seu modelo aprovado pelo órgão ou entidade reguladora, que definirá os itens e custos a serem explicitados.
Art. 31 - Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses:
I- situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens;
II- necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza no sistema;
III- negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água consumida, após ter sido previamente notificado a respeito;
IV- manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação do prestador, por parte do usuário;
V- inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado.
1º As interrupções programas serão previamente comunicadas ao regulador e aos usuários, com antecedência prévia de 24 (vinte e quatro) horas através de todos os meios de comunicação disponíveis.
2º A suspensão dos serviços prevista nos incisos III e V será precedida de prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão.
3º A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a estabelecimentos de saúde, a instituições educacionais e de internação de pessoas e a usuário residencial de baixa renda beneficiário de tarifa social deverá obedecer a prazos e critérios que preservem condições mínimas de manutenção da saúde das pessoas atingidas.
Art. 32 - Desde que previsto nas normas de regulação, grandes usuários poderão negociar suas tarifas com o prestador dos serviços, mediante contrato específico, ouvido previamente o regulador.
Art. 33 - Os valores investidos em bens reversíveis pelos prestadores constituirão créditos perante o titular, a serem recuperados mediante a exploração dos serviços, nos termos das normas regulamentares e contratuais.
1º Não gerarão crédito perante o titular os investimentos feitos sem ônus para o prestador, tais como os decorrentes de exigência legal aplicável à implantação de empreendimentos imobiliários e os provenientes de subvenções ou transferências fiscais voluntárias.
2º Os investimentos realizados, os valores amortizados, a depreciação e os respectivos saldos serão anualmente auditados e certificados pelo órgão ou ente regulador.
3º Os créditos decorrentes de investimentos devidamente certificados poderão constituir garantia de empréstimos aos delegatários, destinados exclusivamente a investimentos nos sistemas de saneamento objeto do respectivo contrato.
CAPÍTULO VIII
DOS ASPECTOS TÉCNICOS
Art. 34 - O serviço prestado atenderá a requisitos mínimos de qualidade, incluindo a regularidade, a continuidade e às condições operacionais e de manutenção dos sistemas.
Art. 35 - Toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponível e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços, ressalvadas as disposições em contrário da entidade de regulação e do meio ambiente.
1º Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções individuais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, observadas as normas reguladoras.
2º A instalação hidráulica predial ligada à rede de abastecimento de água não poderá ser também alimentada por outras fontes, ressalvada o uso de água da chuva.
CAPÍTULO IX
DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB
Art. 36 - Fica instituído o Fundo Municipal de Saneamento Básico destinado a financiar, isolada ou complementarmente, os instrumentos da Política Municipal de Saneamento Básico previstos nesta Lei, cujos programas tenham sido aprovados pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico.
1º Os recursos do FMSB serão aplicados exclusivamente em saneamento básico no Município, após consulta ao Conselho Municipal de Saneamento.
2º O Plano Municipal de Saneamento Básico é o único instrumento hábil para orientar a aplicação dos recursos financeiros do Fundo Municipal de Saneamento Básico.
3º Fica vedada a utilização dos recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico para pagamento de dívidas e cobertura de déficits dos órgãos e entidades envolvidas direta ou indiretamente na Política Municipal de Saneamento Básico.
4º A gestão do Fundo Municipal de Saneamento Básico será de responsabilidade conjunta entre o Secretário Executivo e o Presidente do Conselho Municipal de Saneamento de Iúna.
Art. 37 - Os recursos do FMSB serão provenientes de:
I- repasses de valores do Orçamento Geral do Município;
II- arrecadação de multas;
III- valores de financiamentos de instituições financeiras e organismos públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros;
IV- valores recebidos a fundo perdido;
V- quaisquer outros recursos destinados ao Fundo.
Parágrafo único - O resultado dos recolhimentos financeiros será depositado em conta bancária exclusiva e poderão ser aplicados no mercado financeiro ou de capitais de maior rentabilidade, sendo que tanto o capital como os rendimentos somente poderão ser usados para as finalidades específicas descritas nesta Lei.
Art. 38 - O Orçamento e a Contabilidade do Fundo Municipal de Saneamento Básico obedecerão às normas estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as estabelecidas no Orçamento Geral do Município.
1º Os procedimentos contábeis do Fundo serão executados pela Contabilidade Geral do Município.
2º A administração executiva do FMSB será de exclusiva responsabilidade conjunta entre o Secretário Executivo e o Presidente do Conselho Municipal de Saneamento de Iúna.
CAPÍTULO X
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
Art. 39 - Fica instituído o Conselho Municipal de Saneamento Básico, órgão colegiado, consultivo e deliberativo, de nível estratégico superior do Sistema Municipal de Saneamento Básico.
Art. 40 - São atribuições do Conselho Municipal de Saneamento:
I- formular as políticas de saneamento básico, definir estratégias e prioridades, acompanhar e avaliar sua implementação;
II- discutir e aprovar o Plano Municipal de Saneamento;
III- aprovar as diretrizes e normas para a gestão do Fundo Municipal de Saneamento Básico;
IV- deliberar sobre propostas de projetos de lei e programas de saneamento financiados com recursos do Fundo Municipal de Saneamento;
V- definir os critérios para comprovação de interesse público relevante ou da existência de riscos elevados à saúde pública, para aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Saneamento, a título de concessão de subsídios ou a fundo perdido;
VI- monitorar o cumprimento da Política Municipal de Saneamento, especialmente no que diz respeito ao fiel cumprimento de seus princípios e objetivos e a adequada prestação dos serviços e utilização dos recursos;
VII- atuar no sentido da viabilização de recursos destinados aos planos, programas e projetos de saneamento;
VIII- articular-se com outros conselhos existentes no Município e no Estado com vistas à implementação do Plano Municipal de Saneamento;
IX - elaborar e aprovar o seu regimento interno, bem como o Regimento Interno da Conferência Municipal de Saneamento Básico;
X- promover a articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento seja fator determinante.
Art. 41 - O Conselho Municipal de Saneamento será composto pelos seguintes membros nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo:
I- Representantes do Poder Público:
a) um representante da Secretária de Meio Ambiente;
b) um representante da Secretaria de Agricultura;
c) um representante da Secretaria de Infraestrutura;
d) um representante da Secretaria de Saúde;
e) um reprsentante do Gabinete do Prefeito.
II - Representantes das entidades não governamentais:
f) dois representante de associações de moradores/lideranças comunitárias;
g) um representante da associação comercial e industrial de Iúna ;
h) dois representantes de organizações da sociedade civil;
Art. 42 - A estrutura do Conselho Municipal de Saneamento Básico compreenderá o Colegiado e a Secretaria Executiva, cujas atividades e funcionamento serão definidos no seu Regimento Interno.
CAPÍTULO XI
DA PARTICIPAÇÃO POPULAR
Art. 43 - A Participação Popular tem por objetivo valorizar e garantir a participação e o envolvimento da comunidade, de forma organizada, na gestão pública e nas atividades políticas administrativas.
Art. 44 - A garantia da participação dos cidadãos é responsabilidade do governo municipal e tem por objetivos:
I- a socialização do ser humano e a promoção do seu desenvolvimento integral como indivíduo e membro da coletividade;
II- o pleno atendimento das aspirações coletivas no que se refere aos objetivos e procedimentos da gestão pública, influenciando nas decisões e no seu controle;
III- a permanente valorização e aperfeiçoamento do poder público como instrumento a serviço da coletividade;
IV- os cidadãos podem participar das ações definidas nesta política por meio da ouvidoria, da atuação da sociedade civil organizada, petição, participação nas audiências públicas, reuniões do Conselho Municipal de Saneamento Básico e demais formas que vierem a ser criadas e regulamentadas pelo poder executivo.
CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 45 - Faz parte integrante desta Lei, como anexo, o Volume Único do Plano Municipal de
Saneamento Básico de Iúna contendo todos os Relatórios do PMSB, incluindo todos os Programas, Projetos e Ações que deverão ser executados.
Art. 46 - À Prefeitura Municipal compete promover a capacitação sistemática dos funcionários para garantir a aplicação e a eficácia desta Lei e demais normas pertinentes.
1º O processo de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico deverá contar com a participação da população através da realização de uma ou mais audiências públicas.
2º O Plano Municipal de Saneamento Básico deverá ser aprovado pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico e englobar integralmente o território do Município.
Art. 47 - Este plano e sua implementação ficam sujeitos a contínuo acompanhamento através das publicações dos indicadores da qualidade dos serviços, bem como da implementação do PMSB, de acordo com os prazos estabelecidos no plano, da mesma forma, a revisão e adaptação às circunstâncias emergentes será revista em prazo não superior 10 (dez) anos.
Art. 48 - Ao Poder Executivo Municipal compete dar ampla divulgação do PMSB e das demais normas municipais referentes ao saneamento básico.
Art. 49 - Os regulamentos dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas serão propostos pelo ente ou órgão regulador.
Art. 50 - Enquanto não forem editados os regulamentos específicos ficam em uso as atuais normas e procedimentos relativos aos serviços de água e esgotos sanitários, bem como as tarifas e preços públicos em vigor, que poderão ser reajustadas anualmente pelos índices de correção setoriais.
Art. 51 - Fica revogada a Lei Municipal nº 2.603, de 10 de agosto de 2016.
Art. 52 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Iúna, Estado do Espírito Santo, aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (29/05/2025).
ROMÁRIO BATISTA VIEIRA
Prefeito Municipal de Iúna
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
MUNICÍPIO DE IÚNA – ES
EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO PMSB – EMPRESA CONTRATADA LÍDER ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES LTDA
Coordenador Geral
Robson Ricardo Resende
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
CREA/SC 99639-2
Coordenador de Arquitetura
Osmani Vicente Jr.
Arquiteto e Urbanista
CAU A23196-7
Coordenador de Engenharia Civil
Juliano Mauricio da Silva
Engenheiro Civil
CREA/PR 117165-D
Henrique Moraes Krüger
Engenheiro Sanitarista e Ambiental CREA/SC 122794-8
Daniel Ferreira de Castro Furtado
Engenheiro Sanitarista e Ambiental CREA/SC 118987-6
Carmen Cecília Marques Minardi
Economista CORECON/SP 36677
Paulo Guilherme Fuchs
Administrador CRA/SC 21705
Paula Evaristo dos Reis de Barros
Advogada OAB/MG 107.935
Carolina Bavia Ferrucio Bandolin
Assistente Social CRESS/PR 10.952
Rafael Remoto Menezes
Engenheiro Ambiental CREA/SP 5063887557
Pedro Henrique Vicente
Engenheiro Civil CREA/SP 5070395829
Mike Sam James Ferreira
Engenheiro Florestal CREA/MG 142136158-2
Juliano Yamada Rovigati
Geólogo CREA/PR 109.137/D
Robert Caetano da Silva
Engenheiro Sanitarista e Ambiental CREA/BA 052102706-3
Ana Maria Carrascosa do Amaral
Engenheira Ambiental CREA/SP 5063887999
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO................................................................................................................ 27
INTRODUÇÃO....................................................................................................................... 28
1 OBJETIVOS............................................................................................................ 29
2 DIRETRIZES GERAIS ABORDADAS................................................................ 31
3 LEGISLAÇÕES E NORMATIVAS....................................................................... 32
3.1 ÂMBITO FEDERAL................................................................................................ 32
3.2 ÂMBITO ESTADUAL................................................................................................ 34
3.3 ÂMBITO MUNICIPAL............................................................................................. 36
4 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO................................................................. 39
4.1 ASPECTOS REGIONAIS, LOCALIZAÇÃO E ACESSO................................... 39
4.2 HISTÓRICO.............................................................................................................. 45
4.3 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS.................................................................... 47
4.3.1 Densidade Demográfica........................................................................................ 47
4.3.2 Distribuição etária por gênero............................................................................... 49
4.3.3 Índice de Desenvolvimento Humano - IDH......................................................... 50
4.3.4 Educação................................................................................................................. 53
4.3.5 Razão de Dependência, Taxa de Mortalidade e Esperança de Vida............. 58
4.3.6 Economia................................................................................................................. 59
4.3.7 Produto Interno Bruto - PIB................................................................................... 60
4.3.8 Renda....................................................................................................................... 62
4.3.9 Saúde........................................................................................................................ 64
4.3.10 Vulnerabilidade Social............................................................................................ 69
4.3.11 Perfil Industrial ............................................................................................ 71
4.3.12 Infraestrutura, Serviços Públicos, calendário festivo e seus impactos nos Serviços de Saneamento Básico......................................................................... 72
4.4 ASPECTOS AMBIENTAIS..................................................................................... 74
4.4.1 Clima......................................................................................................................... 74
4.4.2 Hidrografia................................................................................................................ 80
4.4.3 Geologia................................................................................................................... 86
4.4.4 Geomorfologia......................................................................................................... 89
4.4.5 Declividade............................................................................................................... 91
4.4.6 Solos......................................................................................................................... 95
4.4.7 Fauna........................................................................................................................ 98
4.4.8 Flora.......................................................................................................................... 98
4.4.9 Áreas protegidas................................................................................................... 105
5 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL..................................................................... 112
5.1 NORMAS DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO............................................. 112
5.2 CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO.................................................................................................................. 118
5.3 MODELO DE GESTÃO........................................................................................ 119
5.4 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA...................................................................... 120
5.5 CANAIS DE INTEGRAÇÃO E ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL.............. 123
5.5.1 Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio aos Municípios (PROESAM)........................................................................................................... 128
5.6 ANÁLISE DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E DO PLANO DIRETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS E FLUVIAIS DO MUNICÍPIO DE IÚNA........................... 129
6 ESTUDO DE PROJEÇÃO POPULACIONAL................................................. 132
7 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA...................................... 138
7.1 DIAGNÓSTICO DO SAA..................................................................................... 138
7.1.1 Caracterização Operacional do SAA................................................................. 138
3.1.1. Panorama da situação atual do SAA................................................................. 140
7.1.1 Sistemas de controle e vigilância da qualidade da água............................... 186
7.1.2 Cobertura do Sistema de Abastecimento......................................................... 197
7.1.3 Abastecimento de Água em Localidades Rurais............................................. 198
7.1.4 Estudo de Demandas e Disponibilidade de Água........................................... 201
7.1.5 Soluções Alternativas de Abastecimento de Água.......................................... 205
7.1.6 Estrutura de Tarifação, Receitas operacionais, despesas de custeio e investimentos......................................................................................................... 207
7.1.7 Análise Crítica....................................................................................................... 211
7.2 PROGNÓSTICO DO SAA................................................................................... 213
7.2.1 Projeção de demanda.......................................................................................... 213
7.2.2 Alternativas técnicas de Engenharia para atendimento da demanda calculada .................................................................................................................................. 216
7.2.3 Ações de Emergência e Contingência para o Sistema de Abastecimento de Água ................................................................................................................................. 217
7.2.4 Objetivos, Metas, Programas, Projetos e Ações para o SAA........................ 223
7.2.5 Análise Econômica............................................................................................... 230
8 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES.............................................. 232
8.1 DIAGNÓSTICO DO SES..................................................................................... 232
8.1.1 Caracterização Operacional do SES................................................................. 232
8.1.2 Panorama da Situação Atual do SES................................................................ 234
8.1.3 Corpos Receptores de Esgoto............................................................................ 259
8.1.4 Cobertura por Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário............................... 262
8.1.5 Existência de lançamento da rede drenagem junto à rede de esgoto......... 262
8.1.6 Áreas de Risco de Contaminação..................................................................... 264
8.1.7 Geração atual de esgoto...................................................................................... 266
8.1.8 Estrutura de Tarifação, Receitas Operacionais, despesas de custeio e investimentos......................................................................................................... 267
8.1.9 Análise Crítica....................................................................................................... 267
8.2 PROGNÓSTICO DO SES................................................................................... 270
8.2.1 Projeção da Vazão Anual de Esgoto................................................................. 271
8.2.2 Projeção do Crescimento da Rede.................................................................... 272
8.2.3 Cargas de Concentração.................................................................................... 273
8.2.4 Comparação de alternativas de Tratamento de Esgoto................................. 277
8.2.5 Definição de alternativas técnicas de Engenharia para o atendimento da demanda calculada.............................................................................................. 279
8.2.6 Ações de Emergência e Contingência para o Sistema de Esgotamento Sanitário................................................................................................................. 294
8.2.7 Objetivos, Metas, Programas, Projetos e Ações para o SAA........................ 299
8.2.8 Análise Econômica............................................................................................... 305
9 SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - SLUMRS.............................................................................................................................. 307
9.1 DIAGNÓSTICO DO SLUMRS............................................................................ 307
9.1.1 Classificação dos resíduos sólidos.................................................................... 308
9.1.2 Caracterização Operacional do SLUMRS........................................................ 314
9.1.3 Principais Indicadores.......................................................................................... 316
9.1.4 Panorama da Situação Atual do SLUMRS....................................................... 320
9.1.5 Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do município de Iúna (ASCOMRI)............................................................................................................ 365
9.1.6 Estação de Transbordo........................................................................................ 367
9.1.7 Tratamento e Destinação final dos Resíduos Sólidos.................................... 369
9.1.8 Identificação dos Geradores Responsáveis pela Elaboração de PGRS..... 375
9.1.9 Identificação de áreas de disposição inadequada de resíduos e áreas contaminadas........................................................................................................ 381
9.1.10 Estrutura de Tarifação, Receitas Operacionais, despesas de custeio e investimentos......................................................................................................... 382
9.1.11 Análise Crítica....................................................................................................... 384
9.2 PROGNÓSTICO DO SLUMRS.......................................................................... 387
9.2.1 Projeção da geração de resíduos com base no estudo populacional......... 388
9.2.2 Procedimentos operacionais e especificações mínimas................................ 391
9.2.3 Contratos e controle dos serviços...................................................................... 449
9.2.4 Destinação final dos resíduos............................................................................. 461
9.2.5 Indicadores de desempenho operacional, ambiental e do grau de satisfação dos usuários.................................................................................................................. 490
9.2.6 Regras para o transporte de resíduos sólidos................................................. 493
9.2.7 Definição das Responsabilidades quanto à sua implementação... e operacionalização................................................................................................. 496
9.2.8 Programas e Ações de Capacitação Técnica voltados para implementação e operacionalização do PMGIRS........................................................................... 501
9.2.9 Programas e Ações para a participação dos grupos interessados.............. 502
9.2.10 Mecanismos para a criação de fontes de negócios utilizando resíduos sólidos .................................................................................................................................. 505
9.2.11 Mecanismos de cobrança e sistemática de cálculo dos custos.................... 507
9.2.12 Medidas de Redução, Reutilização, Coleta Seletiva e Reciclagem............. 516
9.2.13 Educação Ambiental............................................................................................ 521
9.2.14 Descrição das Formas e dos Limites da Participação do Poder Público Local na Gestão dos Resíduos Sólidos............................................................................ 524
9.2.15 Meios a Serem Utilizados para o Controle e a Fiscalização, no Âmbito Local, da Implementação e Operacionalização do PMGIRS e dos Sistemas de Logística Reversa.................................................................................................................. 528
9.2.16 Ações Preventivas e Corretivas a serem praticadas, incluindo Programa de Monitoramento...................................................................................................... 531
9.2.17 Ações de Emergência e Contingência para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos.......................................................................................... 532
9.2.18 Identificação de Passivos Ambientais e/ou Locais com Risco de Contaminação por Resíduos Sólidos.................................................................................................. 537
9.2.19 Objetivos, Metas, Programas, Projetos e Ações para o Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos.................................................................................................. 538
9.2.20 Análise Econômica............................................................................................... 553
10 SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS - SDMAPU.............................................................................................................................. 555
10.1 DIAGNÓSTICO DO SDMAPU............................................................................ 555
1.1.1 Caracterização operacional do SDMAPU......................................................... 555
1.1.2 Áreas de risco a enchentes, inundações e movimentos de massa.............. 565
1.1.1 Erosão..................................................................................................................... 570
10.1.2 Caracterização das Microbacias Urbanas........................................................ 571
10.1.3 Estudos Hidrológicos........................................................................................... 585
10.1.4 Estrutura de Tarifação, Receitas Operacionais, despesas de custeio e investimentos......................................................................................................... 601
10.1.5 Análise Crítica....................................................................................................... 602
10.2 PROGNÓSTICO DO SDMAPU.......................................................................... 604
10.2.1 Medidas Estruturais.............................................................................................. 604
10.2.2 Medidas Não Estruturais..................................................................................... 621
10.2.3 Ações de Emergência e Contingência.............................................................. 631
10.2.4 Objetivos, Metas, Programas, Projetos e Ações para o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais................................................................................... 635
10.2.5 Análise Econômica............................................................................................... 645
11 ANÁLISE GLOBAL DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO EXISTENTES...................................................................................................................... 647
12 IMPACTOS NA SAÚDE, NA CIDADANIA E NOS RECURSOS NATURAIS................................................................................................................................. 649
13 AVALIAÇÃO GLOBAL DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS PARA O SANEAMENTO BÁSICO................................................................................................... 651
14 DIAGNÓSTICO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL............................................... 655
14.1 OFICINAS PARTICIPATIVAS............................................................................. 655
14.2 AUDIÊNCIA PÚBLICA......................................................................................... 661
15 FONTES DE FINANCIAMENTO........................................................................ 664
15.1 RECURSOS ORDINÁRIOS................................................................................ 665
15.2 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS................................................................... 667
15.2.1 Os programas de financiamento reembolsáveis............................................. 668
15.2.2 Programas de financiamento não reembolsáveis........................................... 672
16 INDICADORES DE DESEMPENHO DOS SERVIÇOS E DA IMPLANTAÇÃO DO PMSB 678
16.1 DEFINIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PARA MAXIMIZAÇÃO DA EFICÁCIA DAS AÇÕES E RESULTADOS...................................................... 678
16.1.1 Instrumentos Diretos............................................................................................ 679
16.1.2 Instrumentos Indiretos.......................................................................................... 679
16.2 DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS, BENEFÍCIOS E AFERIÇÃO DE RESULTADOS PELA SOCIEDADE CIVIL.................................................................................................................................. 682
16.3 INDICADORES DE DESEMPENHO................................................................. 684
16.3.1 Grupo de Indicadores........................................................................................... 685
16.4 INDICADORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS......................................... 687
16.4.1 Universalização..................................................................................................... 687
16.4.2 Eficiência................................................................................................................ 701
16.4.3 Sustentabilidade Financeira................................................................................ 709
16.4.4 Qualidade............................................................................................................... 713
16.4.5 Emergência e Contingência................................................................................ 719
16.5 INDICADORES DA SAÚDE................................................................................ 720
16.6 INDICADORES DE INTERSETORIALIDADE.................................................. 722
16.7 INDICADORES DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL..................... 722
16.8 INDICADORES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PMSB........................................ 725
16.9 INDICADORES DE REVISÃO DO PMSB......................................................... 738
16.10 INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO................................... 738
REFERÊNCIAS................................................................................................................... 740
ANEXOS............................................................................................................................... 760
Anexo I – Tabela de tarifas - Grande Vitória e Interior.......................................... 761
Anexo II – Oficinas participativas................................................................................. 765
Anexo III – Audiência Pública........................................................................................ 817
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 – Mapa de localização e acesso do município de Iúna................................... 41
Figura 2 – Distritos existentes no município de Iúna....................................................... 43
Figura 3 – Comunidades Rurais de Iúna.......................................................................... 44
Figura 4 – Pirâmide etária do município de Iúna............................................................. 50
Figura 5 – Posição do IDH do município no estado do Espírito Santo........................ 52
Figura 6 – Brasil de acordo com a Classificação de Köppen-Geiger........................... 76
Figura 7 – Classificação climática do município de Iúna................................................ 78
Figura 8 – Hidrografia do município de Iúna..................................................................... 81
Figura 9 – Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim.............................................................. 83
Figura 10 – Bacia Hidrográfica do Rio Manhuaçu........................................................... 85
Figura 11 – Mapa geológico do município de Iúna.......................................................... 88
Figura 12 – Mapa geomorfológico do município de Iúna............................................... 90
Figura 13 – Mapa de declividade do município de Iúna................................................. 93
Figura 14 – Mapa hipsométrico do município de Iúna.................................................... 94
Figura 15 – Mapa de solos do município de Iúna............................................................ 97
Figura 16 – Mapa de cobertura vegetal do município de Iúna.................................... 101
Figura 17 – Mapa de Uso e Cobertura do município de Iúna (2007-2008)............... 103
Figura 18 – Mapa de Uso e Cobertura do município de Iúna (2012-2015)............... 104
Figura 19 – Unidades de Conservação no município................................................... 107
Figura 20 – Áreas prioritárias para conservação........................................................... 109
Figura 21 – Áreas de corredor ecológico........................................................................ 111
Figura 22 – Processo Sancionador da ARSP................................................................ 117
Figura 23 – Organograma da prefeitura municipal de Iúna: secretarias ligadas ao saneamento......................................................................................................................... 120
Figura 24 – Hidrômetros em Pequiá................................................................................ 140
Figura 25 – Instalação de hidrômetros em Nossa Senhora das Graças.................... 140
Figura 26 – Estrutura espacial do SAA em Iúna – captação e distribuição.............. 149
Figura 27 – Captação de água Bruta no Rio Pardo...................................................... 150
Figura 28 – Captação no distrito de Serrinha................................................................ 151
Figura 29 – Captação por Poço tubular profundo em Pequiá..................................... 152
Figura 30 – Captação no Ribeirão da Perdição, no distrito de Nossa Senhora das Graças................................................................................................................................... 153
Figura 31 – Captação em manancial de superfície, em Nossa Senhora das Graças................................................................................................................................................ 154
Figura 32 – Barragem efetuada em época de seca...................................................... 154
Figura 33 – Captação no Ribeirão Trindade................................................................... 155
Figura 34 – Captação em São João do Príncipe........................................................... 155
Figura 35 – Procedimentos utilizados nos sistemas de abastecimento público....... 156
Figura 36 – Reservatórios da Sede de Iúna - ETA........................................................ 158
Figura 37 – Reservatórios de Pequiá - ETA................................................................... 159
Figura 38 – Reservatórios de Nossa Senhora das Graças - ETA............................... 159
Figura 39 – Reservatórios de distribuição de água tratada em Nossa Senhora das Graças................................................................................................................................... 160
Figura 40 – Reservatório de Santíssima Trindade - ETA............................................. 160
Figura 41 – Reservatório de São João do Príncipe - ETA........................................... 161
Figura 42 – Reservatório de Rio Claro............................................................................ 162
Figura 43 – Booster do Quilombo - Iúna......................................................................... 163
Figura 44 – Booster da APAE - Iúna............................................................................... 163
Figura 45 – Booster Cidade Nova – Iúna........................................................................ 164
Figura 46 – Chegada da água bruta e Calha Parshall, na ETA – Sede.................... 165
Figura 47 – Saturador de cal hidratada e chicanas na ETA – Sede........................... 166
Figura 48 – Floculador na ETA – Sede........................................................................... 166
Figura 49 – Decantador na ETA – Sede......................................................................... 166
Figura 50 – Filtros na ETA – Sede................................................................................... 167
Figura 51 – Casa de química da ETA da sede de Iúna................................................ 167
Figura 52 – Armazenamento de sulfato de alumínio e cloro........................................ 168
Figura 53 – Sala de Clorogás........................................................................................... 168
Figura 54 – Laboratório da ETA – Sede de Iúna........................................................... 169
Figura 55 – Medidor de nível do curso d´água hidráulico, ETA de Iúna.................... 170
Figura 56 – Pluviômetro manual e automático (CEMADEN) na ETA de Iúna.......... 170
Figura 57 – Medidores de vazão de água bruta na ETA da Sede de Iúna em tempo real................................................................................................................................................ 171
Figura 58 – Medidores eletromagnético da adutora de água bruta de Serrinha...... 171
Figura 59 – Registro fotográfico da ETA de Pequiá...................................................... 172
Figura 60 – Registro fotográfico da ETA de Nossa Senhora das Graças.................. 175
Figura 61 – Registro fotográfico da ETA de Santíssima Trindade.............................. 177
Figura 62 – Registro fotográfico da ETA de São João do Príncipe............................ 180
Figura 63 – Visita de alunos de escola municipal e de professores do Instituto Federal do ES (IFES) à ETA de Nossa Senhora das Graças.......................................................... 200
Figura 64 – Participação da Associação de Gestão Comunitária de Tratamento e Abastecimento de Água da Comunidade Nossa Senhora das Graças em evento nacional sobre saneamento rural..................................................................................................... 200
Figura 65 – Classificação do acesso ao Serviço de Esgotamento Sanitário. 233
Figura 66 – Bacias de esgotamento sanitário em Iúna – Sede................................... 238
Figura 67 – EEEB – A........................................................................................................ 240
Figura 68 – EEEB – B........................................................................................................ 241
Figura 69 – EEEB – B1...................................................................................................... 241
Figura 70 – Local das EEEB na sede de Iúna............................................................... 242
Figura 71 – Localização da ETE de Iúna........................................................................ 244
Figura 72 – Estação de Tratamento de Esgoto de Iúna – Sede................................. 246
Figura 73 – Caixa de gordura da ETE de Iúna – Sede................................................. 247
Figura 74 – Reator UASB.................................................................................................. 247
Figura 75 – Leitos de secagem do lodo.......................................................................... 248
Figura 76 – Equipamentos de análise da água bruta e tratada, na ETE................... 248
Figura 77 – Fossa Filtro inativa em Pequiá.................................................................... 250
Figura 78 – Sistema Individual de Tratamento – Fossas Sépticas............................. 253
Figura 79 – Sistema de tratamento individual – Valas de Infiltração......................... 254
Figura 80 – Sistema individual de tratamento – Sumidouro........................................ 256
Figura 81 – Estação Compacta de Tratamento de Esgotos Sanitários..................... 257
Figura 82 – Local de emissão de efluente tratado na ETE da sede de Iúna – Rio Pardo................................................................................................................................................ 261
Figura 83 – Ponto onde rede de drenagem está conectada à rede de esgoto – Rua Francisco Augusto de Castro, bairro Quilombo, Iúna................................................... 263
Figura 84 – PV de Rede Reaproveitada localizada na Rua São Cristóvão, bairro Quilombo.............................................................................................................................. 264
Figura 85 – Exemplo de sistema e convencional.......................................................... 278
Figura 86 – Exemplo de sistema descentralizado......................................................... 278
Figura 87 – Exemplo de sistema de saneamento centralizado................................... 279
Figura 88 – Sistema Individual de Tratamento de – Fossas Sépticas....................... 281
Figura 89 – Sistema de tratamento individual – Valas de Infiltração......................... 282
Figura 90 – Sistema individual de tratamento – Sumidouro........................................ 283
Figura 91 – Estação Compacta de Tratamento de Esgotos Sanitários..................... 284
Figura 92 – Esquema da fossa séptica biodigestora.................................................... 287
Figura 93 – Exemplo de instalação da fossa biodigestor............................................. 287
Figura 94 – Esquema de zona de raízes ou SAC......................................................... 289
Figura 95 – Exemplos de zonas de raízes e mecanismos de controle de PVC....... 290
Figura 96 – Esquema de círculo de bananeira.............................................................. 291
Figura 97 – Exemplo de círculo de bananeira............................................................... 292
Figura 98 – Esquema de BET........................................................................................... 293
Figura 99 – Exemplo de BET ou fossa verde................................................................. 294
Figura 100 – Organograma do manejo da limpeza pública de Iúna........................... 315
Figura 101 – Fluxograma de gerenciamento de resíduos sólidos em Iúna, por tipologia................................................................................................................................................ 316
Figura 102 – Lixeiras instaladas em Iúna, para resíduos domésticos........................ 327
Figura 103 – Contêiner para depósito de resíduos de maior volume........................ 328
Figura 104 – Ponto de Entrega Voluntária (PEV) no município de Iúna................... 329
Figura 105 – Latões de lixo comprados pela Associação de Gestão Comunitária de Água da Comunidade Nossa Senhora das Graças................................................................. 329
Figura 106 – Frequência de coleta de resíduos na sede e nos distritos.................... 331
Figura 107 – Veículos utilizados para a coleta de resíduos no município................. 332
Figura 108 – Composição dos resíduos domiciliares no Brasil................................... 339
Figura 109 – Armazenamento de RSS na Santa Casa de Iúna – Sede.................... 346
Figura 110 – Armazenamento de RSS na Unidade de Saúde “Edelicia de Oliveira” – Sede................................................................................................................................................ 346
Figura 111 – Armazenamento de RSS na UBS Nossa Senhora das Graças........... 347
Figura 112 – Armazenamento de RSS na UBS “Antônio Lamy de Miranda”, em Pequiá................................................................................................................................................ 347
Figura 113 – Armazenamento de RSS na UBS “Jota Horth”, em São João do Príncipe................................................................................................................................................ 348
Figura 114 – Caminhão realizando coleta de RSS na Santa Casa de Iúna............. 349
Figura 115 – Armazenamento do lodo de ETE.............................................................. 351
Figura 116 – Resíduos com logística reversa obrigatória............................................ 352
Figura 117 – Fluxo simplificado de resíduos nos sistemas de logística reversa...... 353
Figura 118 – Ciclo da logística reversa dos eletroeletrônicos e seus componentes................................................................................................................................................ 355
Figura 119 – Ciclo da logística reversa de pilhas e baterias........................................ 355
Figura 120 – Cartaz de divulgação de campanha de coleta de eletrônicos............. 356
Figura 121 – Número de lâmpadas coletadas e destinadas corretamente em 2019................................................................................................................................................ 357
Figura 122 – Ciclo da logística reversa de lâmpadas inservíveis............................... 358
Figura 123 – Ciclo da logística reversa de pneus inservíveis..................................... 360
Figura 124 – Ciclo da logística reversa das embalagens de agrotóxico.................... 361
Figura 125 – Ciclo da logística reversa de óleos lubrificantes.................................... 363
Figura 126 – Galpão da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do Município de Iúna (ASCOMRI).......................................................................................... 365
Figura 127 – Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos de Iúna.......... 368
Figura 128 – Exemplo de lixão......................................................................................... 370
Figura 129 – Exemplo de aterro controlado................................................................... 371
Figura 130 – Exemplo de aterro sanitário....................................................................... 371
Figura 131 – Local do Aterro Sanitário de Cachoeiro de Itapemirim/ES.................... 373
Figura 132 – Pilhas existentes no aterro de Cachoeiro de Itapemirim/ES................ 374
Figura 133 – Registros fotográficos do aterro sanitário de Cachoeiro de Itapemirim/ES................................................................................................................................................ 375
Figura 134 – Local de antigo lixão desativado no Bairro Guanabara........................ 381
Figura 135 – Exemplos de recipientes para o acondicionamento temporário de resíduos sólidos domiciliares e comerciais..................................................................... 396
Figura 136 – Equipamento utilizado para varrição mecânica...................................... 398
Figura 137 – Equipamentos de proteção individual obrigatório para a coleta convencional de resíduos sólidos.................................................................................... 407
Figura 138 – Fluxograma das etapas mínimas do dimensionamento da coleta convencional........................................................................................................................ 409
Figura 139 – Exemplo de recipientes para a coleta seletiva....................................... 417
Figura 140 – Exemplo de local de entrega voluntária de resíduos recicláveis - LEVs................................................................................................................................................ 422
Figura 141 – Funcionamento do CTR.............................................................................. 424
Figura 142 – Identificação de RSS exigida pela ANVISA............................................ 431
Figura 143 – Exemplos de coletores para transporte interno de RSS....................... 432
Figura 144 – Exemplos de veículos utilizados na coleta externa de RSS................. 432
Figura 145 – Usina fixa de RCC....................................................................................... 438
Figura 146 – Usina móvel de RCC.................................................................................. 439
Figura 147 – Modelo de Ponto de Entrega Voluntária ou Ecoponto para recebimento de resíduos da construção civil e resíduos volumosos...................................................... 443
Figura 148 – Modelo de Controle de Transporte de Resíduos – CTR....................... 454
Figura 149 – Modelo de Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC para grandes geradores..................................................................................... 459
Figura 150 – Bombonas para o acondicionamento de resíduos orgânicos.............. 466
Figura 151 – Compostagem aeróbia de resíduos orgânicos em leiras. Compostagem mecânica de dejetos suínos.............................................................................................. 467
Figura 152 – Leiras de compostagem natural de resíduos de feira........................... 468
Figura 153 – Reator de compostagem acelerada......................................................... 469
Figura 154 – Pilha de compostagem................................................................................ 471
Figura 155 – Exemplo de composteira (compostagem em recipientes fechados).. 472
Figura 156 – Minhocário de compostagem..................................................................... 473
Figura 157 – Canteiro de compostagem do Método Lages......................................... 474
Figura 158 – Método Super R de compostagem........................................................... 475
Figura 159 – Leiras de compostagem em quintal 2x2.................................................. 476
Figura 160 – Composteira comunitária........................................................................... 479
Figura 161 – Número de Plantas de biogás por estados, em 2021............................ 483
Figura 162 – Veículo utilizado para o transporte de lodo de ETE e ETA................... 495
Figura 163 – Gestão pública para o manejo de resíduos sólidos urbanos............... 525
Figura 164 – Gestão pública associada para o manejo de resíduos sólidos urbanos................................................................................................................................................ 526
Figura 165 – Gestão público-privada para o manejo de resíduos sólidos urbanos. 526 Figura 166 – Ilustração de alguns dos possíveis riscos associados aos resíduos sólidos 537
Figura 167 – Bocas de lobo existentes no município;.................................................. 562
Figura 168 – Ponte sobre o Rio Pardo, na sede de Iúna............................................. 563
Figura 169 – Ocupação das margens do Rio Pardo em Iúna – Sede........................ 564
Figura 170 – Estragos causados pela chuva em 24 de janeiro de 2020................... 567
Figura 171 – Áreas de risco a deslizamentos, enchentes e inundações - Sede Iúna................................................................................................................................................ 568
Figura 172 – Áreas de risco a deslizamentos, enchentes e inundações, no distrito de Pequiá................................................................................................................................... 569
Figura 173 – Situação de moradias com construção sem planejamento, próximo a encostas e taludes de corte............................................................................................... 571
Figura 174 – Divisão de bacias hidrográficas nível 5 de Iúna..................................... 573
Figura 175 – Microbacia Urbana de Iúna - Sede........................................................... 575
Figura 176 – Microbacia urbana de Nossa Senhora das Graças................................ 576
Figura 177 – Microbacia urbana de Santíssima Trindade............................................ 577
Figura 178 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo da Microbacia do Rio Pardo - Sede................................................................................................................................................ 590
Figura 179 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo da Microbacia do Ribeirão da Perdição – Nossa Sra. Das Graças...................................................................................................... 591
Figura 180 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo da Microbacia do Ribeirão Trindade – Santíssima Trindade........................................................................................................... 592
Figura 181 – Determinação da largura média da bacia................................................ 598
Figura 182 – Desenho esquemático do processo de assoreamento......................... 606
Figura 183 – Exemplo de reservatório subterrâneo com recreação na parte superior................................................................................................................................................ 607
Figura 184 – Demonstração de Faixas das APPs de acordo com Código Florestal................................................................................................................................................ 608
Figura 185 – Exemplo de Corredores Verdes................................................................ 610
Figura 186 – Seção típica de valas biorretenção.......................................................... 612
Figura 187 – Exemplo de biovaleta.................................................................................. 612
Figura 188 – Exemplo de biótopos................................................................................... 613
Figura 189 – Exemplo de caixa de expansão................................................................ 614
Figura 190 – Exemplos de diques.................................................................................... 615
Figura 191 – Exemplo de pôlder....................................................................................... 616
Figura 192 – Exemplos de controles na fonte................................................................ 620
Figura 193 – Exemplos de reservatórios para água da chuva em imóveis residenciais................................................................................................................................................ 621
Figura 194 – Exemplo de Estação Pluviométrica Automática..................................... 630
Figura 195 – Imagem usada para divulgação da primeira oficina participativa........ 656
Figura 196 – Imagem usada para divulgação da segunda oficina participativa....... 657
Figura 197 – Registro fotográfico a 1ª oficina participativa, feita no dia 7 de agosto de 2024....................................................................................................................................... 659
Figura 198 – Registro fotográfico a 2ª oficina participativa, feita no dia 26 de agosto de 2024....................................................................................................................................... 660
Figura 199 – Convite da Audiência Pública.................................................................... 662
Figura 200 – Registro Fotográfico da Audiência Pública............................................. 662
Figura 201 – Gerenciamento pelo Ciclo PDCA............................................................. 684
LISTA DE QUADROS
Quadro 1 – Legislação pertinente ao PMSB de Iúna no âmbito federal...................... 33
Quadro 2 – Legislação pertinente ao PMSB de Iúna no âmbito estadual.................. 35
Quadro 3 – Legislação pertinente ao PMSB de Iúna no âmbito municipal................. 37
Quadro 4 – Relação de distritos e comunidades pertencentes ao município de Iúna, ES................................................................................................................................................... 42
Quadro 5 – Unidades Básicas de Saúde do município de Iúna.................................... 64
Quadro 6 – Tipos climáticos segundo classificação de Köppen–Geiger..................... 75
Quadro 7 – Classes de declividade com indicações gerais da adequabilidade e restrições para o planejamento........................................................................................... 91
Quadro 8 – Organização institucional do Serviço de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Iúna................................................................................................................... 118
Quadro 9 – Modelo de Gestão do saneamento básico em Iúna................................ 119
Quadro 10 – Situação das Outorgas de captação de água superficial em Iúna...... 146
Quadro 11 – ETAS em operação..................................................................................... 157
Quadro 12 – Áreas objeto de fiscalização...................................................................... 187
Quadro 13 – Métodos de análise da qualidade da água.............................................. 192
Quadro 14 – Ações para emergências e contingências referentes ao abastecimento emergencial/temporário de água...................................................................................... 218
Quadro 15 – Ações para emergências e contingências referentes ao abastecimento emergencial/temporário de água...................................................................................... 220
Quadro 16 – Ações para emergências e contingências referentes ao abastecimento emergencial/temporário de água...................................................................................... 222
Quadro 17 – Estações Elevatórias de esgoto bruto (EEEB) na sede – Iúna............ 240
Quadro 18 – Componentes da ETE................................................................................. 245
Quadro 19 – Ações de emergência e contingência para o extravasamento de esgoto em estações elevatórias........................................................................................................... 295
Quadro 20 – Ações de emergência e contingência para o rompimento de linhas de recalque, coletores, interceptores e emissários............................................................. 296
Quadro 21 – Ações de emergência e contingência para ocorrências de retorno de esgoto em imóveis.............................................................................................................. 297
Quadro 22 – Ações de emergência e contingência para vazamentos e contaminação de solo, curso hídrico ou lençol freático por fossas............................................................ 298
Quadro 23 – Definições acerca das diferentes tipologias de resíduos sólidos envolvidos no diagnóstico................................................................................................. 310
Quadro 24 – Veículos utilizados na coleta convencional de resíduos....................... 332
Quadro 25 – Definição e tipos de serviços que caracterizam a limpeza pública..... 336
Quadro 26 – Síntese sobre a gestão dos resíduos de responsabilidade dos geradores................................................................................................................................................ 364
Quadro 27 – Coordenadas (UTM) do galpão da ASCOMRI em Iúna........................ 365
Quadro 28 – Geradores sujeitos ao plano de gerenciamento de resíduos sólidos........................ 377
Quadro 29 – Áreas degradadas por disposição inadequada de resíduos em Iúna. 381 Quadro 30 – Treinamentos para os colaboradores do serviço de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos............................................................................................................. 404
Quadro 31 – Equipamento de segurança mínimo......................................................... 407
Quadro 32 – Vantagens e desvantagens da coleta convencional noturna de resíduos sólidos................................................................................................................................... 410
Quadro 33 – Recomendações para a coleta convencional de resíduos sólidos ....................... 411
Quadro 34 – Cores de identificação de resíduos sólidos conforme a Resolução CONAMA nº 275/2001.......................................................................................................................... 416
Quadro 35 – Formas de segregação de resíduos sólidos........................................... 418
Quadro 36 – Vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de execução da coleta seletiva.................................................................................................................................. 421
Quadro 37 – Características físicas de um Ponto de Entrega Voluntaria ou Ecoponto................................................................................................................................................ 442
Quadro 38 – Tipos de controles necessários sobre os fluxos de resíduos da construção civil e resíduos volumosos........................................................................................................ 456
Quadro 39 – Vantagens e desvantagens da reciclagem.............................................. 463
Quadro 40 – Vantagens e desvantagens do processo de compostagem................. 469
Quadro 41 – Vantagens e desvantagens da recuperação energética utilizando gases de aterro..................................................................................................................................... 484
Quadro 42 – Vantagens e Desvantagens da Incineração........................................... 485
Quadro 43 – Boas Práticas de Combustão.................................................................... 486
Quadro 44 – Parâmetros de avaliação para a aplicação dos indicadores socioambientais e culturais............................................................................................... 492
Quadro 45 – Indicadores Socioambientais e Culturais................................................. 492
Quadro 46 – Responsabilidades dos gestores públicos e privados quanto ao manejo das diferentes tipologias de resíduos...................................................................................... 497
Quadro 47 – Principais estruturas e equipamentos que constam no sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.............................................................................. 511
Quadro 48 – Ações de emergências e contingências – Resíduos Sólidos............... 534
Quadro 49 – Descrição dos setores de risco mapeados em Iúna.............................. 565
Quadro 50 – Parâmetros da equação de chuva de Iúna............................................. 595
Quadro 51 – Ações para emergências e contingências referentes a ocorrência de alagamentos, inundações e enchentes........................................................................... 632
Quadro 52 – Ações para emergências e contingências referentes a alternativas para resolução dos problemas com processos erosivos....................................................... 633
Quadro 53 – Ações para emergências e contingências referentes a alternativas para resolução dos problemas................................................................................................... 634
Quadro 54 – Quadro resumo do diagnóstico da situação do saneamento básico em Iúna................................................................................................................................................ 648
Quadro 55 – Resultados levantados durante participação social............................... 658
Quadro 56 - Grupos e subgrupos de avaliação dos indicadores................................ 686
Quadro 57 – Indicadores da universalização do abastecimento de água................. 688
Quadro 58 – Indicadores da universalização do esgotamento sanitário................... 691
Quadro 59 – Indicadores da universalização dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.................................................................................................................. 694
Quadro 60 – Indicadores da universalização da drenagem urbana e manejo das águas pluviais.................................................................................................................................. 698
Quadro 61 – Indicadores de eficiência do abastecimento de água............................ 702
Quadro 62 – Indicadores de eficiência do esgotamento sanitário.............................. 704
Quadro 63 – Indicadores de eficiência dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.................................................................................................................. 705
Quadro 64 – Indicadores de eficiência da drenagem urbana e manejo das águas pluviais.................................................................................................................................. 708
Quadro 65 – Indicadores da sustentabilidade financeira do abastecimento de água e esgotamento sanitário........................................................................................................ 710
Quadro 66 – Indicadores da sustentabilidade financeira de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.................................................................................................................. 711
Quadro 67 – Indicadores da qualidade do abastecimento de água........................... 714
Quadro 68 – Indicadores da qualidade do esgotamento sanitário............................. 715
Quadro 69 – Indicadores da qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos................................................................................................................................... 716
Quadro 70 – Indicadores da qualidade da drenagem e manejo das águas pluviais................................................................................................................................................ 717
Quadro 71 – Indicadores da saúde.................................................................................. 721
Quadro 72 – Indicadores de implementação do PMSB de abastecimento de água................................................................................................................................................ 726
Quadro 73 – Indicadores de implementação do PMSB do esgotamento sanitário........................ 729
Quadro 74 – Indicadores de implementação do PMSB de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.................................................................................................................. 732
Quadro 75 – Indicadores de implementação do PMSB de drenagem e manejo de águas pluviais...................................................................................................................... 735
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 – População urbano-rural por distrito, 2000 e 2010........................................ 48
Tabela 2 – Média de moradores em domicílios particulares ocupados....................... 48
Tabela 3 – Série histórica do IDH....................................................................................... 51
Tabela 4 – IDH nos componentes nos censos de 2000 e 2010 para o Município de Iúna.................................................................................................................................................. 52
Tabela 5 – Estrutura Etária da População de Iúna, de 2000 e 2010............................ 58
Tabela 6 – Taxa de Mortalidade Infantil e Esperança de Vida ao Nascer em Iúna... 59
Tabela 7 – Economia nos setores municipais.................................................................. 59
Tabela 8 – Evolução do PIB per capita de 2010 a 2021................................................. 61
Tabela 9 – Classificação pela renda domiciliar per capita em Iúna.............................. 63
Tabela 10 – Classificação com base no CadÚnico do Governo Federal no Município.................................................................................................................................................. 63
Tabela 11 – Estabelecimentos de saúde no município de Iúna.................................... 65
Tabela 12 – Quantitativo de leitos existentes em Iúna................................................... 66
Tabela 13 – Famílias e Indivíduos cadastrados por Unidade........................................ 67
Tabela 14 – Notificações de doenças ligadas a falta ou precariedade de saneamento básico no município de Iúna................................................................................................ 68
Tabela 15 – Indicadores de Vulnerabilidade Social em Iúna......................................... 70
Tabela 16 – Dados de saneamento do município de Iúna............................................. 73
Tabela 17 – Médias mensais de precipitação e temperatura de Iúna.......................... 79
Tabela 18 – Área correspondente a cada classe de uso e cobertura em 2007/2008 e 2012/2015 do município de Iúna...................................................................................... 105
Tabela 19 – População urbana do Município de Iúna.................................................. 132
Tabela 20 – Projeção da população urbana do município até o ano 2044............... 136
Tabela 21 – Sistema de indicadores do SNIS utilizados na avaliação dos serviços do SAA................................................................................................................................................. 141
Tabela 22 – Declaração de uso de água subterrânea em Iúna.................................. 148
Tabela 23 – Caracterização do sistema de água bruta de Iúna – Sede.................... 151
Tabela 24 – Indicadores utilizados para análise de qualidade dos serviços do SAA................................................................................................................................................ 181
Tabela 25 – Comparação dos índices de perdas municipal, estadual e federal...... 184
Tabela 26 – Qualidade da água bruta em 2023, em Iúna............................................ 188
Tabela 27 – Apresentação quantitativa das análises exigidas pela Portaria nº 05/2017 – MS.......................................................................................................................................... 190
Tabela 28 – Padrão microbiológico de potabilidade da água...................................... 191
Tabela 29 – Amostragem mensal para Controle de Qualidade da Água em Iúna, ES................................................................................................................................................ 191
Tabela 30 – Parâmetros básicos de aceitação para o consumo humano................ 194
Tabela 31 – Quantidade de economias ativas e ligações do SAA............................. 197
Tabela 32 – Quantidade de economias ativas e ligações - Nossa Senhora das Graças................................................................................................................................................ 198
Tabela 33 – Histórico de volume da ETA de Iúna, sede.............................................. 202
Tabela 34 – Histórico de volume da ETA de Pequiá.................................................... 202
Tabela 35 – Histograma de consumo mensal – ETA Nossa Senhora das Graças............................................ 205
Tabela 36 – Indicadores do Sistema de Abastecimento de Água (SAA)................... 208
Tabela 37 – Comparativo de valores praticados............................................................ 210
Tabela 38 – Projeção das vazões necessárias para atender à demanda de água tratada................................................................................................................................... 215
Tabela 39 – Síntese do objetivo 1.................................................................................... 224
Tabela 40 – Síntese do objetivo 2.................................................................................... 226
Tabela 41 – Síntese do objetivo 3.................................................................................... 228
Tabela 42 – Síntese dos totais dos valores estimados para o SAA........................... 231
Tabela 43 – Sistema de indicadores do SNIS utilizados na avaliação dos serviços do SES................................................................................................................................................. 234
Tabela 44 – Valores máximos de lançamento de efluentes........................................ 237
Tabela 45 – Extensão (m), diâmetro e material das redes coletoras por bacia........ 239
Tabela 46– Dimensionamento de sumidouro................................................................ 255
Tabela 47 – Geração atual de esgotos domésticos...................................................... 267
Tabela 48 – Projeção da geração de esgoto doméstico em Iúna............................... 272
Tabela 49 – Projeção de crescimento da rede coletora de esgoto sanitário............ 273
Tabela 50 – Valores de cargas orgânicas de DBO....................................................... 275
Tabela 51 – Valores de Coliformes Termotolerantes.................................................... 276
Tabela 52 – Síntese do objetivo 1.................................................................................... 300
Tabela 53 – Síntese do objetivo 2.................................................................................... 301
Tabela 54 – Síntese do objetivo 3.................................................................................... 303
Tabela 55 – Síntese dos totais dos valores estimados para o SES........................... 306
Tabela 56 – Breve descritivo dos principais indicadores do SNIS relacionados com a gestão de resíduos sólidos................................................................................................ 318
Tabela 57 – Geração de resíduos sólidos urbanos per capita e total coletado nas diferentes regiões do país em 2022................................................................................. 323
Tabela 58 – Série histórica da população atendida e quantidade de resíduos coletados (RDO+RPU), em Iúna........................................................................................................ 324
Tabela 59 – Composição média dos resíduos sólidos nos continentes, em porcentagem........................................................................................................................ 325
Tabela 60 – Relação de material coletado pela ASCOMRI - mensal, em 2023....... 333
Tabela 61 – Quantidade de material coletado por ano, por meio de coleta seletiva, em Iúna................................................................................................................................................ 335
Tabela 62 – Disposição final de Resíduos Sólidos no Brasil....................................... 372
Tabela 63 – Projeção da produção de lixo e percentuais de atendimento pelo sistema de limpeza pública no Município de Iúna............................................................................. 388
Tabela 64 – Estimava da geração dos resíduos orgânicos, recicláveis e aterráveis................................................................................................................................................ 389
Tabela 65 – Custos de instalação e operação de usina de compostagem (R$/tonelada)....................................................................................................................... 477
Tabela 66 - Destino dos RSU em diferentes países..................................................... 485
Tabela 67 – Custos de instalação e operação de unidades de tratamento térmico com recuperação de energia..................................................................................................... 489
Tabela 68 – Síntese do objetivo 1.................................................................................... 539
Tabela 69 – Síntese do objetivo 2.................................................................................... 541
Tabela 70 – Síntese do objetivo 3.................................................................................... 543
Tabela 71 – Síntese do objetivo 4.................................................................................... 545
Tabela 72 – Síntese do objetivo 5.................................................................................... 547
Tabela 73 – Síntese do objetivo 6.................................................................................... 548
Tabela 74 – Síntese do objetivo 7.................................................................................... 550
Tabela 75 – Síntese do objetivo 8.................................................................................... 552
Tabela 76 - Síntese dos totais dos valores estimados para o SLUMRS................... 554
Tabela 77 – Série histórica (2017 – 2022) dos indicadores de drenagem de Iúna. 559
Tabela 78 – Microbacias urbanas da Sede e Distritos de Iúna................................... 578
Tabela 79 – Hierarquia Fluvial das microbacias............................................................. 582
Tabela 80 – Dados extraídos das microbacias............................................................... 583
Tabela 81 – Valores de Coeficiente de run off............................................................... 587
Tabela 82 – Variação Coeficiente de run off................................................................... 587
Tabela 83 – Classes de uso do solo utilizadas por microbacia................................... 589
Tabela 84 – Série de dados estação de Iúna – valor máximo por ano hidrológico (mm)................................................................................................................................................ 593
Tabela 85 – Intensidade da chuva para diferentes Tempo de Retorno.................... 595
Tabela 86 – Valores do coeficiente de escoamento superficial direto....................... 599
Tabela 87 – Coeficientes de deflúvio das microbacias urbanas.................................. 599
Tabela 88 – Vazão de projeto pelo método I-PAI-WU, Iúna/ES.................................. 601
Tabela 89 – Síntese do objetivo 1.................................................................................... 636
Tabela 90 – Síntese do objetivo 2.................................................................................... 637
Tabela 91 – Síntese do objetivo 3.................................................................................... 639
Tabela 92 – Síntese do objetivo 4.................................................................................... 641
Tabela 93 – Síntese do objetivo 5.................................................................................... 643
Tabela 94 – Síntese dos totais dos valores estimados para o SDMAP..................... 646
Tabela 95 – Análise total dos investimentos previstos para o PMSB......................... 652
LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1 – Fluxo escolar por faixa etária no município - Iúna/ES - 2000 e 2010....... 54
Gráfico 2 – Fluxo escolar por faixa etária no município - Iúna/ES e no Espírito Santo – 2010......................................................................................................................................... 55
Gráfico 3 – Expectativa de anos de estudo em Iúna e no Espírito Santo.................... 56
Gráfico 4 – Percentual da população de 18 anos ou mais com o ensino fundamental completo.................................................................................................................................. 57
Gráfico 5 – Escolaridade da população de 25 anos ou mais de idade no município - Iúna/ES – 2010...................................................................................................................... 57
Gráfico 6 – Gráfico de evolução do PIB per capita (R$ x1000) de Iúna, de 2010 a 2021.................................................................................................................................................. 62
Gráfico 7 – Médias mensais de temperatura e precipitação em Iúna.......................... 80
Gráfico 8 – Evolução da população do Município de Iúna........................................... 133
Gráfico 9 – Taxa de Crescimento da população........................................................... 133
Gráfico 10 – Análise comparativa entre o crescimento populacional pelo IBGE e a Curva Linear – População Urbana e Rural..................................................................... 134
Gráfico 11 – Análise comparativa entre o crescimento populacional pelo IBGE e a Curva Potencial – População Urbana e Rural............................................................... 134
Gráfico 12 – Análise comparativa entre o crescimento populacional pelo IBGE e a Curva Exponencial – População Urbana e Rural.......................................................... 135
Gráfico 13 – Análise comparativa entre o crescimento populacional pelo IBGE e a Curva Logarítmica – População Urbana e Rural........................................................... 135
Gráfico 14 – Análise comparativa entre o crescimento populacional pelo IBGE e a Curva Polinomial – População Urbana e Rural............................................................. 135
Gráfico 15 – Volume aduzido x volume produzido na ETA de Iúna, sede................ 203
Gráfico 16 – Volume aduzido x volume produzido na ETA de Pequiá...................... 204
Gráfico 17 – Despesas estimadas por prazo de execução para o SAA.................... 230
Gráfico 18 – Despesas estimadas por prazo de execução para o SES.................... 305
Gráfico 19 – Panorama da Geração e Coleta de Resíduos domiciliares e de limpeza urbana................................................................................................................................... 324
Gráfico 20 – Composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos no Brasil...... 326
Gráfico 21 – Materiais presentes nos resíduos da construção civil............................ 341
Gráfico 22 – Projeção de 20 anos da geração de resíduos recicláveis, compostáveis e aterráveis.............................................................................................................................. 390
Gráfico 23 – Crescimento do número de novas plantas de biogás no Brasil na última década.................................................................................................................................. 481
Gráfico 24 – Despesas estimadas por prazo de execução para o SLUMRS........... 553
Gráfico 25 – Coeficiente de distribuição espacial da chuva (K).................................. 600
Gráfico 26 – Vazão de projeto pelo método I-PAI-WU – Iúna/ES.............................. 601
Gráfico 27 – Despesas estimadas por prazo de execução para o SDMAP.............. 645
Gráfico 28 – Distribuição dos investimentos previstos para cada meta de planejamento....................................................................................................................... 653
Gráfico 29 – Distribuição porcentual de investimentos para cada setor do PMSB 654
Gráfico 30 – Ocupação dos participantes das oficinas 658
APRESENTAÇÃO
Este documento integra o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Iúna, situado no estado do Espírito Santo, em consonância com o contrato nº 37/2024. Conforme preceitua a atual redação da Política Nacional de Saneamento Básico, a revisão do PMSB deve ser executada em intervalos de até dez anos, a partir da data de sua aprovação, abrangendo os serviços de infraestrutura e instalações dos setores de saneamento básico, incluindo abastecimento de água, esgotamento sani- tário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.
O propósito primordial do Plano Municipal de Saneamento Básico de Iúna é estabelecer uma estratégia para as ações de saneamento no município, em conformi- dade com os princípios estabelecidos na Lei nº 11.445/2007, alterada pela Lei nº 14.026/2020, e as diretrizes da Lei Federal nº 12.305/2010, visando à melhoria da salubridade ambiental, à proteção dos recursos hídricos e à promoção da saúde pública.
INTRODUÇÃO
A qualidade de vida e a saúde ambiental são pilares fundamentais para o bem- estar da população, evidenciando a urgência de políticas de saneamento básico em- basadas nos princípios da universalidade, equidade e desenvolvimento sustentável. Contudo, a ausência de um planejamento municipal integrado e a fragmentação de abordagens comprometem a eficácia das ações, levando a um desenvolvimento de- sordenado e ao desperdício de recursos públicos.
A insuficiência ou ausência de infraestrutura de saneamento básico está dire- tamente associada a impactos negativos, como a poluição hídrica e do solo, que com- prometem a saúde pública e agravam a vulnerabilidade socioambiental. Por outro lado, investimentos adequados nesse setor não apenas promovem a conservação ambiental, mas também reduzem significativamente os custos com serviços de saúde, gerando benefícios econômicos e sociais de longo prazo.
A legislação brasileira, por meio da Lei nº 11.445/2007 e de sua atualização pelo Novo Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020), estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Este marco legal reafirma a importância do abastecimento de água potável, do esgotamento sanitário, da limpeza urbana e do manejo de resíduos sólidos, bem como da drenagem e manejo de águas pluviais ur- banas. A legislação determina, ainda, a obrigatoriedade da elaboração e revisão pe- riódica dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), com vistas a atender às necessidades locais e promover o desenvolvimento sustentável.
O desafio da universalização do acesso aos serviços de saneamento básico, em conformidade com os princípios de quantidade, qualidade, continuidade e partici- pação social, recai sobre o poder público municipal, titular desses serviços. Nesse contexto, o PMSB constitui uma ferramenta indispensável para o planejamento e a gestão das ações voltadas à melhoria das condições sanitárias e ambientais, contri- buindo para a elevação da qualidade de vida da população.
Este documento apresenta o Relatório Final do PMSB do município de Iúna, resultado de um trabalho técnico minucioso e participativo. A análise do cenário atual do saneamento básico e as propostas aqui descritas visam à universalização dos ser- viços, buscando atender às demandas locais de forma sustentável e integrada.
1 OBJETIVOS
A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Iúna visa atender a uma série de objetivos estratégicos, que abrangem desde a atualização de dados até o fortalecimento da gestão integrada e participativa dos serviços de sanea- mento básico. Esses objetivos são fundamentais para garantir a eficácia e a susten- tabilidade das ações propostas no plano. Abaixo estão detalhados os principais obje- tivos:
· Atualização dos dados e diagnósticos: o primeiro objetivo do PMSB é atualizar os dados e diagnósticos relacionados aos serviços de saneamento básico em Iúna. Isso inclui considerar mudanças demográficas, socioeconômicas, ambientais e tecno- lógicas ocorridas desde a elaboração do plano original, garantindo assim uma base sólida e atualizada para as futuras ações;
· Adequação às legislações e normativas vigentes: outro objetivo fundamental é assegurar que o PMSB esteja em conformidade com as legislações e normativas fe- derais, estaduais e municipais pertinentes ao saneamento básico. Isso é essencial para garantir a legalidade e eficácia das ações propostas no plano;
· Ampliação da participação social: o PMSB busca promover a ampla participa- ção da comunidade, incluindo órgãos públicos, entidades da sociedade civil e usuários dos serviços, no processo de elaboração e revisão do plano. Essa participação é fun- damental para garantir que as propostas do plano reflitam as demandas e necessida- des reais da população;
· Melhoria da prestação dos serviços: um dos objetivos centrais do PMSB é iden- tificar oportunidades de melhoria na prestação dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana. Isso inclui buscar maior eficiência, qualidade, regularidade e segurança no atendimento à população;
· Promoção da sustentabilidade ambiental: o PMSB também visa incluir medidas e ações que promovam a sustentabilidade ambiental, visando à proteção dos recursos naturais, a redução da poluição e a preservação dos ecossistemas locais. Isso é fun- damental para garantir a qualidade de vida das gerações presentes e futuras;
· Fortalecimento da gestão integrada e participativa: outro objetivo importante é reforçar os mecanismos de gestão integrada e participativa dos serviços de sanea- mento básico. Isso inclui incentivar a articulação entre os diversos órgãos e atores envolvidos, para uma gestão mais eficiente, democrática e transparente;
· Estabelecimento de metas e indicadores: por fim, o PMSB busca estabelecer metas e indicadores claros e mensuráveis para os serviços de saneamento básico. Isso permitirá o acompanhamento e avaliação do desempenho das ações propostas, com vistas à melhoria contínua dos serviços e ao alcance dos objetivos estabelecidos.
1 DIRETRIZES GERAIS ABORDADAS
Com base nas diretrizes estabelecidas pela Lei nº 11.445/2007, o Plano Muni- cipal de Saneamento Básico (PMSB) de Iúna adota as seguintes diretrizes:
· Instrumentalização da Política Municipal de Saneamento Básico: o PMSB é re- conhecido como um instrumento fundamental para a implementação da Política Mu- nicipal de Saneamento Básico, sendo parte integrante das estratégias de desenvolvi- mento urbano e ambiental da cidade;
· Horizonte Temporal e Revisão Periódica: o PMSB é desenvolvido para um ho- rizonte temporal de vinte anos, com revisões e atualizações previstas a cada quatro anos. Essa prática visa garantir a permanente adequação do plano às demandas e desafios em evolução do município. Além disso, promove ações contínuas de educa- ção sanitária e ambiental para sensibilização e conscientização da população;
· Participação e Controle Social: assegura-se a participação e o controle social em todas as etapas da formulação e avaliação do PMSB. Isso implica a inclusão ativa da comunidade nas decisões relacionadas aos serviços de saneamento básico, pro- movendo a transparência e a legitimidade das ações implementadas;
· Disponibilidade Universal dos Serviços: garante-se a disponibilidade dos servi- ços públicos de saneamento básico a toda a população do município, tanto na área urbana quanto na rural. Essa diretriz visa assegurar o acesso equitativo a serviços essenciais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável da comunidade.
1 LEGISLAÇÕES E NORMATIVAS
Neste subcapítulo, são apresentados de maneira concisa os dispositivos legais, englobando leis, normas e regulamentos, que guardam relação direta ou indireta com a gestão do saneamento básico nos âmbitos federal, estadual e municipal. A análise integrada destes instrumentos busca identificar a convergência de suas disposições, especialmente aquelas vinculadas a temas relevantes para o planejamento eficiente do saneamento.
No contexto regulatório em questão, uma série de normativas são estabeleci- das para orientar os gestores nas decisões relacionadas à gestão apropriada do sa- neamento básico, abrangendo todos os quatro eixos. Estas normas visam garantir a qualidade da água fornecida à população e promover a sustentabilidade.
Apesar da existência desse sólido arcabouço legal, ainda é possível observar desafios no cenário do saneamento básico. No entanto, é por meio dessas normas legais que a sociedade é informada das consequências para práticas irregulares, as quais podem resultar em penalidades que variam desde advertências e sanções ad- ministrativas até multas e outras medidas corretivas. Assim, a observância dessas normativas não apenas estabelece parâmetros para a gestão eficaz, mas também serve como meio de assegurar a qualidade e disponibilidade desse recurso vital.
3.1 ÂMBITO FEDERAL
A gestão do saneamento básico, intrinsecamente vinculada aos serviços públi- cos relacionados ao abastecimento de água, representa uma esfera essencial garan- tida ao cidadão pela Constituição Federal (BRASIL, 1988). Este direito visa à preser- vação da saúde, do meio ambiente, além de promover a cidadania, a infraestrutura e o desenvolvimento urbano.
É relevante observar que, antes da promulgação da CF/1988, já existiam legis- lações com aplicação mais indireta ao tema, as quais também são abordadas e con- sideradas neste relatório, uma vez que foram incorporadas pela Constituição e, por- tanto, permanecem em vigor.
Desde a promulgação da CF, uma série de instrumentos legais relacionados ao saneamento básico foi desenvolvida com o propósito de aprimorar a qualidade do saneamento, buscando garantir o acesso universal ao sistema com qualidade e con- trole social. Isso impõe ao gestor público o desafio de promover a sustentabilidade urbana, com ênfase na gestão adequada do abastecimento hídrico.
Ao abordar especificamente a legislação do saneamento básico e outros ins- trumentos correlatos, que, de maneira resumida, evoluíram ao longo dos anos após a promulgação da CF, convergindo para políticas que buscam aprimorar o ambiente em relação ao saneamento e não apenas ao abastecimento de água, apresentam-se no Quadro 1 os principais atos legais (leis e decretos) formalizados no âmbito federal.
Quadro 1 – Legislação pertinente ao PMSB de Iúna no âmbito federal.
| Legislação | Descrição |
| Decreto n° 11.599/2023 | Dispõe sobre a prestação regionalizada dos serviços públicos de saneamento básico, o apoio técnico e financeiro de que trata o art. 13 da Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020, a alocação de recur- sos públicos federais e os financiamentos com recursos da União ou geridos ou operados por órgãos ou entidades da União de que trata o art. 50 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. |
| Decreto nº 10.936/2022 | Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. |
| Decreto nº 10.240/2020 | Regulamenta a Lei nº 12.305/10, e complementa o Decreto 9.177/2017, quanto à implementação de sistema de logística re- versa de produtos eletroeletrônicos e seus componentes de uso doméstico. |
| Decreto nº 10.000/2019 | Dispõe sobre o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. |
| Lei nº 14.026/2020 | Atualiza o marco legal do saneamento básico e altera diversas le- gislações relacionadas. |
| Decreto nº 9.177/2017 | Regulamenta o art. 33 da Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e complementa os art. 16 e art. 17 do Decreto 7.404/10 e dá outras providências. |
| Portaria MS 2.914/2011 | Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da quali- dade da água para consumo humano e seu padrão de potabili- dade. |
| Decreto nº 7.217/2010 | Regulamenta a Lei nº 11.445/07, que estabelece diretrizes nacio- nais para o saneamento básico, e dá outras providências. |
| Lei nº 12.305/2010 | Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605/98; e dá outras providências. Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico; cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico. Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução 357/05, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. |
| Lei nº 11.445/2007 | Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico; cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico. |
| Resolução CONAMA 430/2011 | Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução 357/05, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. |
| Legislação | Descrição |
| Resolução CONAMA 357/2005 | Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambi- entais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condi- ções e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. |
| Decreto n° 5.440/2005 | Estabelece definições e procedimentos sobre o controle de quali- dade da água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor so- bre a qualidade da água para consumo humano. |
| Lei nº 9.984/2000 | Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas e Sanea- mento Básico (ANA), entidade federal de implementação da Polí- tica Nacional de Recursos Hídricos, integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh) e responsável pela instituição de normas de referência para a regulação dos ser- viços públicos de saneamento básico. |
| Lei nº 9.433/1997 | Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Na- cional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001/90, que modificou a Lei nº 7.990/89. |
| Lei nº 6.938/1981 | Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. |
| Lei nº 9.795/1999 | Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. |
| Lei nº 12.187/2009 | Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC e dá outras providências. |
| Lei nº 10.257/2001 | Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabe- lece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. |
| Lei nº 9.605/1998 | Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. |
| Decreto n° 6.514/2008 | Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambi- ente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências. |
| Lei nº 8.080/1990 | Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recupera- ção da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços cor- respondentes e dá outras providências. |
| Lei nº 6.766/1979 | Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências. |
3.2 ÂMBITO ESTADUAL
No âmbito estadual, o Espírito Santo possui um conjunto abrangente de legis- lações e normativas que regem o saneamento básico, visando garantir o acesso universal a serviços de qualidade e promover o desenvolvimento sustentável em todas as regiões do estado. Desde a promulgação da Constituição Estadual e a criação de órgãos reguladores específicos, como a Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH), foram estabelecidos instrumentos legais para orientar a gestão eficiente dos recursos hídricos e a prestação de serviços de saneamento básico.
Essas legislações estaduais abrangem uma variedade de aspectos relaciona- dos ao saneamento, incluindo a gestão de recursos hídricos, o tratamento de esgoto, a coleta e disposição de resíduos sólidos, entre outros. Além disso, o estado do Espí- rito Santo tem buscado alinhar sua legislação com as diretrizes estabelecidas em nível federal, como a Lei Nacional de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007), para ga- rantir uma abordagem integrada e coordenada na promoção do saneamento em todo o território estadual.
O Quadro 2 apresenta as principais leis formalizadas para o estado do Espírito Santo.
Quadro 2 – Legislação pertinente ao PMSB de Iúna no âmbito estadual.
| Legislação | Descrição |
| Lei Estadual nº 1.057/2023 | Altera a Lei Complementar nº 827/2016, para incluir o controle, fis- calização e regulação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos pela ARSP, reestrutura a entidade, e cria/transforma cargos e funções gratificadas. |
| Decreto n° 5.579-R/2023 | Transformação de função gratificada na Agência de Regulação de Serviços Públicos - ARSP, sem elevação da despesa fixada. |
| Lei Estadual nº 11.750/2022 | Obriga as empresas responsáveis pela prestação do serviço pú- blico de saneamento básico, no estado do Espírito Santo, a promo- verem a ligação ao sistema de saneamento dos imóveis que não efetuaram a ligação de sua residência ou comércio à referida estru- tura oferecida. |
| Lei Estadual nº 11.247/2021 | Institui o Programa Estadual de Saneamento Básico, estabele- cendo diretrizes e objetivos para a promoção do saneamento bá- sico em todo o território capixaba. |
| Lei Estadual nº 11.021/2019 | Altera a redação do § 5º do art. 40 da Lei nº 9.096, de 29 de de- zembro de 2008, que estabelece as diretrizes e a política estadual de saneamento básico e dá outras providências. |
| Lei Estadual nº 10.732/2017 | Estabelece diretrizes para a implantação de programas de educa- ção ambiental e de saúde pública voltados para o saneamento bá- sico nas escolas da rede pública estadual. |
| Lei Estadual nº 10.495/2016 | Altera o art. 40 da Lei nº 9.096, de 30 de dezembro de 2008, que estabelece as diretrizes e a política estadual de saneamento básico e dá outras providências. |
| Legislação | Descrição |
| Decreto Estadual nº 8.678-R/2015 | Regulamenta a Política Estadual de Saneamento Básico, estabele- cendo os critérios e procedimentos para a elaboração, revisão e implementação dos planos de saneamento básico municipais. |
| Lei Estadual nº 9.096/2008 | Estabelece as Diretrizes e a Política Estadual de Saneamento Bá- sico. |
| Lei Complementar nº 512/2009 | Dá nova redação a dispositivos da Lei Complementar nº 477/2008, que criou a ARSI. |
| Lei Complementar nº 477/2008 | Cria a Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo - ARSI e dá outras providências. |
| Lei Estadual nº 7.662/2003 | Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de sistema de trata- mento de esgoto em edificações residenciais, comerciais e industri- ais no estado do Espírito Santo. |
| Lei Estadual nº 6.871/2001 | Regime de prestação do serviço público de saneamento básico no Estado do Espírito Santo. |
| Lei Estadual nº 5.749/1998 | Revoga a Lei nº 5743, que institui a consulta plebiscitária sobre sa- neamento básico no estado do Espírito Santo. (Meio Ambiente). |
| Resolução CONSEMA nº 45/2008 | Estabelece critérios e padrões para o licenciamento ambiental de empreendimentos relacionados ao saneamento básico no estado do Espírito. |
| Constituição do Estado do Espírito Santo (CEES/89) | Nós, os representantes do povo espírito-santense, reunido sob a proteção de DEUS, em Assembleia Estadual Constituinte, por força do Art.11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal, baseados nos princípios nela contidos, promulgamos a Constituição Estadual, assegurando o bem-estar de todo cidadão mediante a participação do povo no processo político, econômico e social do Estado, repudiando, assim, toda a forma autoritária de governo. |
| Lei Ordinária nº 10.179/2014 | Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, institui o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Es- tado do Espírito Santo - SIGERH/ES e dá outras providências. |
| Lei nº 9.265/2009 | Institui a Política Estadual de Educação Ambiental e dá outras pro- vidências. |
| Lei nº 9.264/2009 | Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e dá outras provi- dências correlatas. |
| Lei nº 4.701/1992 | Dispõe sobre o patrimônio ambiental do Espírito Santo. |
3.3 ÂMBITO MUNICIPAL
No contexto municipal de Iúna, uma série de leis e regulamentos foram estabe- lecidos para orientar e regular o saneamento básico, fundamental para garantir a qua- lidade de vida e o bem-estar da população local. Estas legislações abrangem desde a prestação dos serviços até questões relacionadas à gestão ambiental e à saúde pública, refletindo o compromisso da cidade com o acesso universal a serviços de saneamento de qualidade e o desenvolvimento sustentável.
O Quadro 3 apresenta uma síntese das principais leis municipais de sanea- mento básico em Iúna, organizadas em ordem cronológica, evidenciando a evolução das políticas e regulamentações neste importante setor.
Quadro 3 – Legislação pertinente ao PMSB de Iúna no âmbito municipal.
| Legislação | Descrição |
| Lei nº 3.050/2023 | Institui a Política Municipal de Educação Ambiental. |
| Lei nº 3.044/2023 | Altera a Lei Municipal nº 2.581/2015, que dispõe sobre o licenciamento ambiental e a avaliação de impactos ambientais. |
| Lei nº 3.039/2023 | Autoriza a concessão de área pública para implementação da esta- ção elevatória de esgoto bruto – EEEB – Parque Industrial. |
| Lei nº 2.881/2020 | Autoriza a concessão de áreas públicas para implementação de obras de construção de estações elevatórias de esgoto, caixa ele- vada e booster no loteamento Cidade Nova. |
| Lei nº 2.569/2022 | Altera a Lei Municipal nº 1989/2005. Art. 110-R. A taxa de limpeza pública, decorre da utilização efetiva ou potencial dos serviços de limpeza pública, prestados ou colocados à disposição do contribuinte. |
| Lei 3010/2022 | Altera a Lei Municipal nº 1.700/1999. |
| Lei nº 2.603/2016 | Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico destinado à exe- cução dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sani- tário no município e dá outras providências. |
| Lei nº 2.619/2017 | Autoriza a concessão de área pública para implementação de obras de construção de estações elevatórias de esgoto bruto – EEEB e de estação de tratamento de esgoto – ETE de Iúna. |
| Lei nº 1.595/2009 | Dispõe sobre a concessão de benefícios fiscais aos contribuintes que efetuarem a ligação à rede de esgoto do município de Iúna. |
| Lei nº 2.182/2008 | Institui o Plano Diretor do Município de Iúna e dá outras providências. |
| Lei nº 1.556/2008 | Altera a Lei Municipal nº 1.409/2005, que dispõe sobre a fiscaliza- ção e a cobrança da taxa de inspeção sanitária de alimentos no município de Iúna. |
| Lei nº 1.978/2005 | Revoga a Lei Municipal nº 1.800/2001 e dispõe sobre medidas de preservação ambiental e plantio e replantio de florestas para fins in- dustriais no município de Iúna e dá outras providências. |
| Lei nº 1.409/2005 | Dispõe sobre a fiscalização e a cobrança da taxa de inspeção sani- tária de alimentos no município de Iúna. |
| Lei nº 1.945/2004 | Dispõe sobre a criação da Reserva Municipal com Centro de Viven- cia em Educação Ambiental e Horto Florestal de Iúna/ES e dá ou- tras providências. |
| Legislação | Descrição |
| Lei nº 1.344/2004 | Dispõe sobre a prestação do serviço público de saneamento básico no município de Iúna e dá outras providências. |
| Lei Orgânica nº 1/2002 | O Município de Iúna, pessoa jurídica de direito público interno, no pleno uso da sua autonomia política, administrativa e financeira, re- ger-se-á por esta Lei Orgânica, votada e aprovada pela sua Câ- mara Municipal. |
| Lei nº 1.222/2001 | Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente do município de Iúna e dá outras providências. |
| Lei nº 1.700/1999 | Institui Política Municipal de Recursos Hídricos, estabelece normas e diretrizes para a recuperação, preservação e conservação dos recursos hídricos e cria o Sistema Municipal de Gerenciamento de Recursos Hídricos. |
| Lei nº 1.400/1993 | Institui o Código de Obras do município. |
| Decreto nº 9/2023 | Institui o Sistema Municipal de gestão ambiental de Iúna e dá outras providências. |
| Decreto nº 91/2022 | Aprova a Instrução Normativa nº 001/2022 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que dispõe sobre a criação de condicionante no licenciamento ambiental para destinação preferencial dos resíduos passíveis de coleta seletiva para organização de catadores de ma- teriais recicláveis (MCMR). |
| Decreto nº 59/2021 | Adere à Instrução Normativa IEMA nº 13-n, de 07 de dezembro de 2016 – Hipóteses de dispensa de licenciamento ambiental – Go- verno do Estado do Espírito Santo, e dá outras providências |
| Decreto nº 62/2015 | Regulamenta a normas do licenciamento ambiental das atividades potencial ou efetivamente poluidoras instaladas ou a se instalarem no município de Iúna e dá outras providências. |
| Decreto nº 83/2015 | Criar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, ficando composto pelos seguintes abaixo especificados neste decreto. |
| Lei nº 1.652/1998 | Dispõe sobre atos de limpeza pública e dá outras providências. |
4 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
O capítulo de caracterização do município oferece um painel completo sobre a área em estudo, apresentando um breve histórico do município, sua localização geo- gráfica, principais vias de acesso e os aspectos ambientais regionais. Além disso, são abordados detalhadamente os aspectos socioeconômicos, incluindo dados demográ- ficos, condições da área de saúde, índice de desenvolvimento humano municipal e a infraestrutura disponível.
4.1 ASPECTOS REGIONAIS, LOCALIZAÇÃO E ACESSO
O município de Iúna, localizado no Estado do Espírito Santo, abrange uma área territorial de 460,59 km², com altitude média de 670 m acima do nível do mar. Suas coordenadas geográficas aproximadas são 20° 21′ 6″ de latitude Sul e 41° 31′ 58″ de longitude Oeste. O município de Iúna está inserido na região administrativa conhecida como Caparaó, conforme estabelecido pela Lei nº 9.768/2011.
Iúna faz divisa com os municípios de Irupi, Ibatiba, Muniz Freire e Ibitirama, no Espírito Santo, além de Alto Caparaó, Martins Soares, Alto Jequitibá, Manhumirim, Durandé e Lajinha, em Minas Gerais.
Conforme o último censo do IBGE (2022), Iúna possui uma população de 28.590 habitantes, resultando em uma densidade demográfica de cerca de 62,07 ha- bitantes por km².
De acordo com o Instituto Jones Santos Neves (IJSN), o município de Iúna está localizado a uma distância de 174,18 km da capital do estado por via rodoviária. O território de Iúna é atravessado por três rodovias estaduais. Dentro de seu perímetro, encontram-se duas rodovias estaduais pavimentadas: a ES-185, que perpassa os dis- tritos de Santíssima Trindade, Nossa Senhora das Graças e a sede do município; e a ES-379, pavimentada somente no trecho que conecta a sede ao município de Irupi.
Segundo informações do Departamento de Estradas de Rodagem do estado do Espírito Santo (DER-ES), o trecho da rodovia ES-493 que liga Ibitirama a Irupi foi renomeado para ES-190. Além disso, a BR-262 atravessa os limites dos distritos de Pequiá e São João do Príncipe, configurando-se como a principal via de acesso ao município. A Figura 1 mostra a localização do município de Iúna e suas principais vias de acesso.
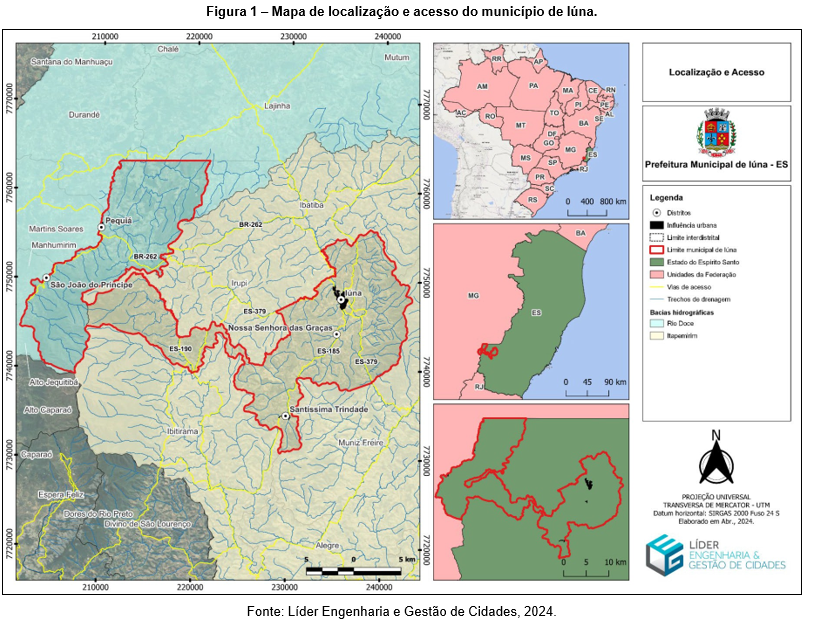
Além da sede municipal, Iúna oficialmente possui outros quatro distritos: Nossa Senhora das Graças, Pequiá, Santíssima Trindade e São João do Príncipe, apresentados na Figura 2.
Cada distrito é composto por comunidades, conforme mostrados no Quadro 4 e na Figura 3.
Quadro 4 – Relação de distritos e comunidades pertencentes ao município de Iúna, ES.
| Distritos | Comunidades |
| Iúna (Sede) | lúna, Bom Sucesso, Orozimbo Leocádio, Bálsamo, Boa Esperança l, Rio Pardinho, Terra Corrida, Figueira, Bem Posta, Água Santa, Recreio Direito, Serrinha da Torre, Vista Alegre l, Onça, Serrinha, Bela Vista, Santo Antônio, Serrinha da Água, Ponte Alta e Barro Branco |
| Nossa Senhora das Graças | Perdição, Triste Sorte, Alto Boa Sorte, Morro Redondo, Socorro e Boa Sorte Il |
| Santíssima Trindade | Trindade, Reserva, Uberaba, São Cristóvão, Cabeceira do São Cristó- vão, Alto Trindade, Santa Cruz de Uberaba, Córrego Fundo, Alto Boa Esperança, Mundinho, Alto Santa Rosa, Zé Ventura, Santa Rosa, Cór- rego dos Trança |
| São João do Príncipe | São José das Três Pontes, São João do Príncipe, Zé do Fio, Serra do Boa Sorte l, Rio Caro, José Pedro |
| Pequiá | Pequiá, Santa Clara de Cima, Flor da Mata, Alto da Fama, Fortaleza, Laranja da Terra, Santa Barbara, Padaria, Córrego da Vila, Tinguaciba, Onça do Fama, Pouso Alto, Bonjour, Fama, Pedregulho, Santa Clara de Baixo, Santa Clara do Meio, Ferreira, Pilões, Alto Pilões |
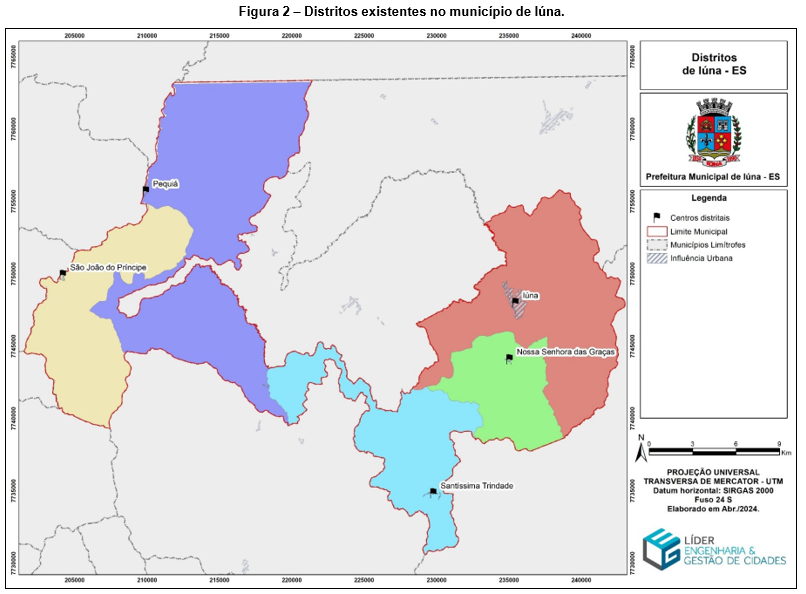
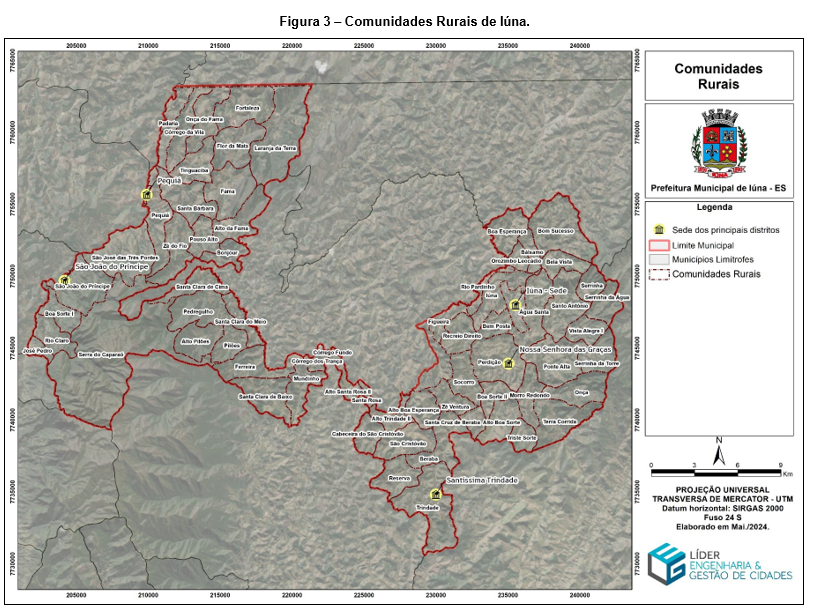
4.2 HISTÓRICO
O território que hoje constitui o Município de Iúna, outrora coberto pela exube- rante Mata Atlântica, era habitado por diversas tribos indígenas da nação puri. Os puris, de estatura mediana, pele morena e cabelos pretos e lisos, subsistiam da caça, pesca e cultivo de produtos agrícolas, vivendo em harmonia com a natureza. A história da região do Caparaó pode ser traçada a partir da chegada da família real ao Brasil, em 1808.
Em 1814, o príncipe regente João, filho de dona Maria I, determinou a constru- ção de uma estrada ligando Minas Gerais ao Espírito Santo, como parte de um esforço para centralizar as remessas de ouro, pedras preciosas e madeira pelo Rio de Janeiro. Dentro desse contexto, o povoado de "São Pedro de Alcântara do Rio Pardo" começou a surgir ao redor de uma capela erguida em 1855, em terreno doado pelo fazendeiro Joaquim Ferreira. Originalmente subordinado a Vitória e depois a Cacho- eiro de Itapemirim, o povoado testemunhou a construção da Estrada São Pedro de Alcântara em 1816, por ordem do governador Francisco Alberto Rubim, facilitando a comunicação e o comércio com outras regiões.
Nos arredores do Quartel do Rio Pardo, estabelecido para proteção dos viajan- tes ao longo da estrada, surgiu o Arraial de São Pedro de Alcântara do Rio Pardo. A construção da Capela de São Pedro de Alcântara, em 1845, realizada pelo missionário capuchinho frei Paulo de Casanova com o auxílio dos índios puris, marcou um ponto de referência religiosa e social na comunidade.
Com o passar dos anos, a região atraiu diversas famílias, incluindo imigrantes italianos em 1879, que contribuíram para o crescimento da freguesia. A construção da Igreja Matriz de Nossa Senhora Mãe dos Homens em 1879 e a instalação do correio em 1881 impulsionaram o desenvolvimento local. Em 1888, foi celebrado o primeiro casamento civil da província do Espírito Santo na Freguesia de São Pedro de Alcân- tara do Rio Pardo.
A partir das reivindicações dos moradores, o Município da Villa do Rio Pardo foi criado em 24 de outubro de 1890, visando ao crescimento socioeconômico da região. Em 3 de março de 1891, com a instalação do primeiro Conselho de Intendência Municipal, o município deu seus primeiros passos na administração local, sob a liderança de figuras como José Antônio Lofêgo, o primeiro prefeito, e posteriormente
Antônio Lofêgo, responsável pela construção da primeira usina de eletricidade em 1924, marco tecnológico pioneiro na região.
Durante o século XX, o município testemunhou avanços significativos, como a fundação do Rio Pardo Futebol Clube em 1917 e a construção do Grupo Escolar "Henrique Coutinho" em 1930. Em 1943, o município adotou o nome de Iúna, em homenagem aos primitivos habitantes banidos de seu território, cujo significado em língua tupi é "águas pardas". Assim, Iúna evoluiu de uma simples freguesia para um município independente, marcado por uma rica diversidade étnica e cultural, que contribuiu para sua identidade única.
Ao longo de sua história, o município de Iúna tem sido cenário de eventos mar- cantes e datas significativas que moldaram sua identidade cultural e impulsionaram seu desenvolvimento socioeconômico:
· A abertura da Estrada São Pedro de Alcântara em 1816 foi um marco funda- mental, integrando a região com outras localidades e estimulando o comércio e o pro- gresso econômico;
·A construção da Capela de São Pedro de Alcântara em 1845 não apenas foi um ponto de referência religiosa, mas também promoveu a coesão social e a organi- zação comunitária;
· A fundação da Matriz de Nossa Senhora Mãe dos Homens em 1879, erguida pelos imigrantes italianos, simbolizou a diversidade étnica e cultural da comunidade, fortalecendo sua identidade;
· A instalação do serviço postal em 1881 facilitou a comunicação entre os habi- tantes e outras localidades, promovendo o intercâmbio de informações e correspon- dências comerciais;
· O primeiro casamento civil do Espírito Santo realizado em Rio Pardo em 1888 marcou um avanço nos direitos civis e na legislação matrimonial da região;
· A criação do Município da Villa do Rio Pardo em 1890 conferiu autonomia ad- ministrativa a Iúna, possibilitando o desenvolvimento de políticas públicas e iniciativas locais;
· A instalação do Conselho de Intendência Municipal em 1891 permitiu a partici- pação dos cidadãos na gestão dos assuntos municipais;
· A criação da Comarca do Rio Pardo em 1890 foi fundamental para a adminis- tração da justiça e a garantia dos direitos legais dos cidadãos;
· A fundação do Rio Pardo Futebol Clube em 1915 promoveu a prática esportiva e a integração social na comunidade;
· A inauguração da primeira usina de eletricidade em 1924 impulsionou o desen- volvimento industrial e residencial de Iúna, proporcionando conforto e oportunidades de progresso para seus habitantes.
4.3 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
No presente capítulo, serão examinados os principais indicadores socioeconô- micos do Município de Iúna. O objetivo é compreender o processo de produção do espaço e sua interação com a população e a economia local, considerando os seguin- tes aspectos:
· A caracterização demográfica;
· Os dados econômicos;
· Os indicadores de qualidade de vida.
4.3.1 Densidade Demográfica
A densidade demográfica, também conhecida como densidade populacional ou população relativa, é uma medida que expressa a relação entre a população e a superfície do território, comumente aplicada a seres humanos e expressa em habitantes por quilômetro quadrado. Conforme o último censo do IBGE (2022), Iúna possui uma população de 28.590 habitantes, resultando em uma densidade demográfica de cerca de 62,07 habitantes por km².
A densidade demográfica é um elemento-chave na formulação de políticas públicas, pois fornece informações cruciais para o planejamento urbano, a alocação de recursos e o desenvolvimento de infraestrutura. Com base nesse dado, é possível identificar áreas com maior concentração populacional e direcionar investimentos para atender às necessidades dessas comunidades, como construção de escolas, hospi- tais, transporte público e moradias.
Além disso, a análise da densidade demográfica também permite avaliar os impactos ambientais decorrentes da pressão populacional sobre o meio ambiente. O crescimento demográfico excessivo pode contribuir para o desmatamento, a poluição de rios e córregos e o aumento da geração de resíduos sólidos. Portanto, o monitoramento desse indicador é fundamental para promover o desenvolvimento sustentável e a preservação dos recursos naturais no município.
A Tabela 1 apresenta a população urbana e rural por distrito nos censos de 2000 e 2010.
Tabela 1 – População urbano-rural por distrito, 2000 e 2010.
| Iúna | 2000 | 2010 |
| Distrito | Total | Urbana | (%) | Rural | (%) | Total | Urbana | (%) | Rural | (%) |
| Iúna (Sede) | 15.925 | 11.921 | 45,7 | 4.004 | 15,3 | 17.467 | 13.658 | 50 | 3.809 | 13,9 |
| Nossa Senhora das Graças | - | - | - | - | - | 2.235 | 547 | 2 | 1.688 | 6,2 |
| Pequiá | 3.811 | 818 | 3,1 | 2.993 | 11,5 | 3.614 | 799 | 2,9 | 2.815 | 10,3 |
| Perdição | 2.333 | 565 | 2,2 | 1.768 | 6,8 | - | - | - | - | - |
| Santíssima Trindade | 2.324 | 253 | 1,0 | 20.71 | 7,9 | 2.533 | 275 | 1,0 | 225 | 8,3 |
| São João do Príncipe | 1.719 | 318 | 1,2 | 1.401 | 5,4 | 1.479 | 341 | 1,2 | 1.138 | 4,2 |
| Total do município | 26.112 | 13.875 | 53,1 | 12.237 | 46,9 | 27.328 | 15.620 | 57,2 | 11.708 | 42,8 |
A Tabela 2 apresenta o número médio de moradores por domicílio para o município de Iúna, bem como os dados para o Brasil e o estado do Espírito Santo, per- mitindo a comparação.
Tabela 2 – Média de moradores em domicílios particulares ocupados.
| Ano | Brasil | Espírito Santo | Iúna |
| 1991 | 4,19 | 4,18 | 4,25 |
| 2000 | 3,76 | 3,66 | 3,69 |
| 2010 | 3,31 | 3,17 | 3,13 |
Os dados apresentam uma tendência de decrescimento no número médio de moradores por domicílio ao longo do período de 1991 a 2010 em todas as unidades consideradas. Isso sugere uma possível mudança nas estruturas familiares e nos padrões de habitação ao longo do tempo. Essa redução pode ser influenciada por diversos fatores, como o aumento da urbanização, a diminuição do tamanho médio das famílias, o acesso a políticas habitacionais que incentivam a construção de residên- cias menores, entre outros.
4.3.2 Distribuição etária por gênero
A distribuição etária por gênero é um aspecto importante para compreender a estrutura demográfica de uma sociedade, uma vez que revela padrões distintos de idade entre homens e mulheres, influenciados por uma série de fatores sociais, culturais e biológicos.
Ao analisar a composição por sexo da população de Iúna (Figura 4), focalizada segundo grupos etários, observa-se que há um ligeiro predomínio feminino em relação aos homens, embora a diferença entre eles seja pequena. Conforme dados do Censo de 2022, dos 28.590 habitantes, 14.408 eram mulheres, representando 50,6% da população, enquanto 14.110 eram homens, totalizando 49,4%.
É importante destacar que a conformação etária da população é resultado dos efeitos combinados entre fecundidade, mortalidade e migração. Esses fatores geram pressões de demanda diferenciadas sobre os serviços públicos, especialmente aqueles destinados a atender às necessidades básicas da população, como saúde, educação e assistência social.
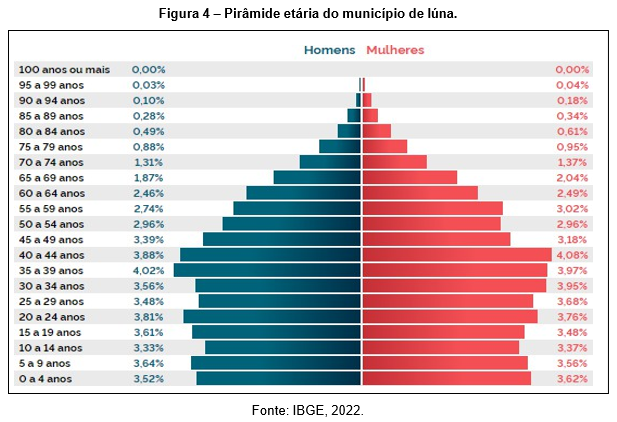
4.3.3 Índice de Desenvolvimento Humano - IDH
O cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), possui a finalidade de caracterizar a qualidade do desenvolvimento do cidadão através do estudo de três indicadores, sendo eles: a longevidade, a renda e a educação.
Para efeito de comparação, o Programa das Nações Unidas para o Desenvol- vimento (PNDU), indica que o valor desse índice deve variar de 0 a 1, sendo que, quanto mais próximo a 1, melhor é a qualidade do desenvolvimento do indivíduo e, quanto mais próximo a 0, pior é o seu desenvolvimento.
Foram avaliados aspectos relacionados à educação, longevidade, emprego e renda, acesso ao trabalho, condições habitacionais e outras variáveis que integram alguns dos indicadores de desenvolvimento humano mencionados. A variação metodológica, bem como o distanciamento do período de publicação destes indicadores aponta diferenças, sobretudo na classificação do município, especialmente quando se estabelece comparativos entre os indicadores.
Vale ressaltar que, os dados mais atuais de valores de IDH individuais disponíveis são apenas para o ano de 2010. Com isto, a Tabela 3 mostra a série histórica do IDH do Estado do Espírito Santo e dos Municípios de Vitória e Iúna. O Município de Vitória consta na tabela por ser o melhor IDH do estado, servindo assim, como modelo de comparação para Iúna.
Tabela 3 – Série histórica do IDH.
| Ano | IDH Espírito Santo | IDHM Vitória | IDHM Iúna |
| 1991 | 0,505 | 0,644 | 0,371 |
| 2000 | 0,640 | 0,759 | 0,531 |
| 2010 | 0,740 | 0,845 | 0,666 |
A análise dos dados do Censo Demográfico revela uma significativa evolução no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município de Iúna ao longo do período de 2000 a 2010. Em 2000, o IDH era de 0,531, enquanto em 2010 esse índice aumentou para 0,666. Isso representa um crescimento absoluto de 0,135 no IDH ao longo desses dez anos.
Em termos relativos, essa evolução representa um aumento de 25,42% no IDHM do município de Iúna durante o período analisado. Esse crescimento expressivo indica melhorias significativas nas condições de vida da população local, refletindo avanços em áreas como educação, renda e longevidade.
No entanto, a discrepância persistente nos IDHs entre a capital e o município do interior indica desigualdades regionais em termos de desenvolvimento humano.
Essas diferenças podem ser atribuídas a uma variedade de fatores, incluindo investimentos em infraestrutura, acesso a serviços básicos, oportunidades de emprego e educação, entre outros.
Em 2010, o IDH do município ocupava a 2.759ª posição entre os 5.565 municí- pios brasileiros e a 59º posição entre os municípios do Espírito Santo. A Figura 5 ilustra o ranking de IDH no estado em 2010.
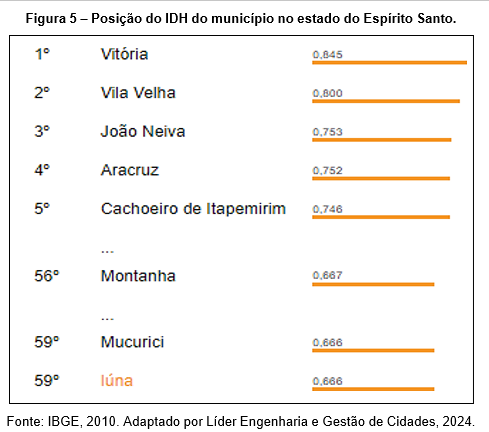
A Tabela 4 mostra a evolução do IDHM do município durante os censos realizados pelo IBGE dos anos de 2000 a 2010, sendo possível notar uma melhoria nas condições de vida da população ao longo dos anos estudados. Além disso, a tabela destaca a importância de cada setor - Educação, Longevidade e Renda - na composição desse índice.
Tabela 4 – IDH nos componentes nos censos de 2000 e 2010 para o Município de Iúna.
| IDHM e componentes | 2000 | 2010 |
| IDHM | 0,531 | 0,666 |
| IDHM Educação | 0,305 | 0,537 |
| % de 18 anos ou mais com fundamental completo | 21,75 | 38,11 |
| % de 4 a 5 anos na escola | 21,30 | 58,45 |
| % de 11 a 13 anos nos anos finais do ensino fundamental ou com ensino fundamental completo | 52,17 | 86,68 |
| % de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo | 32,02 | 48,03 |
| % de 18 a 20 anos com ensino médio completo | 12,68 | 34,04 |
| IDHM Longevidade | 0,757 | 0,829 |
| Esperança de vida ao nascer | 70,40 | 74,74 |
| IDHM Renda | 0,648 | 0,665 |
| Renda per capita | 450,23 | 501,21 |
A análise dos dados apresentados na tabela revela uma evolução positiva no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e seus componentes no município de Iúna ao longo do período de 2000 a 2010. O IDHM total do município aumentou significativamente de 0,531 em 2000 para 0,666 em 2010, indicando uma melhoria geral nas condições de vida da população. Esse crescimento é impulsionado principalmente pelo componente de educação, cujo IDHM aumentou de 0,305 para 0,537 no mesmo período. Esse avanço é evidenciado pelo aumento expressivo na porcentagem de pessoas com fundamental completo, que passou de 21,75% para 38,11%, e na porcentagem de jovens de 4 a 5 anos na escola, que cresceu de 21,30% para 58,45%.
Além disso, o componente de longevidade também registrou uma melhoria considerável, com o IDHM passando de 0,757 em 2000 para 0,829 em 2010. Isso é refletido pelo aumento na expectativa de vida ao nascer, que subiu de 70,40 anos para 74,74 anos. Por outro lado, o componente de renda apresentou uma leve melhoria, com o IDHM passando de 0,648 para 0,665 no mesmo período. Apesar disso, houve um aumento na renda per capita, de 450,23 para 501,21, indicando uma melhoria nas condições econômicas da população.
Em resumo, os dados sugerem um progresso substancial no desenvolvimento humano do município de Iúna ao longo da década analisada, especialmente nos aspectos relacionados à educação e longevidade. Essas melhorias são indicativas de avanços significativos na qualidade de vida e no bem-estar da população local, destacando a importância de políticas públicas voltadas para o fortalecimento do acesso à educação e à saúde.
4.3.4 Educação
Para este índice, são considerados cinco indicadores, dos quais quatro estão relacionados ao fluxo escolar de crianças e jovens, visando medir sua frequência escolar na série adequada à idade. O quinto indicador diz respeito à escolaridade da população.
Para o município de Iúna, em 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos matriculadas na escola era de 86,14% (Gráfico 1). No mesmo período, a proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental era de 86,68%. Além disso, a proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo era de 48,03%, enquanto a proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo era de 34,04% (ATLAS BRASIL, 2024).
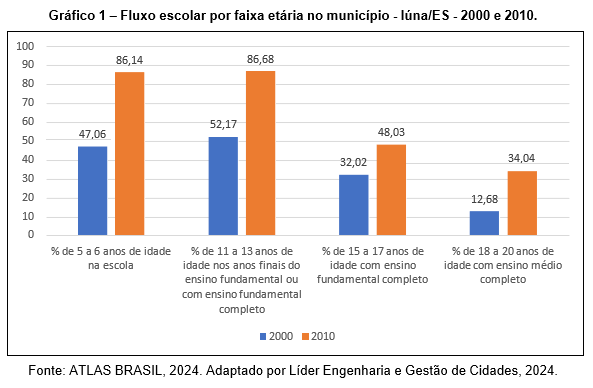
Para efeito de comparação, o Gráfico 2 demonstra o fluxo escolar por faixa etária, em relação ao Estado de Espírito Santo e Brasil.
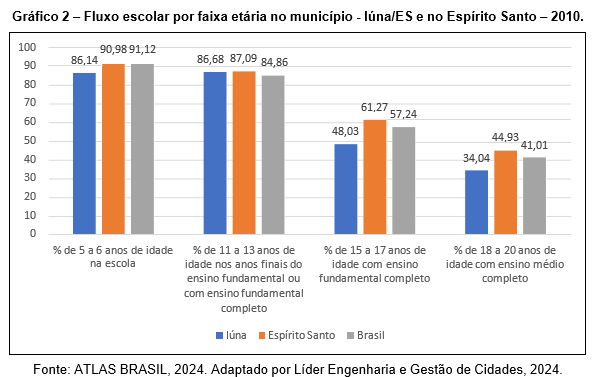
Em 2000, uma parcela significativa, representando 82,37% da população entre 6 e 17 anos, estava matriculada no ensino básico regular e apresentava menos de dois anos de defasagem idade-série. No entanto, em 2010, esse percentual diminuiu ligeiramente para 79,14%, sugerindo uma possível redução na taxa de aproveitamento escolar nesse período.
No que diz respeito ao ensino médio, observa-se uma melhoria na taxa de distorção idade-série entre 2016 e 2017, que caiu de 35,20% para 26,50%. Isso sugere uma tendência positiva em relação à adequação dos alunos à faixa etária correta para sua série escolar, indicando possíveis melhorias na eficiência do sistema educacional. No entanto, em termos de evasão escolar, os dados apresentam uma situação menos favorável. A taxa de evasão no ensino fundamental aumentou de 3,30% em 2013 para 3,90% em 2014, sugerindo um aumento no número de alunos que abando- naram os estudos nesse nível de ensino. Da mesma forma, a evasão no ensino médio também apresentou um aumento considerável, subindo de 14,30% em 2013 para 19,90% em 2014. Esse aumento na evasão escolar pode indicar possíveis desafios enfrentados pelo sistema educacional em manter os alunos matriculados e engajados ao longo do ensino médio.
O indicador de expectativa de anos de estudo fornece uma síntese da frequência escolar da população em idade escolar, indicando o número de anos de estudo que uma criança que inicia a vida escolar no ano de referência terá completado ao atingir a idade de 18 anos.
No município de Iúna, esse indicador demonstrou um aumento significativo ao longo do período analisado. Em 2000, a expectativa de anos de estudo era de 7,44 anos, enquanto em 2010, esse número aumentou para 9,10 anos. Esse aumento su- gere uma melhoria na educação e na permanência dos alunos nas escolas do município ao longo dessa década.
Ao compararmos esses dados com os da Unidade Federativa (UF), observamos que, embora o município de Iúna tenha apresentado um aumento na expectativa de anos de estudo, ainda permanece abaixo da média estadual. Em 2000, a UF re- gistrou uma expectativa de 9,51 anos, enquanto em 2010 esse número foi de 9,36 anos. Isso sugere que, apesar do progresso, o município ainda enfrenta desafios em alcançar os níveis educacionais médios do estado.
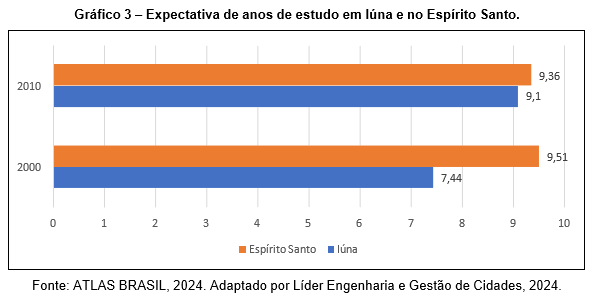
Um dos indicadores que integra o IDH Educação e avalia a escolaridade da população adulta é o percentual de pessoas com 18 anos ou mais que concluíram o ensino fundamental. Esse indicador é importante para refletir sobre as defasagens educacionais das gerações mais antigas, que geralmente possuem menor nível de escolaridade. Entre 2000 e 2010, esse percentual teve um aumento significativo no município de Iúna, passando de 21,75% para 38,11%, enquanto na Unidade Federativa (UF) esse aumento foi de 40,76% para 55,23%. O Gráfico 4 apresenta a situação exposta.
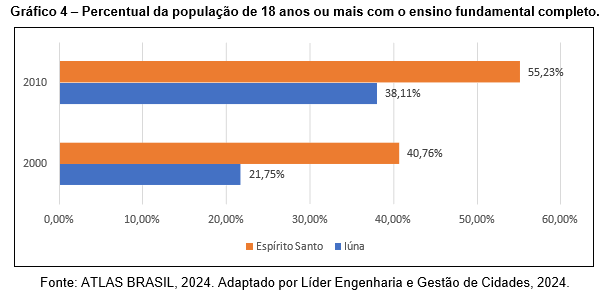
Em 2010, ao considerar a população com 25 anos ou mais no município de Iúna, observa-se que 19,30% eram analfabetos, 32,32% tinham concluído o ensino fundamental, 19,17% possuíam o ensino médio completo e 6,81% haviam concluído o ensino superior. Comparativamente, na UF, esses percentuais eram de 10,15% para analfabetismo, 50,64% para ensino fundamental completo, 36,09% para ensino médio completo e 11,06% para ensino superior completo. Esses números evidenciam um desafio significativo em relação ao analfabetismo e ao acesso ao ensino superior no município em comparação com a média estadual. O Gráfico 5 ilustra a situação exposta.
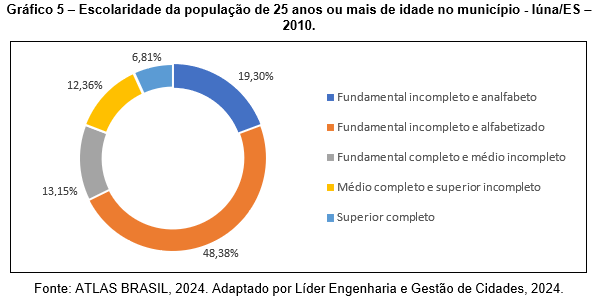
4.3.5 Razão de Dependência, Taxa de Mortalidade e Esperança de Vida
A razão de dependência é calculada como o percentual da população com menos de quinze anos de idade e da população com sessenta e cinco anos de idade ou mais, em relação à população de quinze a sessenta e quatro anos, que é considerada a população potencialmente ativa. Por outro lado, a taxa de envelhecimento é a proporção da população com sessenta e cinco anos de idade ou mais em relação à população total.
No caso de Iúna, a razão de dependência total passou de 58,42% em 2000 para 47,35% em 2010, enquanto a proporção de idosos aumentou de 5,72% para 7,16% no mesmo período (ATLAS BRASIL, 2024). Na Unidade da Federação (UF), estado do Espírito Santo, a razão de dependência diminuiu de 52,04% para 44,043,261%, e a proporção de idosos aumentou de 5,53% para 7,08% durante o mesmo período (ATLAS BRASIL, 2024).
Os dados de 2021 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) revelaram que a razão de dependência no estado do Espírito Santo atingiu 45,60%. Além disso, a taxa de envelhecimento na UF foi registrada em 9,41%.
A Tabela 5 apresenta a estrutura etária entre os anos de 2000 e 2010, assim como os indicadores expostos acima, conforme dados do IBGE.
| Estrutura etária | 2000 | 2010 |
| População | % do Total | População | % do Total | |
| Menor de 15 anos | 8.135 | 31,15 | 6.826 | 24,98 |
| 15 a 64 anos | 16,483 | 63,12 | 18.546 | 67,86 |
| 65 anos ou mais | 1.494 | 5,72 | 1.956 | 7,16 |
| Razão de dependência | 58,42 | - | 47,35 | - |
| Taxa de envelhecimento | 5,72 | - | 7,16 | - |
A taxa de mortalidade infantil é calculada como o número de óbitos de crianças com menos de um ano de idade para cada mil nascidos vivos. No município, essa taxa diminuiu de 22,65 em 2000 para 14,4 em 2010. No mesmo período, na Unidade da Federação (UF), essa taxa passou de 23,45 para 14,15.
Em relação à esperança de vida ao nascer, que é um indicador utilizado para compor a dimensão de Longevidade do IDHM, no município de Iúna, essa variável era de 70,40 anos em 2000 e aumentou para 74,74 anos em 2010. Na UF, a esperança de vida ao nascer era de 71,64 anos em 2000 e aumentou para 75,10 anos em 2010 (ATLAS BRASIL, 2024). A Tabela 6 ilustra o exposto acima.
Tabela 6 – Taxa de Mortalidade Infantil e Esperança de Vida ao Nascer em Iúna.
| Indicadores | 2000 | 2010 |
| Mortalidade infantil | 22,65 | 14,4 |
| Esperança de vida ao nascer | 70,40 | 74,74 |
4.3.6 Economia
A economia é classificada como uma ciência social, uma vez que estuda o comportamento humano relacionado às necessidades individuais, abrangendo a produção, distribuição e consumo de bens e serviços que contribuem para a qualidade de vida e a sobrevivência da população (CASTRO et al., 2021).
No contexto do crescimento econômico e desenvolvimento social dos municípios, o Valor Adicionado (VA) exerce uma influência significativa nos principais setores econômicos responsáveis pela economia local, que são os Serviços, Indústria e Agricultura (Barth et al., 2018). O VA é uma medida que reflete o valor criado por um agente econômico, após deduzidos os custos com matéria prima, serviços e bens intermediários, representando, assim, o valor dos bens produzidos por uma determinada economia (Barth et al., 2018).
Tabela 7 – Economia nos setores municipais.
| Setor | Atividade | Valores em 2021(x 1000) R$ | (%) |
| Serviços | Serviços (não inclui administração pública) | 223.172,90 | 45,06 |
| Serviços de administração pública | 141.092,3 | 28,49 | |
| Indústria | Diversas | 22.510,14 | 4,54 |
| Agropecuária | Produção agropecuária | 108.434,87 | 21,89 |
A Tabela 7 apresenta a distribuição dos valores em milhares de reais (R$) por setor de atividade econômica no ano de 2021, juntamente com a porcentagem correspondente a cada setor em relação ao total.
No setor de Serviços, que engloba atividades não relacionadas à administração pública, observa-se um valor expressivo de 223.172,90 milhões de reais, representando 45,06% do total. Esse segmento inclui uma variedade de serviços como comércio, transporte, turismo, tecnologia, entre outros, desempenhando um papel significativo na economia.
Os Serviços de administração pública, que englobam as atividades do governo e outras instituições públicas, também têm uma contribuição substancial, totalizando 141.092,3 milhões de reais, o que corresponde a 28,49% do total. Essa parcela inclui gastos com educação, saúde, segurança, infraestrutura, entre outros serviços prestados pelo setor público.
No setor da Indústria, que abrange diversas atividades industriais, o valor al- cançou 22.510,14 milhões de reais, representando 4,54% do total. Esse segmento engloba a produção de bens manufaturados, como alimentos, produtos químicos, au- tomóveis, entre outros.
Por fim, na Agropecuária, que compreende a produção agrícola e pecuária, observa-se um valor de 108.434,87 milhões de reais, correspondendo a 21,89% do total. Esse setor desempenha um papel importante na economia, especialmente em regiões onde a atividade rural é significativa, contribuindo para o abastecimento alimentar e para a geração de empregos no campo.
4.3.7 Produto Interno Bruto - PIB
O Produto Interno Bruto (PIB) representa a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos em uma determinada região, como países, estados ou municípios, ao longo de um período específico. É um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia para mensurar a atividade econômica de uma região.
No entanto, o PIB é apenas um indicador sintético da economia. Embora ajude a compreender o panorama econômico de um país, não reflete aspectos importantes como a distribuição de renda, qualidade de vida, educação e saúde. Um país pode ter um PIB modesto e oferecer um elevado padrão de vida, assim como outro país com um PIB elevado pode apresentar um padrão de vida relativamente baixo.
A Tabela 8 apresenta a evolução do PIB do município entre os anos de 2010 e 2021.
Tabela 8 – Evolução do PIB per capita de 2010 a 2021.
| Ano | Valor (R$ x1000) |
| 2010 | 7.822,32 |
| 2011 | 9.977,41 |
| 2012 | 11.990,75 |
| 2013 | 10.942,19 |
| 2014 | 11.469,91 |
| 2015 | 12.616,38 |
| 2016 | 14.472,59 |
| 2017 | 13.771,75 |
| 2018 | 15.063,06 |
| 2019 | 14.503,49 |
| 2020 | 18.173,78 |
| 2021 | 18.303,85 |
Observa-se um crescimento geral do PIB ao longo do período analisado, com algumas variações anuais. Em 2010, o PIB foi de 7.822,32 milhões de reais, e esse valor aumentou gradualmente nos anos seguintes, atingindo um pico em 2021, com um valor de 18.303,85 milhões de reais. O Gráfico 6 mostra a evolução do PIB ao longo dos anos analisados.
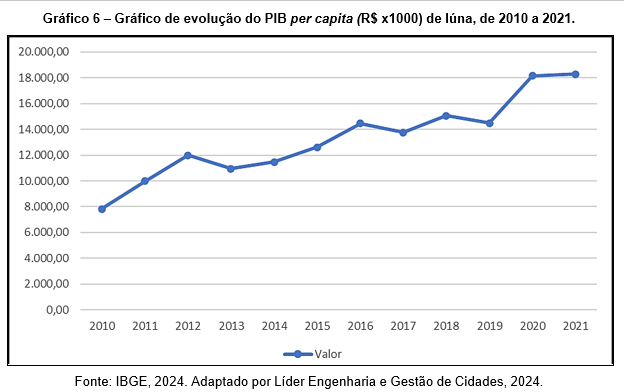
É importante notar que houve variações interanuais, com alguns anos regis- trando aumentos significativos, como foi o caso de 2020 e 2021, onde o PIB per capita apresentou um crescimento mais expressivo. Por outro lado, houve anos com variações negativas ou estabilidade, como 2013 e 2017.
Essa evolução do PIB per capita pode ser influenciada por uma série de fatores, incluindo investimentos públicos e privados, atividades econômicas locais, variações na agricultura, indústria e serviços, entre outros. Esses dados fornecem insights importantes sobre a dinâmica econômica do município ao longo do tempo e podem ser úteis para o planejamento e tomada de decisões tanto a nível local quanto regional.
4.3.8 Renda
Os valores de renda per capita mensal registrados em 2000 e 2010 apresenta- ram crescimento em Iúna, ES. No ano de 2000, a renda per capita era de R$ 450,23, aumentando para R$ 201,21 em 2010 (ATLAS BRASIL, 2024).
Com isso, Atlas do Desenvolvimento Humano classifica a população do muni- cípio em extremamente pobres, pobres e vulneráveis à pobreza, considerando a renda domiciliar per capita mensal.
Tabela 9 – Classificação pela renda domiciliar per capita em Iúna.
| Categoria | Extremamente pobre | Pobre | Vulneráveis a pobreza |
| Renda per capita | < R$ 70,00 | < R$ 140,00 | < R$ 255,00 |
| Proporção em 2000 | 6,17% | 23,07% | 49,19% |
| Proporção em 2010 | 4,92% | 13,91% | 41,10% |
No período entre 2000 e 2010, houve uma redução significativa nas proporções de pessoas consideradas extremamente pobres, pobres e vulneráveis à pobreza, o que sugere melhorias nas condições socioeconômicas da população durante esse período.
Com base nas informações de pessoas que estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, a Tabela 10 apresenta a proporção de cada classificação mencionada anteriormente, após o recebimento do Bolsa Família.
Tabela 10 – Classificação com base no CadÚnico do Governo Federal no Município.
| Categoria | Extremamente pobre | Pobre | Vulneráveis a pobreza |
| Renda per capita | < R$ 70,00 | < R$ 140,00 | < R$ 255,00 |
| Proporção em 2014 | 16,95% | 51,52% | 62,22% |
| Proporção em 2017 | 10,07% | 56,58% | 83,62% |
Ao analisar as informações do Cadastro Único entre 2014 e 2017, observa-se uma mudança nas proporções de pessoas extremamente pobres, pobres e vulneráveis à pobreza entre aqueles inscritos no programa Bolsa Família. Houve uma diminuição na proporção de pessoas extremamente pobres e uma leve redução na proporção de pessoas pobres, indicando uma possível melhoria nas condições de vida desses grupos após receberem o benefício do Bolsa Família. No entanto, a proporção de pessoas vulneráveis à pobreza aumentou significativamente durante esse período, sugerindo que mesmo após o recebimento do benefício, muitas famílias ainda enfrentam desafios econômicos e sociais.
Esses dados destacam a importância dos programas de transferência de renda como o Bolsa Família na redução da pobreza e na promoção do bem-estar socioeconômico das famílias mais vulneráveis, mas também ressaltam a necessidade contínua de políticas e intervenções para enfrentar a pobreza de forma mais ampla e sustentável.
O Índice de Gini, que mede a desigualdade de renda, é uma das métricas de desigualdade presentes no Atlas do Desenvolvimento Humano do país. Seu valor varia de 0 a 1, sendo que quanto maior o índice, maior a desigualdade de renda.
No município de Iúna, o Índice de Gini era de 0,56 em 2000, diminuindo para 0,50 em 2010, o que indica uma redução na desigualdade de renda (ATLAS BRASIL, 2024).
4.3.9 Saúde
De acordo com Datasus (2024), Iúna possui 11 Unidades de Saúde. Abaixo segue relação das Unidades de Saúde.
Quadro 5 – Unidades Básicas de Saúde do município de Iúna.
| Unidades Básicas de Saúde - Iúna |
| ESF CENTRO MUNICIPAL DE IÚNA |
| ESF GUANABARA |
| ESF NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
| ESF PITO |
| ESF QUILOMBO |
| ESF VILA NOVA |
| UBS DERCI FRANCISCO DA SILVA |
| UBS LUCIO ANTONIO DA SILVA |
| UBS FERREIRA VALE |
| UNIDADE SANITÁRIA ANTONIO LAMY DE MIRANDA |
| UNIDADE SANITÁRIA DE TRINDADE |
Além das UBSs, o município também conta com os seguintes estabelecimentos na área, com suas respectivas quantidades
Tabela 11 – Estabelecimentos de saúde no município de Iúna.
| DESCRIÇÃO | TOTAL |
| POLICLÍNICA | 7 |
| HOSPITAL GERAL | 1 |
| CONSULTÓRIO ISOLADO | 62 |
| CLÍNICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE | 1 |
| UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) | 7 |
| UNIDADE MÓVEL DE NÍVEL PRÉ-HOSPITALAR NA ÁREA DE URGÊNCIA | 2 |
| FARMÁCIA | 1 |
| CENTRAL DE GESTÃO EM SAÚDE | 1 |
O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES possui informa- ções dos leitos disponíveis nos estabelecimentos de saúde em todo território nacional. Essas informações são captadas pelas gestões municipais e estaduais por meio das variáveis de Tipo de Leito (clínicos, cirúrgicos, complementares etc.), Detalhamento do Leito (Especialidades) e a quantidade dividida entre Leitos Existentes e Leitos SUS (CNES, 2024).
Abaixo são descritos os conceitos de cada tipo de leito:
• Leitos Existentes: são utilizados para internação, mesmo que alguns deles, eventualmente, não possam ser utilizados por alguma razão, no espaço de tempo de até 01 competência.
• Leitos SUS: são utilizados no âmbito do SUS, pelo qual conceitua-se por leitos de internação hospitalar ativos, disponíveis para internação do paciente do SUS. O gestor é responsável por informar o quantitativo, exceto no caso dos leitos comple- mentares, que é resultado do processo de habilitação (vide Leitos não SUS);
• Leitos não SUS: é a diferença entre os Leitos Existentes e Leitos SUS (CNES, 2024).
Neste sentido, a Tabela 12 apresenta o quantitativo de leitos existentes e leitos SUS por categoria.
Tabela 12 – Quantitativo de leitos existentes em Iúna.
| DESCRIÇÃO | EXISTENTE | SUS |
| CIRURGIA GERAL | 6 | 4 |
| CLÍNICA GERAL | 33 | 31 |
| OBSTETRICIA CIRURGICA | 6 | 3 |
| OBSTETRICIA CLÍNICA | 12 | 9 |
| PEDIATRIA CLÍNICA/CIRURGICA | 8 | 8 |
a) Programa Saúde Da Família
O Programa Saúde da Família (PSF) é uma iniciativa do Ministério da Saúde (MS) que busca oferecer atenção básica de maneira mais resolutiva e humanizada, sendo essencial para a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Este programa adota uma visão ampla do processo saúde/doença, centrando-se na família e considerando o ambiente e outros fatores que a influenciam. O PSF inclui ações de promoção e proteção da saúde, bem como prevenção, recuperação e reabilitação de doenças e agravos, abrangendo diagnóstico e tratamento.
A história do PSF começou com a criação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) em 1991, que inicialmente focava em uma perspectiva individual, mas logo evoluiu para uma abordagem centrada na família. Em 1994, as primei- ras equipes de Saúde da Família foram formadas e o programa foi normatizado pela Portaria nº 692, de 25 de março de 1994.
Essa estratégia representa uma reorientação do modelo assistencial e é composta por equipes multiprofissionais nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Estas equipes acompanham até 4.500 pessoas em áreas geográficas definidas e são for- madas, no mínimo, por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde (de 4 a 6). Profissionais adicionais, como dentistas, assistentes sociais e psicólogos, podem ser incorporados conforme a necessidade da população e as condições locais.
As Unidades de Saúde da Família (USFs) seguem os princípios e diretrizes do SUS, como universalização, equidade, integralidade, descentralização, hierarquiza- ção e participação popular. Estas unidades operam no primeiro nível de atenção e serviços, fornecendo atenção integral e organizada aos indivíduos e suas famílias de forma gratuita, analisando o ambiente em que vivem e promovendo a qualidade de vida da comunidade.
O PSF facilita a compreensão do paciente em seu contexto de vida. Visitas domiciliares, por exemplo, permitem identificar os componentes de cada núcleo fami- liar e casos de morbidade, avaliar as condições higiênico-sanitárias e ambientais, e criar um vínculo entre as unidades de saúde e as famílias. Isso também permite a transferência de informações sobre os serviços disponíveis, cadastramentos e locais de atuação.
A Tabela 13 apresenta o número de famílias e indivíduos cadastrados por Uni- dades de Saúde que compõem o PSF, em Iúna. A sigla ESF significa "Estratégia de Saúde da Família". Trata-se de uma abordagem do sistema de saúde público no Bra- sil, onde equipes multidisciplinares, compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, atuam em áreas específicas para promover a saúde preventiva e prestar cuidados primários de saúde à população. A ESF é uma estratégia fundamental do Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir o acesso universal e contínuo aos serviços de saúde.
Tabela 13 – Famílias e Indivíduos cadastrados por Unidade.
| Famílias | Indivíduos | Famílias | Indivíduos |
| Unidade de Saúde | 2022 | 2023 |
| ESF Centro Municipal de Iúna | 1266 | 3117 | 1199 | 3194 |
| ESF Guanabara | 1392 | 3833 | 1385 | 3782 |
| ESF Nossa Sra. Das Graças | 912 | 2479 | 663 | 1762 |
| ESF Pito | 1590 | 4266 | 689 | 1870 |
| ESF Quilombo | 779 | 2022 | 800 | 2094 |
| ESF Vila Nova | 1043 | 2754 | 1040 | 2819 |
| ESF Pequiá | 1585 | 4492 | 1205 | 3391 |
| Unidade Sanitária de Trindade | 757 | 2133 | 553 | 1551 |
| TOTAL | 9324 | 25096 | 7534 | 20463 |
A tabela acima indica uma redução de 19,20% no número de famílias cadas- tradas entre 2023 e 2022, resultando em 1.790 famílias e 4.633 indivíduos a menos. Considerando a população recenseada pelo IBGE em 2022, que foi de 28.509 pessoas, temos um total de 8.046 indivíduos, ou seja, 28,22% da população, que não estão vinculados a um agente comunitário de saúde (ACS).
Esse elevado número de indivíduos não cadastrados deve-se à existência de 14 microáreas desprovidas de agentes de saúde. Além das famílias residentes originalmente nessas microáreas, que não estão cadastradas ou vinculadas, as famílias de áreas adjacentes que migram para essas microáreas também deixam de ser vinculadas pelos seus antigos ACS, contribuindo para o aumento do número de indivíduos não cadastrados.
a) Morbidade de doenças relacionadas com a falta de saneamento básico
A Tabela 14 demonstra a ocorrência de diversas doenças relacionadas à falta ou precariedade de saneamento básico no município de Iúna.
Tabela 14 – Notificações de doenças ligadas a falta ou precariedade de saneamento básico no município de Iúna.
| Doenças | 2023 | 2024 |
| Notificadas: 721 | Notificadas: 264 | |
| DENGUE | Confirmadas: 302 | Confirmados: 37 |
| Óbitos: 01 | Óbitos: 00 | |
| Notificadas: 19 | Notificadas: 03 | |
| ESQUISTOSSOMOSE | Confirmadas: 19 | Confirmados: 03 |
| Óbitos: 00 | Óbitos: 00 | |
| Notificadas: 01 | Notificadas: 00 | |
| HEPATITES VIRAIS | Confirmadas: 01 | Confirmados: 00 |
| Óbitos: 00 | Óbitos: 00 | |
| Notificadas: 01 | Notificadas: 01 | |
| MENINGITE | Confirmadas: 00 | Confirmados: 00 |
| Óbitos: 00 | Óbitos: 00 | |
| Notificadas: 491 | Notificadas: 224 | |
| DIARREIA | Confirmadas: 491 | Confirmados: 224 |
| Óbitos: 00 | Óbitos: 00 | |
| Notificadas: 02 | Notificadas: 01 | |
| LEISHMANIOSE | Confirmadas: 01 | Confirmados: 01 |
| Óbitos: 00 | Óbitos: 00 |
Observa-se uma redução significativa no número de notificações de dengue de 2023 para 2024, bem como uma diminuição no número de casos confirmados. No entanto, é importante destacar que a presença contínua de doenças como esquistossomose, diarreia e leishmaniose aponta para a necessidade de melhorias nas condições de saneamento básico e na vigilância epidemiológica do município.
A dengue, uma das doenças mais prevalentes, mostra uma redução nas notificações e casos confirmados, o que pode ser resultado de intervenções de controle de vetores e campanhas de conscientização. Entretanto, a persistência de notificações e a ocorrência de um óbito em 2023 evidenciam a necessidade de manter e intensificar essas ações.
A esquistossomose, apesar de um número relativamente baixo de casos, requer atenção contínua devido ao seu potencial impacto na saúde pública. A hepatite viral e a meningite apresentaram poucos casos notificados e confirmados, mas sua presença reforça a importância de um monitoramento contínuo.
Casos de diarreia permanecem elevados, indicando problemas persistentes na qualidade da água e no saneamento básico. Este é um indicador crucial de saúde pública que precisa ser abordado com urgência para prevenir surtos maiores e reduzir a morbidade associada.
Em resumo, os dados evidenciam a necessidade de investimentos em infraestrutura de saneamento básico e em programas de saúde pública que visem a redução das doenças relacionadas à falta de saneamento adequado. A vigilância constante e as medidas preventivas são essenciais para melhorar a qualidade de vida da população de Iúna.
4.3.10 Vulnerabilidade Social
O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) é um importante indicador utilizado pelos governos para compreender e analisar as condições de vida das diferentes camadas socioeconômicas de uma população. Ele permite identificar quais grupos estão em situação de vulnerabilidade e risco social, fornecendo insights valiosos para o desenvolvimento de políticas públicas mais direcionadas e eficazes.
O IVS é calculado com base em uma série de variáveis relacionadas à renda, educação, trabalho e moradia das pessoas e famílias. Essas variáveis são escolhidas por sua relevância na determinação do grau de vulnerabilidade social de um determi- nado grupo ou comunidade. Por exemplo, a renda pode indicar a capacidade financeira de uma família para atender às suas necessidades básicas, enquanto a educação pode influenciar as oportunidades de emprego e ascensão social.
Ao considerar esses diferentes aspectos, o IVS oferece uma visão abrangente das condições de vida das populações, ajudando os governos a identificar áreas ou grupos específicos que requerem intervenções prioritárias. Isso pode incluir a imple- mentação de programas de assistência social, melhoria da infraestrutura educacional, criação de oportunidades de emprego e habitação acessível, entre outras medidas (ATLAS BRASIL, 2024).
Para estas quatro dimensões de indicadores (renda, educação, trabalho e mo- radia), destacam-se para o município os resultados apresentados na Tabela 15.
Tabela 15 – Indicadores de Vulnerabilidade Social em Iúna.
| Indicadores | Ano |
| 2000 | 2010 |
| % de crianças de 0 a 5 anos de idade que não frequentam a escola | 91,99 | 72,00 | |
| Crianças e Jovens | % de 15 a 24 anos de idade que não estudam nem trabalham em domicílios vulneráveis à pobreza | 11,18 | 12,32 |
| % de crianças com até 14 anos de idade extremamente pobres | 11,87 | 7,28 | |
| % de pessoas de 18 anos ou mais sem ensino fundamental completo e em ocupação informal | 68,73 | 53,38 | |
| Adultos | % de mães chefes de família, sem fundamental completo e com pelo menos um filho menor de 15 anos de idade | 9,73 | 16,09 |
| % de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e dependentes de idosos | 2,52 | 2,64 | |
| % de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e que gastam mais de uma hora até o trabalho | - | 0,38 | |
| Condição de Moradia | % da população que vivem em domicílios com banheiro e água enca- nada | 93,70 | 91,60 |
A análise da vulnerabilidade social no município de Iúna revela uma dinâmica complexa, refletida em diversos indicadores socioeconômicos ao longo do período considerado.
Primeiramente, destaca-se a redução significativa no percentual de crianças extremamente pobres, que diminuiu de 11,87% para 7,28% entre os anos de 2000 e 2010. Esse resultado sugere uma melhoria nas condições de vida de uma parcela importante da população infantil, possivelmente relacionada a políticas públicas voltadas para o combate à pobreza infantil.
No entanto, é preocupante observar o aumento no percentual de mães chefes de família sem fundamental completo e com filhos menores de 15 anos, que passou de 9,73% para 16,09% no mesmo período. Esse aumento pode indicar desafios adicionais enfrentados por famílias chefiadas por mulheres, como acesso limitado à educação e oportunidades de emprego adequadas.
Além disso, o crescimento no percentual de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam nem trabalham e são vulneráveis à pobreza, de 11,18% para 12,32%, sugere a existência de obstáculos para a inserção desses jovens no mercado de trabalho ou no sistema educacional, o que pode comprometer seu futuro socioeconômico.
Por fim, a redução no percentual da população em domicílios com banheiro e água encanada, de 93,70% em 2000 para 91,60% em 2010, indica desafios persistentes relacionados à infraestrutura básica e acesso a serviços essenciais. Essa diminuição pode estar associada a questões como urbanização desordenada, falta de investimentos em saneamento básico e desigualdades no acesso a serviços públicos.
4.3.11 Perfil Industrial
O perfil industrial de Iúna reflete uma economia diversificada, com ênfase significativa no setor agropecuário. Este setor desempenha um papel fundamental na economia local, contribuindo com 21,7% do valor adicionado bruto total e consolidando a cidade como uma das principais produtoras do estado. Destaca-se especialmente a produção de café, com uma expressiva colheita total de 18.120 mil toneladas registrada em 2021 (SEBRAE, 2023).
Apesar da relevância da agropecuária, a economia de Iúna também abrange outros setores, embora apresente desafios em termos de emprego formal e remuneração. Com 2,9 mil empregos formais registrados, a cidade tem uma ocupação predominante nos seguintes segmentos: vendedor de comércio varejista, faxineiro e professor de nível superior do ensino fundamental. No entanto, a remuneração média dos trabalhadores formais fica abaixo da média estadual, totalizando R$ 2 mil (SEBRAE, 2023).
Em termos de distribuição de renda, observa-se uma concentração relativa- mente baixa entre as classes econômicas, com as faixas de menor poder aquisitivo representando 68,9% do total de remunerações (SEBRAE, 2023). As atividades que mais empregam incluem administração pública, apoio à gestão de saúde e comércio varejista de supermercados.
O setor de comércio e serviços desempenha um papel significativo na economia de Iúna, representando 41% do total de trabalhadores. Este setor é caracterizado pela diversidade, com a presença de 39 modalidades diferentes de comércio na cidade. Destacam-se os supermercados, lojas de variedades, e lojas de roupas e calçados, que juntos empregam 372 trabalhadores (SEBRAE, 2023).
A diversidade do comércio e serviços torna a concorrência mais acirrada, com Iúna apresentando um maior grau de desenvolvimento comercial em comparação com municípios de tamanho similar. Alguns setores se destacam com operações de maior volume de trabalhadores per capita, como o comércio atacadista de roupas e cosméticos e o comércio atacadista de grãos e insumos agrícolas.
Por outro lado, há segmentos com potencial para novos investimentos, como os restaurantes e bares, as clínicas médicas, e os supermercados e lojas de variedades. No entanto, é importante observar que algumas atividades, como o comércio de veículos, o comércio atacadista de máquinas, o comércio atacadista de madeira e material de construção, e os campings e albergues, ainda não demonstraram vínculos formais de emprego na cidade, apesar de serem comuns em municípios de tamanho similar.
4.3.12 Infraestrutura, Serviços Públicos, calendário festivo e seus impactos nos Serviços de Saneamento Básico
No contexto municipal, a interseção entre infraestrutura, equipamentos públicos e eventos festivos apresenta desafios significativos para a prestação eficaz de serviços de saneamento básico.
Durante períodos de eventos festivos, como festas tradicionais ou sazonais, a demanda por serviços públicos, como o fornecimento de água potável e a coleta de esgoto, tende a aumentar consideravelmente. Esta sobrecarga sazonal pode sobre- carregar as infraestruturas existentes, resultando em interrupções no fornecimento ou, em casos extremos, falhas no sistema de saneamento. Nesse cenário, a capacidade das estações de tratamento de água e esgoto para lidar com picos de demanda torna- se fundamental para a manutenção da qualidade e continuidade dos serviços.
Portanto, é imperativo que o diagnóstico municipal em Iúna aborde detalhadamente a infraestrutura de saneamento existente, identificando possíveis gargalos e vulnerabilidades.
No diagnóstico, apresentado nos próximos capítulos, serão detalhados os equipamentos, a infraestrutura existente e os impactos provocados pelo calendário festivo no município, especialmente no que diz respeito aos serviços de saneamento básico.
Em relação às características dos domicílios de Iúna, o último Censo de 2022 apresentou os seguintes resultados em relação aos serviços de saneamento básico:
Tabela 16 – Dados de saneamento do município de Iúna.
| Característica | Não possui (%) | Possui (%) |
| Conectados à rede de esgoto | 43,03 | 56,97 |
| Abastecidos pela rede geral de água | 38,48 | 61,52 |
| Têm banheiro de uso exclusivo | 0,07 | 99,93 |
| Têm coleta de lixo | 17,87 | 82,13 |
Os dados revelam uma realidade preocupante em relação à infraestrutura básica de habitação em uma parcela da população. A baixa porcentagem de domicílios conectados à rede de esgoto (56,97%) e abastecidos pela rede geral de água (61,52%) indica uma deficiência significativa no acesso a serviços essenciais de saneamento. No entanto, um ponto positivo nessas estatísticas é que 99,93% das moradias possuem banheiro de uso exclusivo, demonstrando um avanço importante em termos de condições básicas de higiene e privacidade. Além disso, um percentual bastante alto dos domicílios, 82,13%, conta com coleta de lixo, o que contribui para a gestão adequada dos resíduos e para a promoção de ambientes mais saudáveis.
Considerando o conceito de universalização dos serviços de saneamento público, é evidente que ainda há um longo caminho a percorrer para garantir que todos os domicílios tenham acesso a esses serviços essenciais. A universalização implica que todos os indivíduos tenham acesso equitativo e adequado a serviços de água potável, esgoto, coleta de lixo e instalações sanitárias. Portanto, os dados destacam a necessidade de políticas e investimentos contínuos para melhorar a infraestrutura urbana e garantir que todos os cidadãos tenham acesso a condições de vida adequadas e dignas.
A falta de universalização dos serviços de saneamento básico pode ser atribuída a uma série de fatores, incluindo desigualdades socioeconômicas, políticas públicas inadequadas, falta de investimentos em infraestrutura, crescimento urbano desor- denado, e desafios geográficos ou ambientais.
Desigualdades socioeconômicas podem resultar em comunidades marginalizadas que não têm acesso a serviços básicos de saneamento devido a questões de renda, falta de propriedade legal da terra ou discriminação. Políticas públicas inadequadas ou falta de investimento podem resultar em sistemas de saneamento subdesenvolvidos ou inadequados para atender às necessidades da população.
O crescimento urbano desordenado pode levar à expansão de assentamentos informais sem infraestrutura básica adequada. Além disso, desafios geográficos, como áreas de difícil acesso ou vulneráveis a desastres naturais, podem dificultar a instalação de redes de saneamento. Esses são apenas alguns dos muitos fatores que podem contribuir para a falta de universalização dos serviços de saneamento básico em determinadas áreas.
4.4 ASPECTOS AMBIENTAIS
4.4.1 Clima
A classificação climática desempenha um papel fundamental na compreensão e organização dos diferentes tipos de clima encontrados em diversas regiões do mundo. Elementos como temperatura, precipitação, radiação solar e padrões de vento são considerados na classificação, que visa agrupar esses elementos de forma a caracterizar os distintos climas. O sistema de Köppen–Geiger é amplamente utilizado na climatologia, ecologia e geografia devido à sua simplicidade, praticidade e fundamentação científica.
Inicialmente proposto em 1900, o sistema de Köppen–Geiger estabeleceu uma relação entre os tipos de clima e os padrões de vegetação, utilizando critérios numéricos para definir categorias climáticas. Entretanto, em algumas situações, esse sistema pode não oferecer parâmetros suficientemente precisos para diferenciar regiões e biomas distintos, devido à sua natureza genérica.
Ayoade (1996) destaca que o modelo original de Köppen–Geiger se baseou nas zonas de vegetação delineadas no mapa elaborado por Alphonse de Candolle. Posteriormente, em 1918, o sistema foi revisado para dar maior ênfase à temperatura, precipitação pluvial e suas variações sazonais. Nesse contexto, foram estabelecidos cinco principais tipos climáticos, cada um representado por uma letra maiúscula, como mostrado no Quadro 6.
Quadro 6 – Tipos climáticos segundo classificação de Köppen–Geiger.
| Tipo Climático | Descrição | Características |
| A | Climas tropicais chuvosos | O mês mais frio tem temperatura média supe- rior a 18ºC. A precipitação pluvial é maior que a evapotranspiração anual, prejudicando a sobrevivência de algumas plantas tropicais |
| B | Climas secos | A evapotranspiração média anual é maior do que a precipitação anual |
| C | Climas temperados chuvosos e moderadamente quentes | A temperatura média varia entre -3ºC e 18ºC no mês mais frio |
| D | Climas frios com neve-floresta | A temperatura média é abaixo de -3ºC no mês mais frio e acima de 10ºC no mês mais quente |
| E | Climas polares | A temperatura média é menor do que 10ºC no mês mais moderadamente quente |
Seguido desta classificação, adicionou-se um grupo de climas de terras-altas, que ficou representado pela letra H. Esta classificação ainda passou a ter duas sub- divisões. A primeira realizada pela distribuição sazonal de precipitação, como pode- se visualizar abaixo:
f – Úmido o ano todo (A, C, D);
m – De monção, breve estação seca com chuvas intensas durante o resto do ano (A);
w – Chuva de verão (A, C, D);
S – Estação seca de verão (B);
W – Estação seca de inverno (B).
A Figura 6 mostra o Brasil de acordo com a classificação climática de Köppen- Geiger.
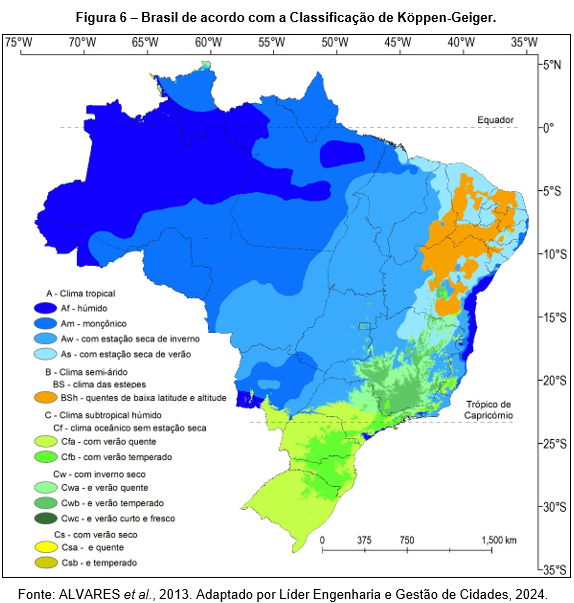
Após esse entendimento sobre a classificação climática de Köppen-Geiger, é possível classificar o clima predominante dos municípios brasileiros. Sabe-se que o clima de uma região é determinante para as atividades econômicas nela desenvolvi- das, assim como o tipo de vegetação predominante e o tipo de solo.
De acordo com essa classificação, no município de Iúna possui dois tipos cli- máticos em sua área, Cwa e Cwb, conforme mostrado no mapa da Figura 7.
O clima subtropical úmido influenciado pelas monções (classificado como Cwa) apresenta características climáticas distintas que o definem. A média do mês mais frio fica acima de 0 °C ou −3 °C, o que contribui para um inverno relativamente ameno. Pelo menos um mês registra uma temperatura média acima de 22 °C, indicando a presença de períodos quentes ao longo do ano. Adicionalmente, pelo menos quatro meses apresentam uma média de temperatura superior a 10 °C, evidenciando a pre- dominância de temperaturas moderadas ou quentes durante grande parte do ano.
No contexto desse clima, o verão se destaca por ser pelo menos dez vezes mais chuvoso do que o inverno, que é caracteristicamente seco. Aproximadamente 70% da precipitação ocorre durante os meses mais quentes, enquanto apenas 30% cai nos meses mais frios. Essa distribuição desigual de chuva ao longo do ano exerce um impacto significativo nas condições de umidade e no ciclo hidrológico da região, influenciando o desenvolvimento da vegetação, as atividades agrícolas e a disponibi- lidade de água para diversos fins.
O clima Cwb, conhecido como clima subtropical de altitude ou clima oceânico temperado influenciado pelas monções, apresenta características específicas que o distinguem. Seu mês mais frio registra uma média de temperatura acima de 0 °C ou −3 °C, o que contribui para um inverno relativamente ameno. Todos os meses do ano possuem temperatura média abaixo de 22 °C, indicando um padrão de temperaturas mais moderadas ao longo do ano. Além disso, pelo menos quatro meses apresentam uma média de temperatura acima dos 10 °C, destacando a presença de períodos mais quentes durante uma parte significativa do ano.
Essas características climáticas definem o clima Cwb como uma transição entre o clima subtropical e o clima oceânico temperado, influenciado pelas monções. A combinação de temperaturas relativamente amenas, com invernos suaves e verões moderadamente quentes, juntamente com uma distribuição equilibrada de chuvas ao longo do ano, tem um impacto significativo nas condições ambientais e na vegetação da região.
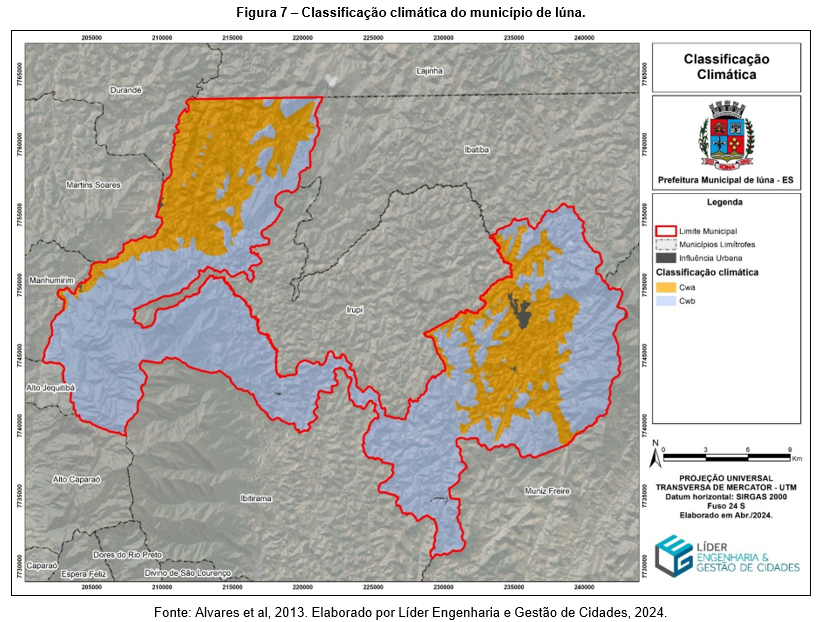
Em Iúna, de acordo com dados de 1991 a 2021 apresentados na Tabela 17 e Gráfico 7, fevereiro é o mês mais quente do ano, com uma temperatura média de 22,3 °C, enquanto julho apresenta a temperatura média mais baixa, registrando 16,8 °C. A flutuação das temperaturas ao longo do ano é denominada variação de temperatura, sendo perceptível uma diminuição significativa nos níveis de precipitação durante o inverno, em comparação com os meses de verão. Anualmente, Iúna recebe uma média de 1116 mm de precipitação.
Localizada no hemisfério sul, a estação do verão se estende de janeiro a dezembro. Os meses mais favoráveis para visitação são fevereiro, março, abril e outubro. Junho é o mês mais seco, com apenas 17 mm de precipitação, enquanto dezembro registra a maior quantidade de chuva, com uma média de 236 mm.
Observou-se que dezembro apresenta a maior umidade relativa, atingindo cerca de 79,60%, enquanto setembro possui a umidade mais baixa, com aproximada- mente 70,34%. Em relação aos dias de chuva, dezembro registra o máximo, com uma média de 18.83 dias de chuva, enquanto julho possui o mínimo de precipitação durante seu período, com apenas 3,57 dias.
Tabela 17 – Médias mensais de precipitação e temperatura de Iúna.
| MÊS | MÍNIMA (°C) | MÁXIMA (°C) | MÉDIA (°C) | PRECIPITAÇÃO (MM) | UMIDADE |
| JANEIRO | 18,5 | 26,5 | 22,1 | 151 | 76% |
| FEVEREIRO | 18,5 | 26,9 | 22,3 | 98 | 73% |
| MARÇO | 18,3 | 26 | 21,7 | 134 | 78% |
| ABRIL | 17 | 24,6 | 20,3 | 69 | 79% |
| MAIO | 14,8 | 22,5 | 18,2 | 37 | 77% |
| JUNHO | 13,7 | 21,8 | 17,3 | 17 | 77% |
| JULHO | 13,1 | 21,5 | 16,8 | 17 | 75% |
| AGOSTO | 13,4 | 22,5 | 17,4 | 21 | 71% |
| SETEMBRO | 14,7 | 23,9 | 18,8 | 49 | 70% |
| OUTUBRO | 16,4 | 24,9 | 20,2 | 101 | 72% |
| NOVEMBRO | 17,2 | 24,4 | 20,3 | 186 | 79% |
| DEZEMBRO | 18,2 | 25,5 | 21,4 | 236 | 80% |
| MÉDIA ANUAL | 17 | 26 | 20 | 1116 | 76% |
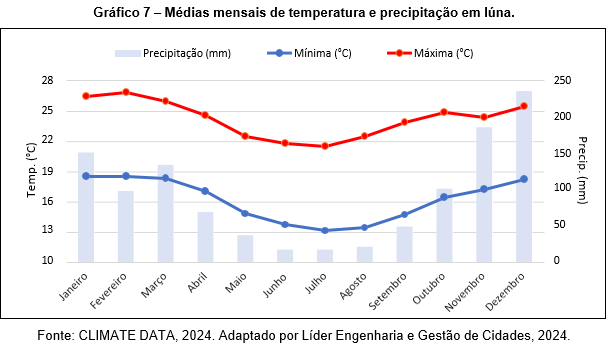
4.4.2 Hidrografia
Os recursos hídricos do município de Iúna contribuem para a formação de duas importantes bacias hidrográficas: a bacia do rio Itapemirim e a bacia do rio Doce (subbacia do rio Manhuaçu). A bacia do rio Itapemirim é caracterizada pela presença de numerosas nascentes bem distribuídas em seu território, dando origem a diversos mananciais, tais como o Córrego da Anta, o Ribeirão da Perdição e o Córrego Jatobá. A área municipal da Sede de Iúna é cortada pelo Rio Pardo, e ao norte o município tem seu limite passando pelo Rio José Pedro, tendo seus afluentes da margem direita pertencentes ao limite municipal de Iúna, e da margem direita pertencentes aos municípios do estado de Minas Gerais.
A Figura 8 destaca os principais cursos d’água dentro da área do município.
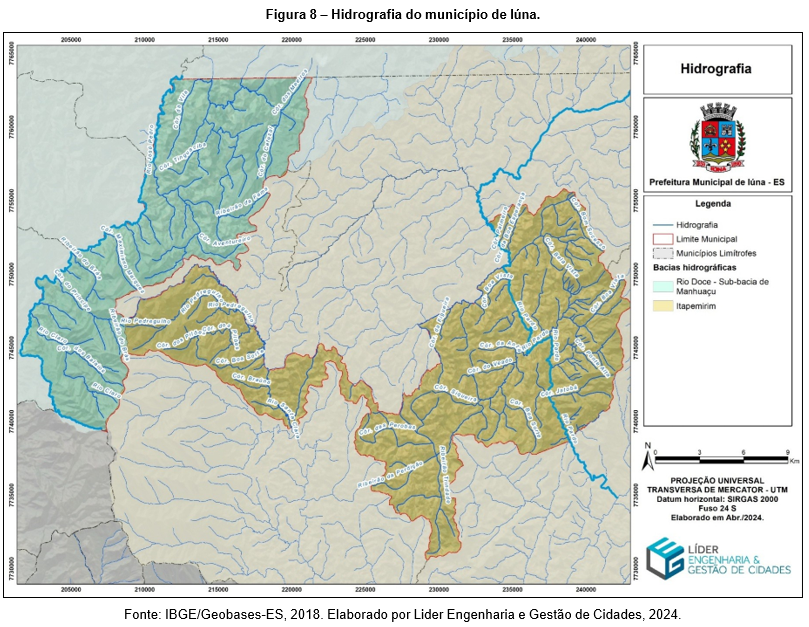
a) Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim
A região hidrográfica que configura a paisagem do município é composta pela bacia do rio Itapemirim, abrangendo uma área de 185 km². Destacam-se como principais cursos d'água os rios Pardo, Pardinho e Santa Clara.
A bacia do Rio Itapemirim abrange 17 municípios do Espírito Santo (Alegre, Atílio Vivacqua, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Muniz Freire, Muqui, Vargem Alta, Presidente Kennedy e Venda Nova do Imigrante), além do município de Lajinha, em Minas Gerais. Esta abrangência totaliza aproximadamente 500 mil habitantes e uma área de drenagem de cerca de 6.014 km². As nascentes mais remotas e relevantes situam-se no Parque Nacional do Caparaó (Espírito Santo) e em Lajinha (Minas Gerais).
O rio principal é o Rio Itapemirim, com uma vazão média de 94.709 m³/s e uma extensão de 135,44 km a partir da confluência de dois rios: o Braço Norte Esquerdo, com 83,28 km, e o Braço Norte Direito, com 70,95 km. Sua foz localiza-se no município de Itapemirim. Os principais afluentes incluem os Rios Castelo, Muqui do Norte, Braço Norte Direito, Fruteiras, Pardo, São João de Viçosa, Caxixe, Prata, Alegre, Pardinho, Monte Alverne, Pedra Roxa e Pedregulho.
A bacia hidrográfica do Rio Itapemirim (Figura 9) abrange uma área de aproximadamente 5.919,5 km², englobando integralmente os municípios de Alegre, Atílio Vivacqua, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Ibitirama, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Muniz Freire e Venda Nova do Imigrante, além de abranger parcialmente os municípios de Ibatiba, Iúna, Irupi, Muqui, Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy e Vargem Alta.
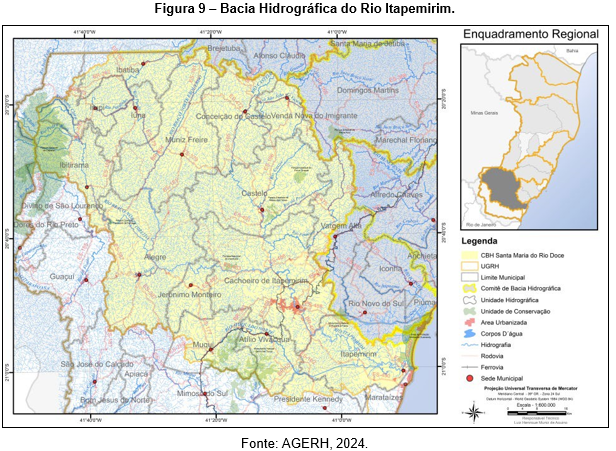
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim, denominado CBH Rio Itapemirim, estabelecido por meio do Decreto nº 1703-R, de 19 de julho de 2006, é um órgão colegiado regional, tripartite e paritário, dotado de caráter consultivo, delibera- tivo e normativo. Integrante do Sistema Integrado de Gerenciamento e Monitoramento dos Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo - SIGERH/ES, sua atuação concentra-se na Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim, regendo-se pelo Código Civil Brasileiro vigente, pela legislação pertinente e pelo presente Regimento Interno.
O CBH Rio Itapemirim tem como área de atuação a totalidade da Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim, situada no Estado do Espírito Santo, sendo a sede definida por meio de eleição pela plenária do Comitê. As expressões "Comitê da Bacia Hidro- gráfica do Rio Itapemirim" e "CBH Rio Itapemirim" possuem equivalência passiva e ativa para todos os efeitos jurídicos, organizacionais, administrativos e gerenciais.
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim (CBH Rio Itapemirim) tem como objetivos promover o gerenciamento integrado e descentralizado dos recursos hídricos na região, reconhecendo-os como bens públicos de valor econômico. Busca- se também a defesa dos direitos relacionados aos recursos hídricos, incluindo a proteção contra poluição e eventos adversos, o apoio ao desenvolvimento regional sustentável, a maximização dos benefícios socioeconômicos do uso da água e a promoção da educação ambiental. O CBH Rio Itapemirim visa ainda garantir a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, apoiar ações de fiscalização ambiental e promover a articulação de iniciativas para conservação e proteção dos recursos naturais da região.
a) Bacia Hidrográfica do Rio Doce
A Bacia Hidrográfica do Rio Doce abrange uma área de drenagem de 86.715 km², sendo 86% localizados no Leste de Minas Gerais e 14% no Nordeste do Espírito Santo. Em Minas Gerais, é subdividida em seis Unidades de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos (UPGRHs), cada uma correspondendo a uma sub-bacia e seu respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH): Rio Piranga (DO1), Rio Piracicaba (DO2), Rio Santo Antônio (DO3), Rio Suaçuí (DO4), Rio Caratinga (DO5), Rio Manhu- açu (DO6). No Espírito Santo, não há subdivisões administrativas, existindo apenas os CBHs dos rios Guandu, Santa Joana, Santa Maria do Doce, Pontões e Lagoas do Rio Doce, e Barra Seca e Foz do Rio Doce.
O Rio Doce estende-se por 879 quilômetros, com suas nascentes localizadas nas Serras da Mantiqueira e do Espinhaço, em Minas Gerais.
b) Bacia Hidrográfica do Rio Manhuaçu
A Bacia Hidrográfica do Rio Manhuaçu (Figura 10) está situada inteiramente em Minas Gerais, abrangendo as regiões da Zona da Mata e Vale do Rio Doce, com uma área de 9.189 quilômetros quadrados. Como parte da Macrobacia do Rio Doce, engloba as sub-bacias dos rios Manhuaçu, Mutum, São Luís, Pocrane, Itueto, José Pedro e Capim, além de pequenos córregos como Barroso, Barrosinho, Sossego, Na- tividade, Santana, da Barata e Lorena.
O Rio Manhuaçu tem origem na Serra da Seritinga, na divisa entre os municí- pios de Divino e São João do Manhuaçu, estendendo-se por 347 km. Esta bacia abrange total ou parcialmente 28 municípios, incluindo Aimorés, Caratinga, Lajinha, Manhuaçu, Mutum e outros em Minas Gerais, e Ibatiba e Iúna, no Espírito Santo, totalizando uma população de aproximadamente 530 mil habitantes, conforme o Censo do IBGE de 2022.
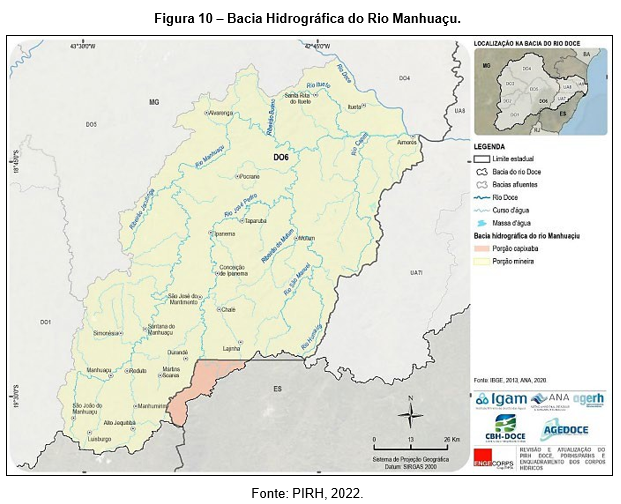
Embora a parcela capixaba da bacia represente apenas 2% de sua extensão total, várias correntes de água estão sob a jurisdição do estado do Espírito Santo na região das nascentes da bacia. Um exemplo é o rio José Pedro, um dos principais afluentes do rio Manhuaçu pela margem direita, que é de competência da União, pois parte de seu curso atravessa território capixaba antes de desaguar no rio Manhuaçu. A maior parte da bacia, ocupando 98% de sua área total, está situada em Minas Gerais e é delimitada e denominada pela Deliberação Normativa do Conselho Esta- dual de Recursos Hídricos de Minas Gerais nº 66/2020, como a Circunscrição Hidro- gráfica do Rio Manhuaçu, recebendo o código DO6 por ser um afluente do rio Doce.
Assim, a gestão da bacia hidrográfica do rio Manhuaçu é compartilhada entre a União e os estados de Minas Gerais e Espírito Santo.
Embora os interesses na conservação dos recursos hídricos nas cabeceiras da bacia afetem toda a região, incluindo a maior parte que está em Minas Gerais, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manhuaçu (CBH Manhuaçu) e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH Doce) não têm competência para deliberar sobre ações propostas e implementadas na área capixaba da bacia.
É importante destacar que os limites político-administrativos não necessariamente correspondem aos limites da bacia hidrográfica, e os cursos d'água refletem os processos naturais e intervenções humanas que ocorrem em toda a sua extensão, desde as nascentes até a foz.
A gestão integrada e participativa dos recursos hídricos é uma questão importante e complexa, amplamente discutida e priorizada em políticas ambientais globais. No entanto, implementar os princípios de gestão integrada, participativa e descentra- lizada tem sido um desafio para os sistemas de gerenciamento de recursos hídricos atuais. O Comitê de Bacia Hidrográfica, conforme definido pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente (IEMA), é um órgão colegiado que opera de forma democrática, visando gerenciar a água de maneira descentralizada, integrada e com a participação de todos os membros da sociedade envolvidos diretamente e localmente com os usos da água.
4.4.3 Geologia
Na área de estudo do município de Iúna, ES, diversos elementos geológicos compõem o seu arcabouço (Figura 11). Dentre essas formações, destacam-se a Formação Palmital do Sul, datada do período ediacardiano, com aproximadamente 584 +/- 5 milhões de anos (Ma). Esta formação é constituída por biotita xisto intercalado com rochas metavulcânicas de composição dacítica, gnaisses com quartzito micáceo, calcissilicáticas e talco xisto, sendo importante ressaltar que é nesta formação que se localiza o centro urbano do município (VIEIRA et al., 2018).
Outra formação relevante é o Grupo Raposo, também do período ediacardiano, com idade entre 584 e 642 Ma, composto por gnaisses kingzigíticos e biotita gnaisse. Além disso, o Granodiorito-diorito Galiléia, do mesmo período, por volta de 594 Ma, é caracterizado por granitoides predominantemente metaluminosos e calcialcalinos.
No período paleoproterozoico, destacam-se o Complexo Caparaó Granulito e Norito, com aproximadamente 2195 Ma, constituído por granulitos aluminosos, kinzi- gitos, noritos, enderbitos, charnokitos e charno-enderbitos, e o Complexo Ipanema, com idade entre 2050 e 2100 Ma, composto por biotita gnaisse, biotita-granada gnaisse e gnaisses miloníticos. O Complexo Serra do Valentim, com cerca de 2300 Ma, também é relevante, sendo constituído por noritos, enderbitos, charnokitos e charno-enderbitos.
Além dessas formações, há também os Depósitos aluvionares, formações mais recentes do período neógeno, com idade inferior a 10.000 anos, compostos por sedimentos fluviais de deltas dominados por processos fluviais e aluvionares de areia e cascalho. Por fim, as formações Córrego Neblina e Córrego dos Medeiros, ambas do período cambriano, completam o conjunto geológico da região, sendo associadas à Suíte Intrusiva Santa Angélica e ocorrendo em Maciços granitoides específicos da área de estudo.
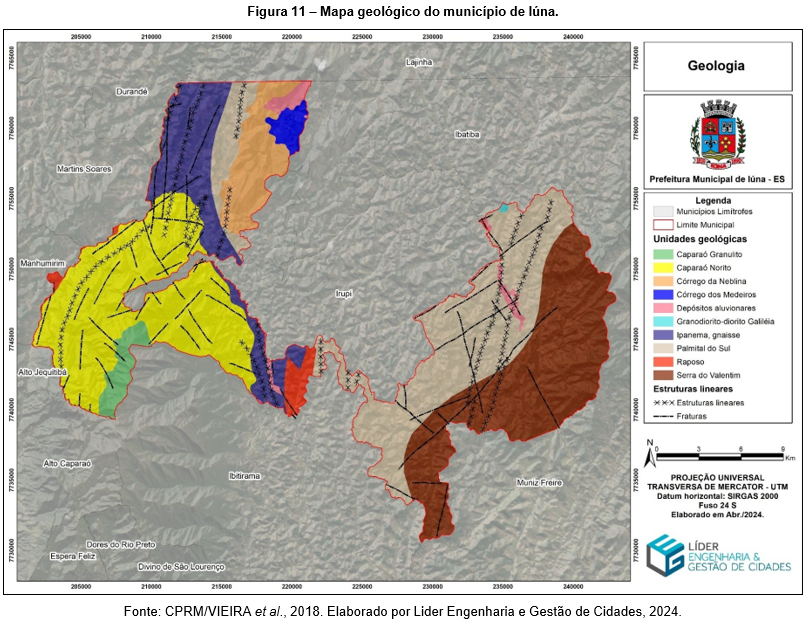
4.4.4 Geomorfologia
A geomorfologia de Iúna é marcada por características distintas que refletem a complexidade da sua paisagem. Os Pontões das Bacias dos Rios Doce e Itapemirim são áreas influenciadas por processos erosivos relacionados às variações climáticas e aos níveis de base dos rios circundantes. Essas regiões consistem em maciços residuais elevados, caracterizados por pontões rochosos e, em alguns casos, por topos parcialmente preservados (IJSN, 2012).
A Serra do Caparaó apresenta um relevo intensamente dissecado, com altitudes médias em torno de 600 metros. Destacam-se grandes elevações maciças, algumas ultrapassando os 2.000 metros de altitude. A combinação de influências dos eventos tectônicos sobre essas rochas e dos climas predominantemente úmidos é evidente nas formas de dissecação, que são intensamente orientadas por falhas in- tercruzadas, escarpas adaptadas e elevações residuais.
Os Patamares escalonados da Serra do Caparaó são distintivos na região sul de Iúna, destacando-se por apresentar níveis de dissecação escalonados que formam patamares. Esses patamares são delimitados por frentes escarpadas adaptadas a falhas, com orientação voltada para noroeste e caimento topográfico para sudeste, sugerindo blocos basculados devido a impulsos epirogenéticos relacionados com a atuação dos ciclos geotectônicos.
A Figura 12 mostra as unidades geomorfológicas descritas acima.
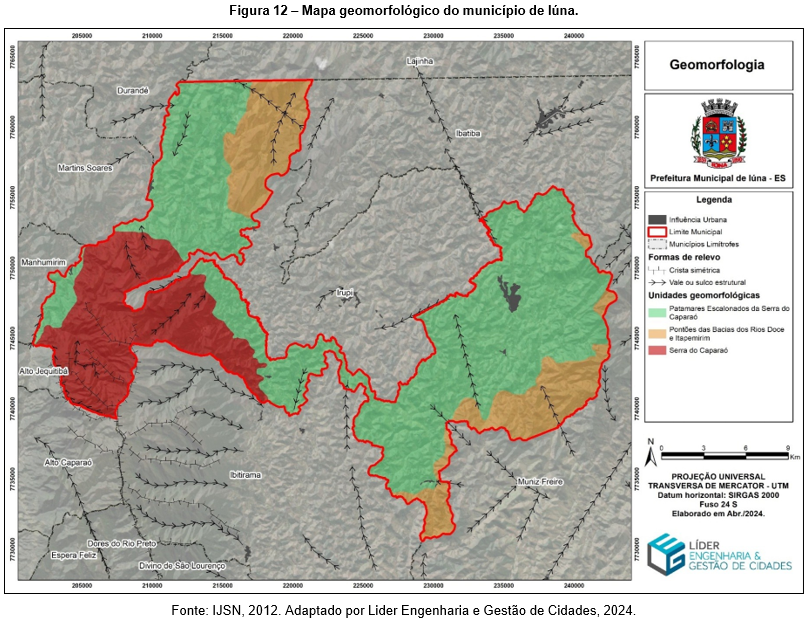
4.4.5 Declividade
No que tange ao declive do Município de Iúna, o Quadro 7 relaciona as classes de declividades com indicações gerais da adequabilidade e restrições para o planejamento.
Quadro 7 – Classes de declividade com indicações gerais da adequabilidade e restrições para o planejamento.
| Intervalos | Inclinações | Declividade | Indicações para o planejamento |
| 0 – 5% | 2°51’ | Áreas com muito baixa declividade. | Restrições à ocupação por dificuldades no escoamento de águas superficiais e subterrâneas |
| 5 – 10% | 2°51’ – 5°42’ | Áreas com baixa declividade. | Dificuldades na instalação de infraestrutura subterrânea como redes de esgoto e canalizações pluviais |
| 10 – 20% | 5°42’ – 11°18’ | Áreas com média declividade. | Aptas à ocupação considerando-se as de- mais restrições como: espessura dos solos, profundidade do lençol freático, susceptibilidade a processos erosivos, adequabilidade a construções |
| 20 – 30% | 11°18’ – 18°26’ | Áreas com alta declividade. | Restrições à ocupação sem critérios técnicos para arruamentos e implantação de infraestrutura |
| > 30% | > 18°26’ | Áreas com muito alta declividade | Inaptas á ocupação face aos inúmeros problemas apresentados |
A análise das classes de declividade apresentadas no Quadro 7 revela que o município de Iúna possui um relevo predominantemente declivoso. A maior parte do território apresenta uma inclinação superior a 30%, o que classifica essas áreas como de muito alta declividade, tornando-as inadequadas para ocupação devido aos diversos problemas associados a esse tipo de relevo.
Os intervalos de declividade estabelecidos no quadro indicam as restrições e adequações para o planejamento urbano e rural. Nas áreas com declividade entre 20% e 30%, por exemplo, há restrições significativas para a ocupação, especialmente em relação à implantação de infraestrutura em loteamentos, devido à alta inclinação do terreno. Já nas áreas com declividade acima de 30%, as restrições são ainda mais severas, sendo consideradas inaptas para ocupação devido aos desafios apresenta- dos pelo relevo muito íngreme.
A análise dos mapas de declividade (Figura 13) e hipsometria (Figura 14) do município confirma essa característica, evidenciando um relevo marcado por elevações pronunciadas e altitudes que variam significativamente, indo de 472 a 2639 me- tros. Essa topografia íngreme pode representar desafios para o planejamento urbano e rural, exigindo cuidados especiais na ocupação e no uso do solo.
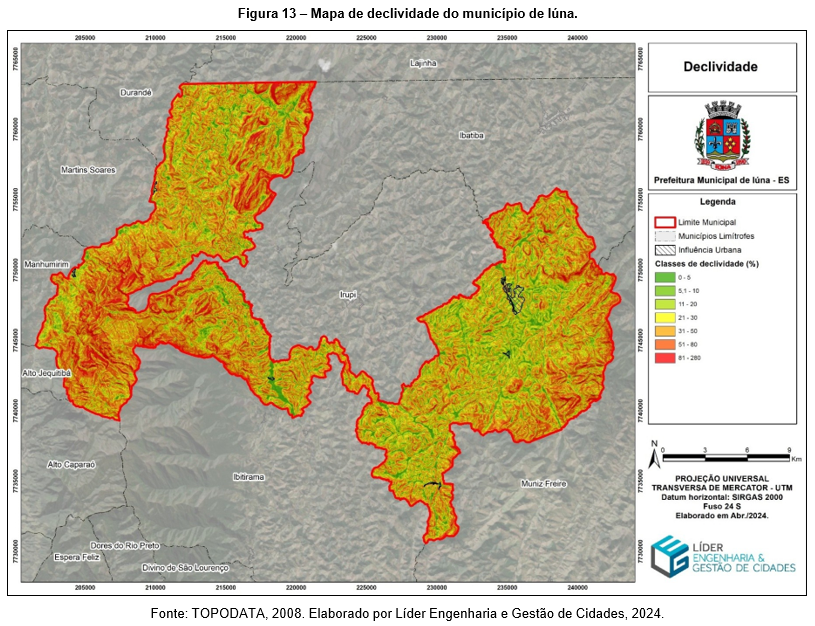
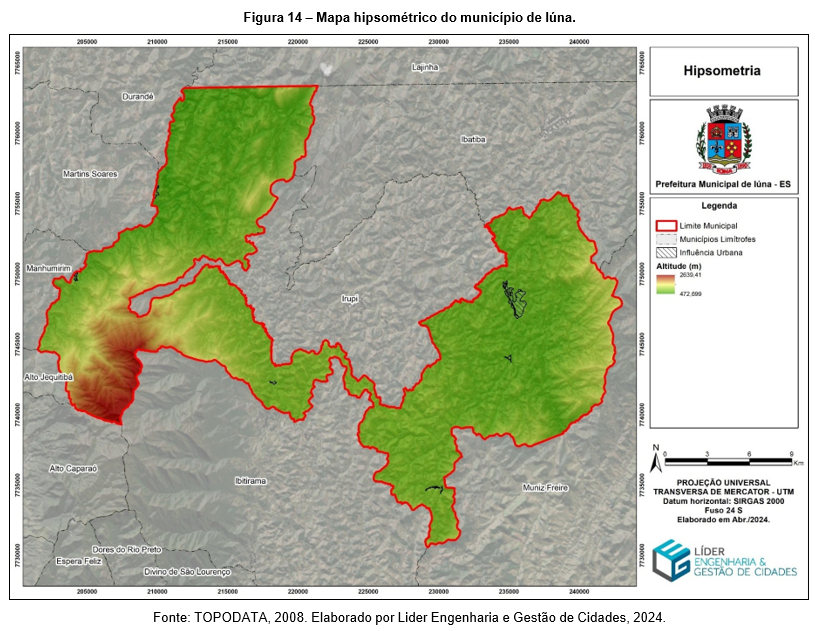
4.4.6 Solos
O município de Iúna abrange diversos tipos de solo em sua área, cada um com características e propriedades distintas (SANTOS et al., 2006):
Argissolos Vermelhos: estes solos são encontrados em ambientes bem drenados e se destacam pela alta concentração e natureza dos óxidos de ferro. Sua fertilidade natural varia consideravelmente devido à diversidade dos materiais de origem. São comuns em áreas de relevo ondulado e menos inclinado, facilitando a mecanização, porém, podem apresentar limitações em terrenos mais acidentados devido à deficiência de fertilidade.
Latossolos: com horizonte B latossólico imediatamente abaixo do horizonte superficial, exceto o horizonte hístico, esses solos variam de fortemente a bem drenados. Podem apresentar cores pálidas, indicativas de drenagem moderada ou imperfeita, sugerindo formação em condições de gleização.
Latossolos Amarelos: caracterizados pela boa capacidade de retenção de umidade e permeabilidade, são amplamente utilizados para culturas como cana-de-açúcar, pastagens, mandioca, abacaxi, coco e citros, além de reflorestamentos com eucalipto. Sua cor amarelada é uniforme em profundidade, assim como o teor de argila.
Cambissolos Háplicos: solos constituídos por material mineral com horizonte B, variando de fortemente a imperfeitamente drenados. Podem ser rasos a profundos, com textura franco-arenosa ou mais argilosa. Apresentam estrutura do horizonte B em blocos, granular ou prismática, podendo ser encontrados solos sem agregados, com grãos simples ou maciços.
Cambissolos Húmicos: caracterizados pela presença do horizonte A superficial húmico, com cor escura e rica em matéria orgânica. São mais comuns em áreas com climas frios de altitude ou subtropicais e geralmente têm baixa fertilidade, sendo utilizados principalmente para cultivos de subsistência, pastagens e reflorestamento.
Neossolos Litólicos: solos minerais desenvolvidos sobre rochas, geralmente rasos e encontrados em relevo forte ondulado a montanhoso. Podem apresentar rochas expostas e são comuns nos arredores de afloramentos rochosos.
Os termos eutrófico e distrófico estão diretamente relacionados à fertilidade natural do solo. A classificação como eutrófico indica que o solo possui uma alta fertilidade, ou seja, contém uma quantidade significativa de nutrientes essenciais para o crescimento das plantas. Por outro lado, o termo distrófico refere-se a solos com baixa fertilidade, ou seja, possuem uma quantidade limitada de nutrientes disponíveis para as plantas.
A Figura 15 apresenta o mapa de solos no município.
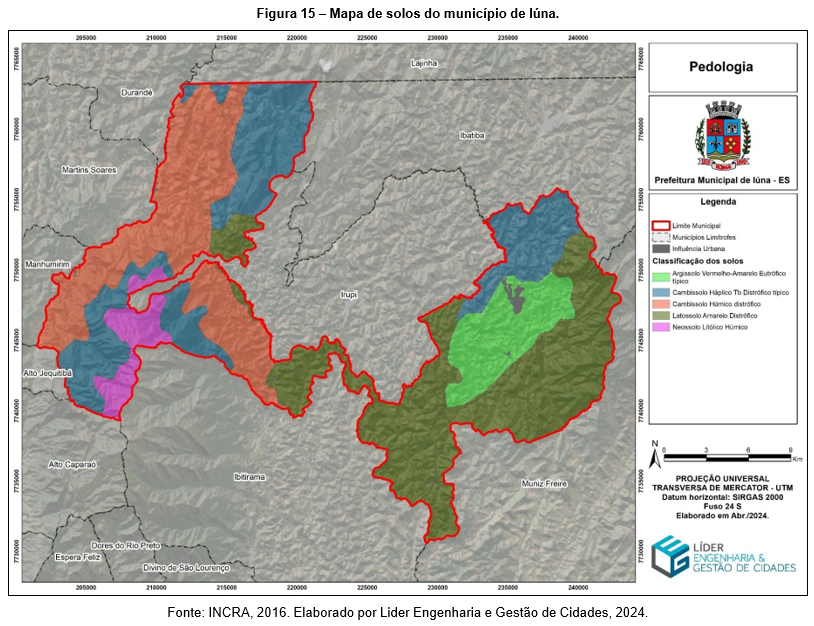
4.4.7 Fauna
A fauna no município de Iúna não é tão abundante quanto em áreas com vegetação natural primitiva, devido ao baixo percentual de vegetação nativa. No entanto, apesar das poucas áreas de florestas nativas encontradas, algumas pertencentes a proprietários rurais, têm servido de refúgio para diversas espécies animais.
Entre essas espécies, destacam-se o sagui-de-cara-branca (Callithix groffrayi), o barbado, o caxinguelê, a paca, o tatu e várias aves, como o caga-sebo (Coeriba faviola), o sanhação (Thraupia sayacco), beija-flores e o sabiá-da-praia, que antes só tinha ocorrência em florestas de restinga.
Além dessas, há uma variedade de animais invertebrados de fundamental importância para o equilíbrio dos ecossistemas locais. Não podemos deixar de mencionar também as diversas espécies de peixes que habitam os rios e córregos da região, como a tilápia, o acará, o dourado, entre outros. É importante ressaltar que as leis de proteção e proibição quanto à captura, comércio e abate de animais silvestres, aliadas à conscientização da população local, têm contribuído para o aumento das populações desses animais.
4.4.8 Flora
A vegetação se refere à cobertura de plantas, árvores, arbustos e outros tipos de vegetais que crescem em uma determinada área geográfica. A vegetação desempenha um papel essencial nos ecossistemas da Terra, desempenhando funções essenciais para o equilíbrio e a sustentabilidade do planeta.
A vegetação pode variar amplamente em termos de tipos de plantas, densidade e biodiversidade, dependendo das condições climáticas, geográficas e ecológicas de uma determinada área. Ela pode incluir florestas, matagais, pradarias, desertos, savanas, pântanos e outros tipos de ecossistemas vegetais, cada um com suas características distintas e funções ecológicas. A preservação e a gestão adequada da vegetação são essenciais para a conservação da biodiversidade e a sustentabilidade ambiental.
A referida é um dos atributos de maior significância da biota, por isso, sua conservação é essencial para manutenção de serviços ambientais, existência de hábitats para as espécies e garantia de bens necessários à sobrevivência humana. Sendo assim, é um tópico indispensável de análises para estabelecimento de políticas públicas que visem sua preservação e uso sustentável (MMA, 2023).
O município de Iúna está localizado dentro do bioma da Mata Atlântica, que apresenta uma diversidade de condições físicas em diferentes áreas. Embora o município tenha uma proporção reduzida de vegetação natural remanescente da Mata Atlântica de encostas (0,2%), os trechos preservados dessas áreas ainda conservam exemplares significativos e de valor botânico expressivo.
A localização estratégica de Iúna na região da Serra do Caparaó, aliada à sua proximidade com o Parque Nacional do Caparaó, contribui para a presença abundante de cursos d'água na área, resultando em belas cachoeiras e trechos com vegetação nativa ao longo das margens dos rios.
A preservação desses fragmentos de vegetação nativa em áreas de difícil acesso e terrenos rochosos tem sido fundamental para manter a biodiversidade local. Por outro lado, áreas que foram impactadas pela intervenção humana, como agricul- tura, pastagens e formação de vegetação secundária, refletem os efeitos da ocupação humana na paisagem e no ecossistema da região.
No município de Iúna é possível encontrar uma variedade de tipos de vegetação característicos da Mata Atlântica. Entre esses tipos de vegetação, destacam-se o refúgio vegetacional alto-montano herbáceo, que se desenvolve em áreas de maior altitude, acima de 1.500 metros, apresentando uma cobertura vegetal predominantemente herbácea e associada a campos de altitude e afloramentos rochosos (IBGE, 2012).
Além disso, temos a floresta ombrófila densa montana, que ocorre em áreas montanhosas, geralmente entre 500 e 1.500 metros de altitude. Essa formação florestal é densa e caracterizada por uma grande diversidade de espécies arbóreas, adaptadas a um ambiente úmido e sombreado (IBGE, 2012).
A floresta ombrófila densa, por sua vez, é uma das formações mais emblemáticas da Mata Atlântica, encontrada em áreas de relevo mais suave e em altitudes inferiores. Caracteriza-se pela presença de árvores de grande porte, uma densa ve- getação arbustiva e uma ampla diversidade de espécies.
Outro tipo de vegetação relevante é a vegetação secundária sem palmeiras, que surge após a perturbação do ecossistema primário, como desmatamento ou queimadas. Essa vegetação passa por um processo natural de regeneração, composta por uma mistura de espécies pioneiras e secundárias, com uma densidade arbustiva e arbórea menor do que a vegetação primária.
Por fim, em áreas onde os ecossistemas da Mata Atlântica se encontram com os da Floresta Estacional, ocorre um contato entre esses dois tipos de vegetação. Isso pode resultar em uma transição gradual entre as características e espécies das duas formações florestais, dependendo das condições ambientais locais. Essa diversidade de tipos de vegetação na Mata Atlântica de Iúna reflete a complexidade e a importância desse bioma na região.
A Figura 16 apresenta os tipos de cobertura vegetal presentes no município.
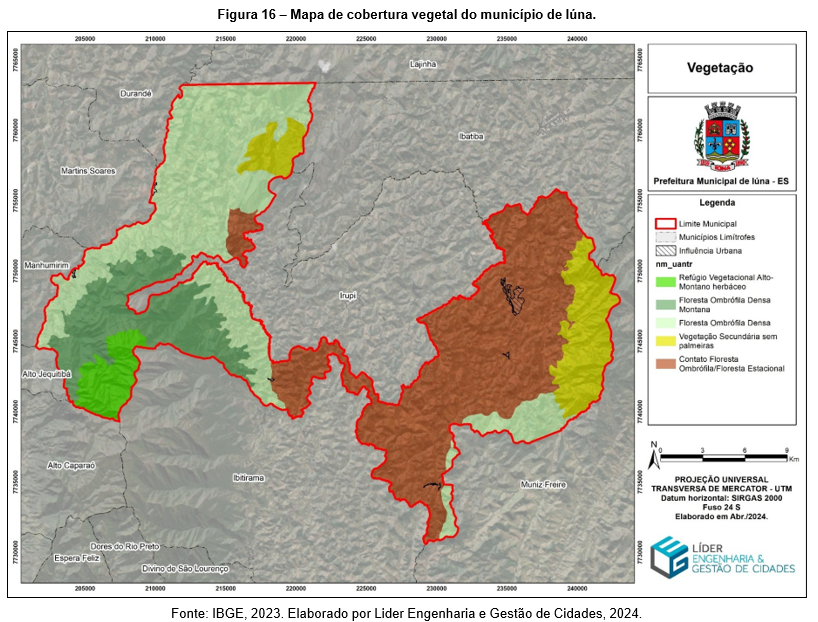
a) Uso e Cobertura
O Atlas da Mata Atlântica (IEMA, 2018) conduziu uma análise comparativa dos remanescentes florestais e das categorias de uso do solo associadas, com possibilidade de conversão para uso florestal, identificadas nas classificações de uso do solo realizadas sobre imagens adquiridas nos anos de 2007/2008 e 2012/2013/2014 para o município de Iúna.
No município de Iúna, foram observadas algumas mudanças nos remanescentes florestais. Um aumento de 0,1% foi registrado na categoria Mata Nativa, representando um acréscimo de 45,0 hectares. Por outro lado, as categorias Mata Nativa em Estágio Inicial de Regeneração, Macega e Pastagem apresentaram reduções de 0,6% (244,2 ha), 0,8% (369,2 ha) e 2,0% (930,9 ha), respectivamente.
O café, principal atividade agrícola do município, ocupou aproximadamente 27,7% do território nas imagens obtidas entre os anos de 2012 e 2014. Houve uma diminuição de 162,1 hectares nas áreas cultivadas com essa cultura. Em contrapartida, a eucaliptocultura teve um aumento expressivo, com um acréscimo de 965,7 hectares de área cultivada.
Com relação à categoria Mata Nativa em Estágio Inicial de Regeneração, foi observado que 75,6% dessas áreas mantiveram a mesma classificação nos dois mapeamentos. No entanto, 8,0%, 4,3%, 3,9% e 8,2% dessas áreas foram anteriormente classificadas como Macega, Café, Pastagem e Outros, respectivamente. A transição da categoria Café para Mata Nativa em Estágio Inicial de Regeneração pode indicar o abandono temporário ou permanente da cultura ou ainda a conversão da monocultura para cultivos mais diversificados, como os sistemas agroflorestais.
De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, aproximadamente 50,13% das propriedades no município possuem áreas de matas ou florestas naturais designadas para preservação permanente ou reserva legal. Além disso, mais de 13% dos estabelecimentos têm áreas de matas ou florestas plantadas.
A Figura 17 e a Figura 18 mostram o uso e cobertura vegetal do município, elaborado pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) em diferentes períodos e a Tabela 18 apresenta a área ocupada por cada classe.
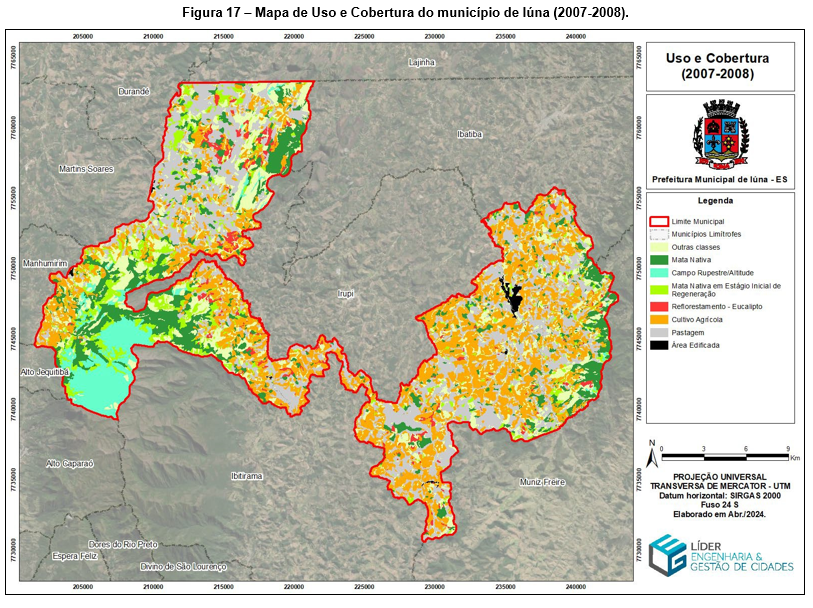
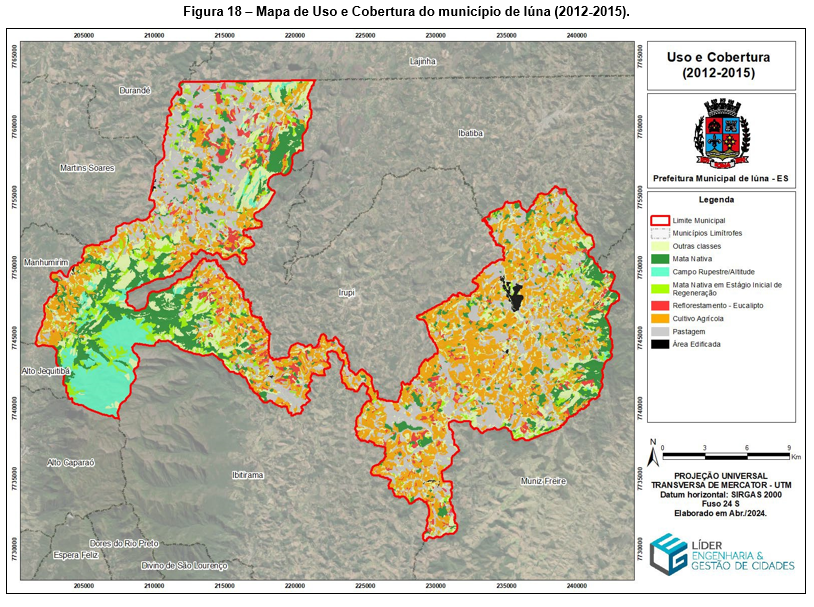
Tabela 18 – Área correspondente a cada classe de uso e cobertura em 2007/2008 e 2012/2015 do município de Iúna.
| Classes | Área (ha) 2007-2008 | % | Área (ha) 2012-2015 | % |
| Área Edificada | 205,24 | 0,45 | 197,83 | 0,43 |
| Campo Rupestre/Altitude | 2.521,03 | 5,47 | 2.518,14 | 5,47 |
| Cultivo Agrícola | 13.422,66 | 29,14 | 13.282,37 | 28,84 |
| Mata Nativa | 6.131,52 | 13,31 | 6.171,60 | 13,40 |
| Mata Nativa em Estágio Inicial de Regeneração | 3.211,21 | 6,97 | 2.963,18 | 6,43 |
| Pastagem | 12.039,93 | 26,14 | 11.115,38 | 24,13 |
| Reflorestamento - Eucalipto | 966,00 | 2,10 | 1.933,52 | 4,20 |
| Outras Classes | 7.560,96 | 16,42 | 7.876,53 | 17,10 |
4.4.9 Áreas protegidas
a) Unidades de Conservação – UCs
No contexto das unidades de conservação no município de Iúna, destaca-se o Parque Nacional do Caparaó (PNC), com 24,43% de sua área inserida dentro do limite municipal de Iúna. Instituído pelo Decreto Federal No 50.646, de 24/05/1961, e ampliado posteriormente pelo Decreto Federal s/n, de 20/11/1997, o PNC está inserido na Reserva de Biosfera da Mata Atlântica.
Com uma extensão de 31.853 hectares, o Parque Nacional do Caparaó abrange diversos ecossistemas, incluindo florestas, campos de altitude, áreas de transição natural e áreas alteradas. A diversidade biológica presente no PNC é notável, com uma ampla gama de espécies animais, como o quati, roedores, marsupiais, ma- cacos, entre outros.
Além do PNC, é relevante mencionar a existência de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) dentro do município de Iúna. Estas RPPNs são áreas de proteção integral de domínio privado, estabelecidas pela Lei Estadual nº 9.462/2010, com o objetivo de conservar a biodiversidade de forma perpétua. A RPPN Toca da Onça é um exemplo, abrangendo uma área total de 204,38 hectares, predominante- mente cobertos pela Floresta Ombrófila Densa, sendo 57,16 % (116,8297 hectares) situado no Município de Iúna e o restante 42,84 % (87,5503 hectares) situado no Muniz Freire.
Outras RPPNs relevantes incluem a RPPN Florindo Vidas, RPPN Alto da Serra, RPPN Cachoeira Alta e RPPN Remy Luiz Alves. Destaca-se também a Área de Proteção Ambiental (APA) Serrada Vargem Alegre, situada fora dos limites municipais, mas ainda dentro do território do Parque de Caparaó. A Figura 19 apresenta as UCs ao entorno do município.
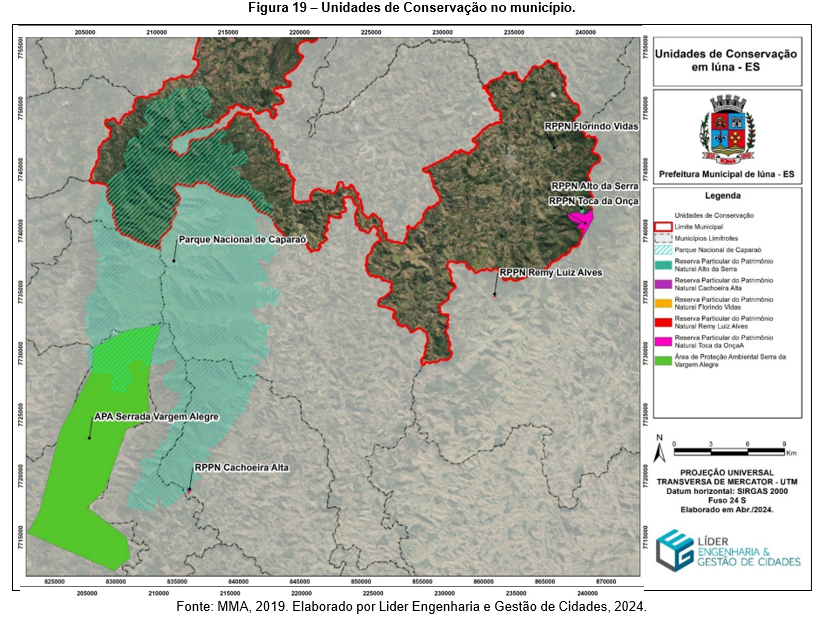
b) Áreas Prioritárias para Conservação
No município de Iúna, identificou-se uma área prioritária classificada como de muito alta prioridade para conservação, segundo critérios estabelecidos pelas políticas públicas de proteção ambiental (Figura 20). Esta classificação indica que essa região possui uma importância significativa em termos de biodiversidade e ecossistemas, e, portanto, requer uma atenção especial para sua preservação e manejo sustentável.
As Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade são fundamentais como instrumento de política pública para orientar a tomada de decisões no planejamento e implementação de ações relacionadas à conservação da biodiversidade. Estas áreas são identificadas de forma objetiva e participativa, com o objetivo de apoiar a criação de unidades de conservação, o licenciamento ambiental, a fiscalização e o estímulo ao uso sustentável dos recursos naturais.
As diretrizes para a identificação das Áreas e Ações Prioritárias foram formalmente estabelecidas pelo Decreto nº 5092 de 21/05/2004, no âmbito das competências do Ministério do Meio Ambiente (MMA). A atualização dessas áreas e ações é uma prioridade do MMA, em conformidade com as estratégias recomendadas pela Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), pelo Plano de Ação para Implementação da Política Nacional de Biodiversidade (PAN-Bio) e pelo Plano Nacional de Áreas Protegidas (PNAP).
Cabe ao MMA fornecer os recursos e ferramentas necessárias para o processo de atualização das Áreas e Ações Prioritárias, garantindo a participação da sociedade e a obtenção de resultados que reflitam as decisões tomadas em oficinas participativas. Esse processo utiliza como base as informações compiladas durante todo o processo, visando promover uma gestão eficaz e sustentável dos recursos naturais.
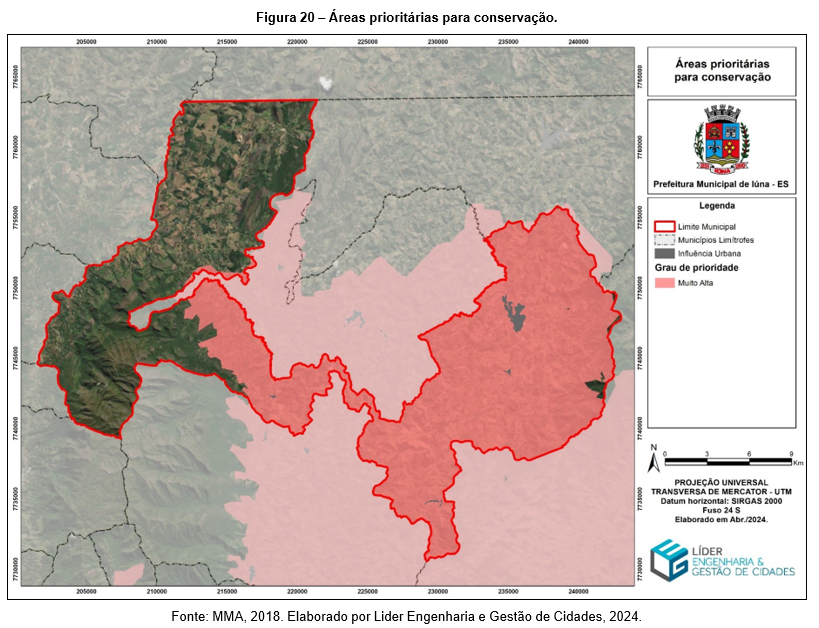
c) Corredor Ecológico
O Projeto Corredores Ecológicos (PCE), associado ao Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7) do Ministério do Meio Ambiente, coloca em prática a concepção de corredores ecológicos, uma iniciativa discutida no Brasil desde 1996. Esses corredores são áreas planejadas com o objetivo de reconectar remanescentes florestais, facilitando o fluxo de animais e sementes de espécies vegetais, e promovendo o aumento da cobertura vegetal, garantindo assim a conservação dos recursos naturais e da biodiversidade de ecossistemas prioritários.
Os Corredores Ecológicos podem englobar diversas áreas, como unidades de conservação públicas, reservas particulares, áreas de preservação permanente e reservas legais, entre outras áreas naturais. Entre as estratégias para sua implementação, estão a promoção da criação de novas unidades de conservação públicas e reservas particulares de patrimônio natural (RPPN), a recomposição de áreas de preservação permanente e reservas legais, e a promoção de atividades de baixo impacto ambiental, como o turismo sustentável, agroecologia, sistemas agroflorestais e agr cultura orgânica.
No Espírito Santo, o Projeto Corredores Ecológicos é gerenciado pela Unidade de Coordenação Estadual (UCE-ES), sediada no Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA). Este projeto é executado pelo Governo do Estado em parceria com a Reserva da Biosfera e as Secretarias Municipais de Meio Ambiente.
Um exemplo concreto é o Corredor Caparaó (Figura 21), localizado em uma região montanhosa, que abrange a parte capixaba do Parque Nacional do Caparaó, bem como fragmentos do seu entorno. Esta área preserva um dos únicos locais de ocorrência de campos de altitude no estado e abriga diversas espécies ameaçadas de extinção. Com uma área aproximada de 51.000 hectares, o Corredor Caparaó abrange os municípios de Irupi, Ibitirama, Iúna, Dores do Rio Preto e Divino São Lou- renço.
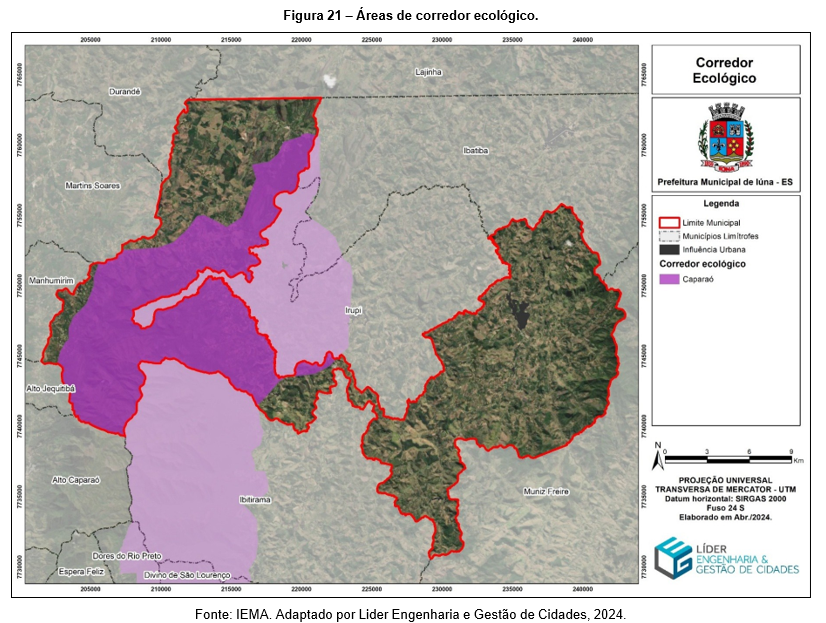
5 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
5.1 NORMAS DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO
O Decreto Presidencial 7.217/10 estabeleceu as normas para a execução da Política Nacional de Saneamento Básico, sendo uma peça fundamental para orientar e regulamentar as ações relacionadas a esse setor no Brasil. O decreto definiu por regulação:
“se entende todo e qualquer ato que discipline ou organize determinado serviço público, incluindo suas características, padrões de qualidade, impacto socioambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de tarifas e outros preços públicos”
O mesmo decreto definiu por fiscalização:
“(...) atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou avaliação, no sentido de garantir o cumprimento de normas e regulamentos editados pelo poder público e a utilização, efetiva ou potencial, do serviço público”.
De acordo com o Inciso III do Artigo 11 da Lei Federal nº 11.445/2007, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 14.026/2020, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, a validade dos contratos de prestação de serviços públicos de saneamento básico está condicionada à existência de normas de regulação, bem como à designação da entidade responsável pela regulação e fiscalização desses serviços.
A Lei, em seu Artigo 22, estabelece ainda que os objetivos da regulação são:
“I. Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação e a expansão da qualidade dos serviços e para a satisfação dos usuários, com observação das normas de referência editadas pela ANA;
II. Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas nos contra- tos de prestação de serviços e nos planos municipais ou de prestação regio- nalizada de saneamento básico;
III. Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competên- cia dos órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de defesa da concorrência;
IV. Definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, por mecanismos que gerem a eficiên- cia e eficácia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários;”
Essas diretrizes também estão presentes na Política Estadual de Saneamento Básico, estabelecida pela Lei Estadual nº 9.096/2008. Esta lei prevê, adicionalmente, a criação de uma entidade estadual de regulação e fiscalização com o objetivo de regular os serviços regionalizados executados pela prestadora de serviços.
A Lei Complementar nº 827, de 30 de junho de 2016, com as alterações intro- duzidas pela Lei Complementar nº 954/2020, estabeleceu a Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP). Nesse contexto, o Artigo 7º da Lei Com- plementar Estadual nº 827/2016 define as atribuições da Agência, que são:
I. Cumprir e fazer cumprir, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a legislação específica, os convênios e os contratos afetos ao seu âmbito de atuação;
II. Regular, controlar e fiscalizar os serviços públicos regulados, no que lhe cou- ber;
III. Fixar, dentro de sua competência, normas, resoluções, instruções e recomen- dações técnicas e procedimentos relativos aos serviços regulados, observadas as di- retrizes do poder concedente;
IV. Disciplinar os contratos e convênios e padronizar os planos de contas a serem observados pelos prestadores dos serviços públicos concedidos;
V. Instruir os concessionários, permissionários, delegatários, autorizados, consu- midores e usuários sobre as suas obrigações legais, contratuais e regulamentares;
VI. Fiscalizar a prestação dos serviços, com amplo e irrestrito acesso aos dados e informações técnicas, econômicas, financeiras e quaisquer outras, relativas ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, e serviços de infraestrutura viária com pedágio;
VII. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das tarifas cobradas pelas empresas concessionárias, permissionárias ou autorizadas;
VIII. Atuar no sentido de impedir práticas abusivas que afetem os serviços públicos regulados, bem como receber, apurar e encaminhar soluções relativas às reclama- ções dos usuários;
IX. Contratar, observada a legislação aplicável, serviços técnicos especializados, neles incluídas a perícia e a auditoria, e outros serviços necessários às atividades da ARSP.
Esta agência foi criada através da fusão da Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária (ARSI) e da Agência de Serviços Públicos de Energia do Espírito Santo (ASPE). A ARSP possui a competência para regular, controlar e fiscalizar, no âmbito do Estado do Espírito Santo, os serviços públicos de saneamento básico (água, esgoto e resíduos sólidos), infraestrutura viária com pedágio e gás natural, quando estes forem passíveis de concessão, permissão ou autorização. A ARSP, caracterizada como uma autarquia de regime especial, tem como missão proteger o consumidor no que se refere a preços, continuidade e qualidade dos serviços públicos concedidos. Adicionalmente, a agência deve assegurar o cumpri- mento das normas legais, regulamentares e contratuais, atender ao interesse público e respeitar os direitos dos usuários.
Desde sua criação, a ARSP regulamenta a prestação de serviços principalmente por meio de Resoluções. Entre as mais importantes, destacam-se a Resolução ARSI nº 008/2010, que define as condições gerais para a prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e a Resolução ARSP nº 018/2018, que estabelece os procedimentos para regular a imposição de penalidades aos prestadores desses serviços.
As fiscalizações realizadas pela ARSP têm como objetivo verificar o cumprimento das Resoluções da ARSP, dos Contratos de Programa e dos Planos Municipais de Saneamento Básico, além de certificar a qualidade dos serviços prestados. Este manual descreve os procedimentos esperados durante uma fiscalização.
Em suma, a competência da Agência está prevista nas seguintes Leis:
· Lei Complementar nº 827, de 30 de junho de 2016;
· Lei nº 1.057, de 08 de novembro de 2023;
· Lei Complementar nº 1.069 de 20 de dezembro de 2023.
Em seu art. 5º, a Lei nº 1.057/2023 pontua as seguintes atribuições correlatas e complementares para a Gerência de Regulação de Água e Esgoto (GAE):
I. Propor as exigências técnicas e comerciais para a correta prestação dos servi- ços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito das atividades re- guladas e fiscalizadas;
II. Estabelecer padrões, normas e procedimentos técnicos para a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário;
III. Ter pleno conhecimento dos contratos regulados e fiscalizados pela ARSP, bem como dos procedimentos e indicadores de qualidade adotados por outras agên- cias referentes ao abastecimento de água e esgotamento sanitário;
IV. Acompanhar as metas de universalização e de qualidade da prestação do ser- viço concedido;
V. Participar de estudos técnicos que sirvam de subsídio ao processo de conces- sões na atividade de abastecimento de água e esgotamento sanitário;
VI. Conhecer modelos de modicidade tarifária e tarifas dos setores de abasteci- mento de água e esgotamento sanitário, bem como a evolução dos custos e tarifas dos serviços;
VII. Participar de estudos envolvendo a proposição de modicidade tarifária para ati- vidades reguladas;
VIII. Estabelecer e fiscalizar as exigências necessárias à atividade comercial e à prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário;
IX. Participar da elaboração de editais de contratação de serviços técnicos;
X. Exercer a fiscalização das atividades de abastecimento de água e esgotamento sanitário reguladas;
XI. Definir, fiscalizar e acompanhar a regularidade, continuidade, segurança, qua- lidade do atendimento comercial e atualidade dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário;
XII. Propor a realização de auditorias ou perícias nas questões de sua competência;
XIII. Emitir manifestações nos laudos e pareceres dos peritos técnicos, encami- nhando-os ao Diretor de Saneamento Básico;
XIV. Instruir e oferecer relatório conclusivo ao Diretor de Saneamento Básico nos procedimentos administrativos que objetivem a aplicação de sanções legais ou con- tratuais, na sua área de atuação;
XV. Relacionar-se com áreas técnicas da Administração Pública Estadual que tra- tam das questões do saneamento básico no Estado;
XVI. Contribuir nos procedimentos para a solução de conflitos envolvendo consumi- dores, concessionários, permissionários e autorizados, na sua área de atuação;
XVII. Exercer outras atividades atinentes à regulação e à fiscalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, conforme decidido no âmbito da Diretoria Colegiada.
Em seu art. 6º, a Lei nº 1.057/2023 pontua as seguintes atribuições correlatas e complementares para a Gerencia de Regulação de Resíduos Sólidos (GRS):
I. Propor exigências técnicas e comerciais para a correta prestação dos serviços de resíduos sólidos no âmbito das atividades reguladas e fiscalizadas;
II. Estabelecer padrões, normas e procedimentos técnicos para a prestação dos serviços de resíduos sólidos;
III. Ter pleno conhecimento dos contratos regulados e fiscalizados pela ARSP, bem como dos procedimentos e indicadores de qualidade adotados por outras agências referentes a resíduos sólidos;
IV. Acompanhar as metas de universalização e de qualidade da prestação do serviço concedido;
V. Participar de estudos técnicos que sirvam de subsídio ao processo de concessões na atividade de resíduos sólidos;
VI. Conhecer modelos de modicidade tarifária e tarifas do setor de resíduos sólidos, bem como a evolução dos custos e tarifas dos serviços;
VII. Participar de estudos envolvendo a proposição de modicidade tarifária para atividades reguladas;
VIII. Estabelecer e fiscalizar as exigências necessárias à atividade comercial e à prestação dos serviços de resíduos sólidos;
IX. Participar da elaboração de editais de contratação de serviços técnicos;
X. Exercer a fiscalização das atividades de resíduos sólidos reguladas;
XI. Definir, fiscalizar e acompanhar a regularidade, continuidade, segurança, qua- lidade do atendimento comercial e atualidade dos serviços de resíduos sólidos;
XII. Propor a realização de auditorias ou perícias nas questões de sua competência;
XIII. Emitir manifestações nos laudos e pareceres dos peritos técnicos, encaminhando-os ao Diretor de Regulação do Saneamento Básico;
XIV. Instruir e oferecer relatório conclusivo ao Diretor de Saneamento Básico nos procedimentos administrativos que objetivem a aplicação de sanções legais ou contratuais, na sua área de atuação;
XV. Relacionar-se com áreas técnicas da Administração Pública Estadual que tratam das questões do saneamento básico no Estado;
XVI. Contribuir nos procedimentos para a solução de conflitos envolvendo consumidores, concessionários, permissionários e autorizados, na sua área de atuação;
XVII. Realizar análise de impacto regulatório e de resultado regulatório;
XVIII. Analisar a minuta de contrato de convênio com os municípios, elaborando inclusive o plano de trabalho de cada um dos municípios conveniados;
XIX. Elaborar relatório anual das atividades desenvolvidas pela ARSP para cada município conveniado;
XX. Exercer outras atividades atinentes à regulação e à fiscalização dos serviços de resíduos sólidos, conforme decidido no âmbito da Diretoria Colegiada.
A Figura 22 apresenta como é o processo sancionador da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo, conforme determina a Resolução ARSP nº 018/2018.
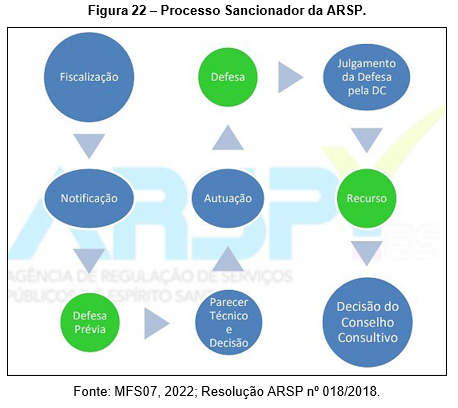
5.2 CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁ- SICO
O município de Iúna é atendido pela Companhia Espírito Santense de Sanea- mento (CESAN) para os serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, conforme contrato de programa nº 27012017, com vigência de 30 anos. A CESAN é uma empresa de economia mista, com sede em Vitória, e tem o Estado do Espírito Santo como seu acionista majoritário. Criada pela Lei nº 2.282 de 1967 e regulamentada pelo Decreto nº 2.575 do mesmo ano, sua principal missão é garantir o fornecimento de água potável, o tratamento de esgoto e a coleta de resíduos sanitários, de acordo com a legislação vigente.
A empresa de saneamento básico está sujeita à gestão e decisões do governo estadual, uma vez que faz parte da política macroeconômica do Estado. Suas tarifas são reguladas pela Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP) do Espírito Santo, que é responsável por supervisionar e conduzir a política tarifária, garantindo a adequação e justiça nos preços cobrados pelos serviços de saneamento básico e infraestrutura viária.
O sistema de tarifação é revisado anualmente, geralmente no mês de julho, com o objetivo de manter o equilíbrio econômico e financeiro da Companhia. Esta revisão leva em consideração tanto os investimentos realizados quanto a estrutura de custos e despesas da empresa. A cobrança pelos serviços é realizada diretamente dos usuários, baseando-se no volume de água consumido e no esgoto coletado, multiplicado pela tarifa autorizada.
Os serviços de gerenciamento dos resíduos sólidos são prestados, em parte pela municipalidade e em parte por empresas privadas, mediante contrato de prestação de serviços. O Quadro 8 apresenta a organização dos serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, com os prestadores de serviços.
Quadro 8 – Organização institucional do Serviço de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Iúna.
| Serviços | Empresa/Secretaria |
| Coleta de Resíduos (RSD) | Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos / ASCOMRI – Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do Município de Iúna |
| Transbordo de Resíduos (RSD) | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública |
| Transporte de Resíduos (RSD) | Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos / ASCOMRI – Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do Município de Iúna |
| Destinação Final (RSD) | Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos |
| Coleta de Resíduos (RSS) | Florestal Coletas e Prestação de Serviços LTDA. |
| Transbordo de Resíduos (RSS) | Não realiza |
| Transporte de Resíduos (RSS) | Florestal Coletas e Prestação de Serviços LTDA. |
| Destinação Final (RSS) | Florestal Coletas e Prestação de Serviços LTDA. |
Os serviços de Drenagem Urbana são prestados pela própria municipalidade, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos.
5.3 MODELO DE GESTÃO
O cenário de ausência de planejamento e fragmentação das ações de saneamento ambiental pode acarretar sérias consequências para a população municipal, incluindo desperdício de recursos e degradação do meio ambiente. Diante dessa perspectiva, torna-se imperativo adotar um modelo de gestão eficiente para o saneamento básico, capaz de promover a sustentabilidade econômica, preservar o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, tanto no presente quanto no futuro.
É essencial que as escolhas de gestão sejam embasadas na busca pela eficiência econômica e pela correção técnica, visando atender às necessidades da comunidade e garantir a saúde ambiental.
O modelo de gestão dos diversos segmentos do saneamento ambiental no município de Iúna é delineado no Quadro 9
Quadro 9 – Modelo de Gestão do saneamento básico em Iúna.
| Serviço do Saneamento Básico | Modelo de Gestão |
| Abastecimento de Água | Gestão Pública, através de concessão empresa de economia mista, de regime jurídico de direito privado, sociedade anônima. |
| Esgotamento Sanitário | Gestão Pública, através de concessão empresa de economia mista, de regime jurídico de direito privado, sociedade anônima. |
| Drenagem Urbana | Gestão pública, executada pela municipalidade. |
| Gerenciamento de Resíduos sólidos | Serviço Público executado em parte pela municipalidade e em parte por empresa privada, com contrato e prestação de serviços. |
5.4 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
A estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Iúna inclui duas Secretarias Municipais diretamente relacionadas ao saneamento: a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública, e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme organograma da Figura 23. Essas secretarias desempenham papéis fundamentais na gestão e na execução das políticas relacionadas ao saneamento básico no município.
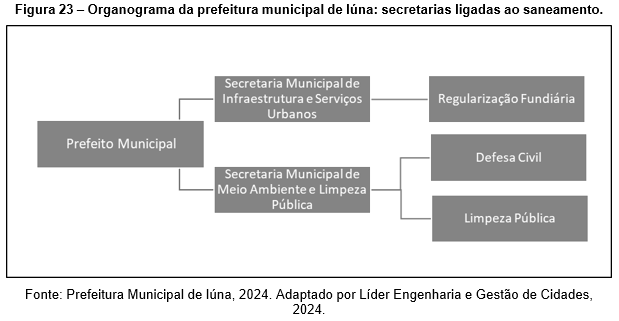
A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos tem como atribuições:
· Coordenação do desenvolvimento e execução de projetos e obras públicas municipais, incluindo pavimentação, infraestrutura, moradia e saneamento básico relaci- onado ao sistema de drenagem, além da elaboração e execução do orçamento correspondente a esses planos e projetos;
· Elaboração das políticas relacionadas à estruturação urbana, habitação e saneamento básico, especialmente no que diz respeito ao sistema de drenagem;
· Responsabilidade pela manutenção da limpeza na cidade, incluindo capinação, varredura, lavagem das ruas e supervisão dos serviços de coleta de lixo, visando evitar impactos negativos na comunidade;
· Gestão e guarda dos veículos municipais, elaboração da programação de uso dos veículos nos diferentes serviços em coordenação com outros departamentos;
· Normatização, monitoramento e avaliação das obras públicas;
· Fixação de metas e diretrizes para implementação de obras viárias e rodoviárias municipais;
· Planejamento, acompanhamento e fiscalização de trabalhos topográficos e geotécnicos das obras municipais;
· Coordenação e execução do processo de contratação de obras e serviços relacionados aos planos municipais, em colaboração com outros órgãos municipais;
· Coordenação da preparação de documentação técnica para captação de recursos junto a órgãos nacionais e internacionais;
· Normatização e fiscalização do comércio ambulante e similares;
· Administração, fiscalização e implantação de serviços urbanos em diversas áreas públicas;
· Implantação de medidas para fomentar o comércio direto entre produtor e con- sumidor.
· Projeto de obras de interesse metropolitano;
· Atendimento e orientação ao público;
· Adoção de medidas preventivas relacionadas à saúde pública;
· Integração das ações à paisagem urbana para promover um ambiente atrativo e saudável, especialmente para o desenvolvimento do turismo;
· Análise, licenciamento, fiscalização e serviços relacionados à poda e abate de árvores;
· Estabelecimento de um cronograma de ações para as feiras livres, garantindo conformidade com as normas da Vigilância Sanitária;
· Implementação de um sistema de gestão para coleta de resíduos nas feiras livres;
· Promoção de uma política de gestão para revitalizar as feiras livres, incluindo sinalização e uso de equipamentos adequados.
Por outro lado, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública é encarregada da planejar, coordenar, executar, controlar, apoiar e avaliar a preservação ambiental do Município de Iúna, competindo-lhe:
· Estabelecer parcerias com as Secretarias Municipais relacionadas às atividades estratégicas para promover o desenvolvimento socioeconômico e ambiental do Município;
· Coordenar estudos e projetos voltados à gestão ambiental do território urbano e rural, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Administração Municipal;
· Articular-se com organismos ambientais e de recursos hídricos para garantir a execução da política ambiental e de gestão de recursos hídricos no Município;
· Realizar campanhas de conscientização sobre a importância da proteção e conservação do meio ambiente, incluindo iniciativas de coleta seletiva de lixo;
· Estabelecer parcerias e promover ações para preservação e recuperação dos recursos naturais, além de realizar eventos para fomentar a discussão ambiental na comunidade;
· Implementar medidas para equilibrar ecossistemas locais, como o controle do desmatamento de margens de rios e nascentes;
· Fiscalizar e controlar fontes de poluição e degradação ambiental, observando a legislação vigente;
· Elaborar critérios para fiscalização e controle de atividades potencialmente poluidoras, bem como para liberação de licenças relacionadas a empreendimentos com impacto ambiental;
· Receber e investigar denúncias sobre agressões ao meio ambiente, promovendo ações corretivas e preventivas quando necessário;
· Coordenar a coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, incluindo a gestão de aterros sanitários e a promoção da coleta seletiva;
· Fiscalizar a operação de aterros sanitários e supervisionar a utilização de instalações de separação de materiais recicláveis.
Ao analisar essa estrutura administrativa para a questão do saneamento urbano, é importante destacar alguns pontos de discussão:
· Cooperação e Coordenação: é fundamental que haja uma cooperação estreita entre as duas secretarias para garantir uma abordagem integrada e coordenada na implementação de políticas e ações relacionadas ao saneamento básico.
· Compartilhamento de Recursos: a alocação eficiente de recursos financeiros, humanos e materiais entre as duas secretarias pode otimizar a implementação de projetos e ações de saneamento urbano.
· Definição de Responsabilidades: é necessário um claro delineamento das res- ponsabilidades de cada secretaria para evitar sobreposições ou lacunas na prestação de serviços relacionados ao saneamento básico.
· Participação da Comunidade: a participação da comunidade é essencial para o sucesso das iniciativas de saneamento urbano. As duas secretarias devem trabalhar em conjunto para envolver os cidadãos nas decisões e ações relacionadas ao saneamento básico.
Em suma, a estrutura administrativa para a questão do saneamento urbano em Iúna deve ser caracterizada por uma abordagem integrada, com uma cooperação estreita entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, visando garantir a promoção de políticas e ações eficazes para melhorar as condições de saneamento básico na cidade.
5.5 CANAIS DE INTEGRAÇÃO E ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL
A gestão do saneamento básico, no contexto de seu planejamento e execução, abrange uma série de questões interdisciplinares que envolvem a concepção e implementação de políticas públicas, bem como a participação da sociedade e outros fatores relevantes.
Nesse sentido, torna-se imperativo a implementação de programas, ações e atividades que promovam a integração de órgãos e entidades, tanto públicas quanto privadas, com foco na gestão eficiente do saneamento e no alcance dos objetivos estabelecidos no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). Esses aspectos incluem:
· O cumprimento dos objetivos definidos no PMSB, garantindo que as ações planejadas sejam executadas conforme o previsto;
· A observância dos dispositivos legais aplicáveis à gestão do setor de saneamento, assegurando que todas as atividades estejam em conformidade com a legislação vigente;
· A identificação dos pontos fortes e fracos, bem como das oportunidades e desafios para o desenvolvimento das ações estabelecidas no PMSB;
· A utilização adequada de recursos humanos, instalações e equipamentos para a produção e prestação de serviços com qualidade e dentro dos prazos estipulados;
· A consistência entre as ações desenvolvidas e os objetivos estabelecidos, garantindo que haja alinhamento entre o planejamento e a execução das atividades;
· A análise das causas de práticas antieconômicas e ineficientes, visando corrigir falhas e otimizar o desempenho do sistema de saneamento;
· A identificação dos fatores que podem prejudicar o desempenho do PMSB, permitindo a implementação de medidas preventivas e corretivas;
· A avaliação da relação entre os efeitos observados e as diretrizes propostas no PMSB, garantindo que as ações desenvolvidas contribuam efetivamente para o alcance dos objetivos estabelecidos;
· A avaliação da qualidade dos resultados alcançados a partir da implementação do plano, com o objetivo de verificar se as metas foram atingidas e se houve melhoria na prestação dos serviços de saneamento.
Para garantir o desempenho eficiente dos objetivos delineados no PMSB, é essencial criar canais de articulação setorial voltados especificamente para os elementos do saneamento ambiental. Além disso, é importante identificar e avaliar
possíveis atividades que possam se relacionar com os setores ligados à política de desenvolvimento urbano do município, uma vez que o saneamento está diretamente ligado a questões urbanas.
Quanto às interações entre as questões ligadas ao saneamento básico e os projetos de desenvolvimento urbano, habitação, mobilidade urbana, gestão de recursos hídricos e meio ambiente em Iúna, temos:
· ONGs: as ONGs desempenham um papel significativo na promoção de inicia- tivas relacionadas ao saneamento básico e ao meio ambiente. Elas muitas vezes atuam como agentes de conscientização e mobilização social, trabalhando para garantir a implementação de políticas públicas eficazes e o acesso equitativo a serviços básicos. Além disso, algumas ONGs podem estar envolvidas diretamente na implementação de projetos de saneamento, como a construção de sistemas de tratamento de água e esgoto em comunidades carentes.
Em Iúna, destaca-se a presença do "Amigos do Verde", uma Organização Não Governamental que tem desempenhado um papel significativo na preservação do meio ambiente, com ênfase no Rio Pardo, curso d'água que perpassa a cidade. Fundada há mais de uma década, essa entidade surgiu em 2003 como resultado de uma colaboração entre iniciativa privada, órgãos ambientais e a comunidade local.
Sua origem remonta a uma iniciativa conjunta, na qual foram plantadas mais de mil mudas de diversas espécies ao longo das margens do rio. Esse esforço inicial marcou o início das atividades do "Amigos do Verde" e evidenciou o compromisso conjunto com a proteção e a restauração do ecossistema ribeirinho do Rio Pardo.
Ao longo dos anos, a ONG tem desempenhado uma variedade de atividades, incluindo programas de plantio de árvores, campanhas de conscientização ambiental, monitoramento da qualidade da água e ações de limpeza das margens do rio. Além disso, tem buscado estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas, bem como envolver ativamente a comunidade local em suas iniciativas.
· Programas de Educação Ambiental: os programas de educação ambiental desempenham um papel fundamental na conscientização da população sobre a importância do saneamento básico e da preservação do meio ambiente. Eles podem ser conduzidos em escolas, comunidades e espaços públicos, fornecendo informações sobre práticas sustentáveis de gestão de resíduos, conservação da água e higiene pessoal. Esses programas ajudam a capacitar os cidadãos a adotar comportamentos responsáveis e a participar ativamente na promoção de um ambiente saudável.
O Projeto Ambiente e Vida em Iúna representa uma abordagem holística e integrada para a educação ambiental, combinando teoria e prática, sensibilização e ação. Sua equipe, composta por pedagogos, professores e educadores ambientais, atende a um impressionante número de 4.193 alunos com idades entre 4 e 14 anos.
O projeto alinha suas práticas com as Diretrizes Curriculares Gerais Nacionais para a Educação Básica, reconhecendo que educar e cuidar são processos intrinse- camente interligados. Este entendimento abarca não apenas a transmissão de conhecimento, mas também o acolhimento, a escuta atenta, o estímulo ao desenvolvimento pessoal e a promoção de valores de responsabilidade e preservação ambiental.
Na perspectiva das diretrizes curriculares, educar é um ato de cuidado que abrange não só o desenvolvimento cognitivo, mas também o emocional e o social dos estudantes. Isso implica não apenas ensinar conceitos ambientais, mas também cultivar habilidades e atitudes que promovam o cuidado consigo mesmos, com os outros, com o ambiente escolar, com a natureza e com o planeta como um todo.
Portanto, o Projeto Ambiente e Vida se propõe a enfrentar o desafio de educar lidando com a diversidade e imprevisibilidade dos seres humanos ao longo de suas vidas. Essa abordagem reconhece a singularidade de cada indivíduo e busca nutrir um senso de responsabilidade e conexão com o mundo que os cerca, contribuindo assim para a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a sustentabi- lidade ambiental e social.
Estabelecido em 2023, o Projeto Planta essa Ideia tem como principal objetivo fomentar a reflexão e promover hábitos de preservação ambiental nas escolas, tendo como base a conscientização sobre os princípios dos 4Rs: Repensar, Reduzir, Reuti- lizar e Reciclar.
Nesse contexto, o Plante Essa Ideia surge como uma iniciativa direcionada aos alunos das escolas municipais de Iúna, no estado do Espírito Santo. O projeto visa incentivar a coleta seletiva de materiais recicláveis, como garrafas PET, caixas de leite, lixo eletrônico e óleo de cozinha usado, dentro das unidades educacionais.
Em 2023, foi aprovado o Projeto de Lei Ordinária nº 35/2023, que estabelece a Política Municipal de Educação Ambiental para o município. A referida política, conforme determinado pelo Art. 9º da Lei, será implementada por meio de um programa Municipal de Educação Ambiental, a ser criado por instrumento legal municipal. Este programa se caracterizará por linhas de ação, estratégias, critérios, instrumentos e metodologias que visam promover a conscientização e a prática de ações sustentáveis no âmbito local.
O programa abrangerá tanto o ambiente escolar quanto o não escolar, adotando uma abordagem contínua, processual, permanente e contextualizada. No contexto escolar, a Educação Ambiental será integrada aos currículos e atividades extracurriculares das instituições de ensino públicas e privadas. Já no ambiente não escolar, serão desenvolvidas ações e práticas educativas voltadas à sensibilização, mobilização e formação da coletividade sobre as questões socioambientais, incentivando sua organização e participação na defesa da qualidade do ambiente em sua totalidade.
Entre as iniciativas previstas pelo programa estão a formação de agentes multiplicadores da Educação Ambiental, a realização de estudos, pesquisas, experimentações e projetos de intervenção, a divulgação de materiais didáticos e a orientação para a realização de feiras e eventos de Educação Ambiental. Tais ações visam não apenas promover a conscientização, mas também estimular a adoção de práticas sustentáveis e a participação ativa da comunidade na preservação do meio ambiente.
Dessa forma, a instituição da Política Municipal de Educação Ambiental em Iúna representa um importante passo na promoção do desenvolvimento sustentável e na construção de uma sociedade mais consciente e engajada na preservação do meio ambiente.
· Associações Locais: as associações locais, como associações de moradores e grupos comunitários, desempenham um papel importante na identificação de necessidades específicas da comunidade relacionadas ao saneamento básico e ao meio ambiente. Elas podem atuar como intermediárias entre os residentes e as autoridades locais, facilitando o diálogo e a colaboração na busca de soluções para problemas como a falta de acesso a água potável, a poluição ambiental e a degradação dos recursos naturais. Além disso, essas associações muitas vezes mobilizam recursos e voluntários para a implementação de projetos locais de melhoria ambiental.
Algumas associações que foram identificadas no município:
- Associação de Agricultores Familiares da Barra dos Pilões;
- Associação Irmãos e Primos no Córrego Cabeceira do Fama;
- Associação dos Agricultores Familiares Bela vista no Córrego Siqueira;
- Associação dos Agricultores Familiares da Siqueira no Córrego da Siqueira;
- Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Iúna (ASCOMRI);
- Associação de Gestão Comunitária de Tratamento e Abastecimento de Água da Comunidade Nossa Senhora das Graças.
5.5.1 Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio aos Municí- pios (PROESAM)
O Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio aos Municípios (Proesam) é implementado por ciclos de adesão voluntária, nos quais os municípios se comprometem a alcançar um conjunto de metas predefinidas em troca de remuneração pela sua execução. Os critérios gerais para adesão e cálculo dos valores são estabelecidos pela Lei nº 11.255, de 19 de Abril de 2021, e pelo Decreto nº 4897-R, de 02 de Junho de 2021.
Cada ciclo é regulamentado por uma Portaria, que define o Quadro de Metas, critérios de execução, prazos, e outros aspectos relevantes. O valor final a ser pago está diretamente relacionado ao cumprimento das metas por parte dos municípios contratados.
As metas são definidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEAMA), com base em um quadro de graduação que considera a situação ambiental e socioeconômica de cada município. Estas metas estão agrupadas em eixos temáticos, tais como institucional, verde, azul, marrom, e temas transversais.
Os pagamentos aos municípios podem ser feitos de três maneiras: apoio, investimento descentralizado, e investimento direto. O apoio é concedido integralmente caso as metas obrigatórias em cada eixo temático sejam cumpridas, enquanto o investimento descentralizado é liberado após o cumprimento de metas consideradas de alcance gradual. Já o investimento direto ocorre quando a SEAMA contempla coleti- vamente os municípios com aquisições de bens ou serviços.
Todos os pagamentos são validados pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e pela Comissão de Acompanhamento do PROESAM, garantindo transparência e participação da sociedade civil.
Além disso, o desempenho dos municípios ao longo dos ciclos é ranqueado com base no cumprimento das metas, com critérios relacionados ao desempenho sendo utilizados para classificação.
Em 2021, o 1º Ciclo do PROESAM foi lançado, com recursos provenientes da Subconta Cobertura Florestal e da Subconta Recursos Hídricos do FUNDÁGUA. No ano seguinte, em 2022, o município de Iúna firmou contrato (nº 028/2022) com o programa, tendo cumprido seus compromissos até o ano de elaboração deste documento.
5.6 ANÁLISE DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E DO PLANO DIRETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS E FLUVIAIS DO MUNICÍPIO DE IÚNA
O Plano Diretor Municipal (PDM) é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana de um município, regulamentado pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001). Este plano estabelece diretrizes para o ordenamento territorial, visando garantir o desenvolvimento sustentável, a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e a proteção do meio ambiente.
O Plano Diretor Municipal de Iúna foi instituído pela Lei Municipal nº 2182, em 2008. Este documento foi elaborado com o intuito de organizar e orientar o crescimento urbano do município, promovendo o desenvolvimento equilibrado e sustentável.
Os objetivos principais do PDM de Iúna incluem a promoção do uso racional do solo, a proteção do meio ambiente, a melhoria da infraestrutura urbana, e a garantia de condições adequadas de moradia e serviços públicos para toda a população. As diretrizes específicas estabelecem normas para o uso e ocupação do solo, preservação ambiental, desenvolvimento econômico e social, entre outros aspectos.
Desde a sua instituição em 2008, o PDM de Iúna não foi revisado. De acordo com o Estatuto da Cidade, é estabelecido que o Plano Diretor deve ser revisado a cada dez anos, para que suas diretrizes e metas possam ser atualizadas de acordo com as mudanças e necessidades do município. A ausência de revisões periódicas pode comprometer a eficácia do PDM, uma vez que as condições socioeconômicas, ambientais e urbanas evoluem ao longo do tempo.
Recomenda-se, portanto, a realização de uma revisão abrangente do PDM, conforme preconizado pela legislação federal, para garantir sua eficácia contínua e relevância no planejamento urbano e na gestão sustentável do município.
O Plano Diretor de Águas Pluviais e Fluviais (PDAPF) é um instrumento essencial para a gestão eficiente das águas pluviais e fluviais em um município. O PDAPF de Iúna foi elaborado em 2022 com o objetivo de atender às expectativas da sociedade capixaba para a formulação de estratégias, diretrizes e procedimentos que ampliem o conhecimento sobre processos hidrológicos, riscos e desastres. Este plano propõe ações estruturais e não estruturais para reduzir riscos e minimizar impactos relacionados a desastres hidrológicos.
O PDAPF de Iúna está em consonância com a determinação do Capítulo I, artigo 2º da Lei 12.608/12, que estabelece que "É dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre". Adicionalmente, o plano alinha-se com o Programa Capixaba de Mudanças Climáticas, que visa contribuir para a implementação de políticas públicas adaptativas eficientes frente aos possíveis impactos das mudanças climáticas.
O PDAPF propõe programas estruturantes para a construção de novas infraestruturas de drenagem, manutenção e ampliação das existentes, e implementação de práticas de manejo sustentável das águas. Essas ações visam aumentar a capacidade de resposta do município a eventos hidrológicos.
A análise do Plano Diretor Municipal (PDM) e do Plano Diretor de Águas Pluviais e Fluviais (PDAPF) de Iúna evidencia a importância desses instrumentos no pla- nejamento urbano sustentável e na gestão dos recursos hídricos do município. O PDM, instituído pela Lei Municipal nº 2182/2008, fornece diretrizes essenciais para o desenvolvimento equilibrado e sustentável, promovendo o uso racional do solo e a proteção ambiental. No entanto, a ausência de revisões periódicas compromete sua eficácia, sendo imperativo realizar uma revisão abrangente conforme estabelecido pelo Estatuto da Cidade.
Por outro lado, o PDAPF, elaborado em 2022, está alinhado com a Lei 12.608/12 e o Programa Capixaba de Mudanças Climáticas, propondo ações estruturais e não estruturais para mitigar riscos hidrológicos e adaptar o município aos impactos das mudanças climáticas. A abrangência das diretrizes, a promoção de soluções sustentáveis e a integração de políticas adaptativas destacam-se como pontos fortes do plano.
Entretanto, desafios como a necessidade de investimentos contínuos em infraestrutura e a atualização constante dos dados hidrológicos devem ser enfrentados para assegurar a eficácia do PDAPF. Recomenda-se o fortalecimento da capacitação técnica das equipes, a promoção da educação ambiental e a garantia de recursos financeiros suficientes para a execução das ações previstas.
Em suma, a revisão do PDM e a implementação eficaz do PDAPF são fundamentais para o desenvolvimento sustentável de Iúna, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e a resiliência do município frente a eventos hidrológicos extremos.
6 ESTUDO DE PROJEÇÃO POPULACIONAL
As metas para a universalização do acesso e a promoção da saúde pública que serão previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico, visam o horizonte de planejamento de vinte anos. Para isso, se faz necessário conhecer a população do município no final do período determinado.
Diversos são os métodos aplicáveis para o estudo do crescimento populacional. Neste estudo foram utilizados o método do Crescimento, o Aritmético, Previsão e o Geométrico. Foram utilizados os levantamentos dos anos de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 do IBGE.
Com base nos dados do IBGE, realizou-se o estudo da evolução da população total do município por meio dos métodos citados. Os valores na Tabela 19 apresentam os dados de população urbana e rural do município, dos anos de 1970 até 2010.
Tabela 19 – População urbana do Município de Iúna.
| Ano |
Situação do domicilio19701980199120002010Pop. Urbana685111331121911387515620Pop. Rural2502526291203171223711708Pop. Total3187637622325082611227328
O Gráfico 8 apresenta a distribuição da população do município entre os anos de 1970 e 2010, conforme dados disponibilizados pelo IBGE.
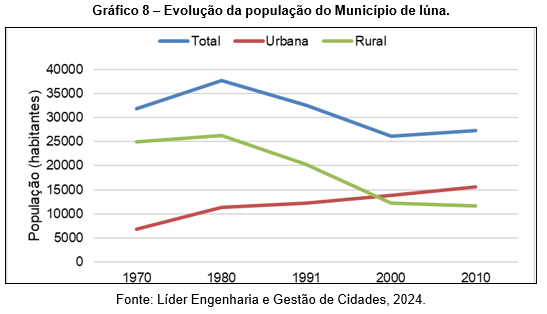
Já no Gráfico 9 é demonstrado a taxa de crescimento total anual em cada período intercensitário. Pode-se averiguar que o período com maior crescimento da população urbana foi o de 1970/1980, no qual a taxa de crescimento anual foi de 5,16% ao ano, e o período com maior decréscimo da população rural foi de 1991/2010, chegando a -5,48% ao ano.
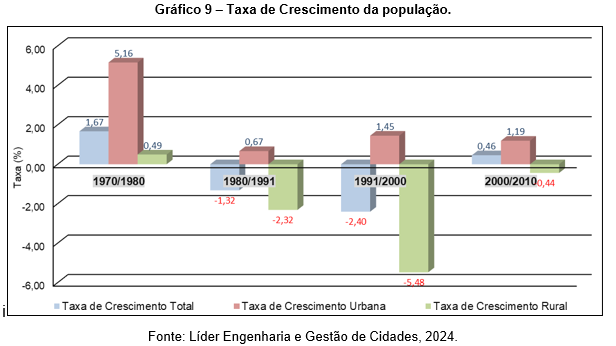
A fim de definir qual dos métodos matemáticos mais se adequa à realidade do município, obteve-se as linhas de tendência para os dados do IBGE, através do Software Microsoft Excel, utilizando-se quatro tipos diferentes de curvas: logarítmica, linear, polinomial e exponencial.
A evolução da população e a taxa de crescimento (%) ano a ano, obtidos através do ajuste dos dados do IBGE, são determinadas a partir da curva que melhor se ajusta aos dados do próprio IBGE. Os Gráfico 10 ao Gráfico 14 ilustram o estudo populacional e o desvio padrão (R²) de cada um dos métodos para população urbana e rural.
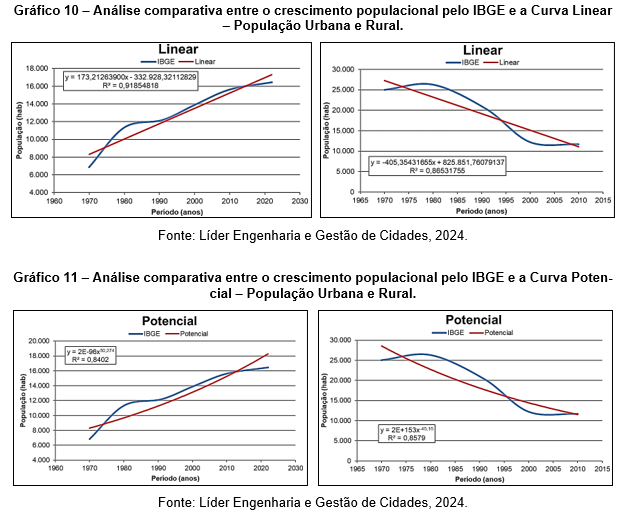
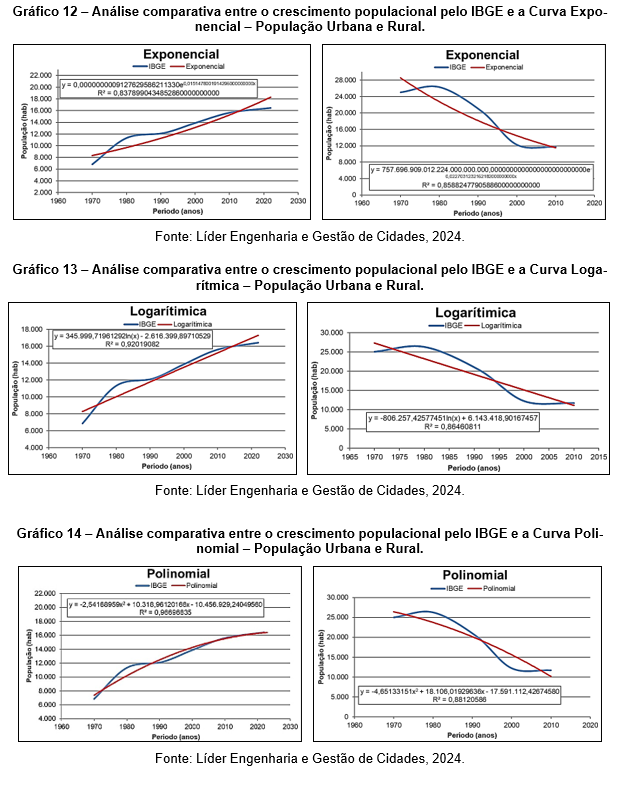
Sendo assim, a linha de tendência que melhor se ajustou (menor desvio padrão) aos dados do IBGE tanto para a população urbana quanto rural, foi a linha polinomial, que apresentou um R² no valor de 0,96696835 e 0,88120586 (respectiva- mente) resultando nas equações:
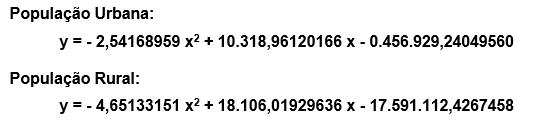
Em que “y” é a população em um determinado tempo “t” e “x” é o ano no mesmo tempo “t”.
Após definidas as taxas de crescimento da linha de tendência compara-se os valores com os obtidos por cada método de crescimento. Desta forma, foi indicado como o mais aplicável ao comportamento do município, o método de Previsão para a população urbana, que retratou melhor a evolução da população e permitiu estimá-la no futuro, e o método Geométrico para a população rural.
A partir da aplicação destes métodos, a projeção da população para os próximos vinte anos é apresentada na Tabela 20.
Tabela 20 – Projeção da população urbana do município até o ano 2044.
| Ano | População urbana (hab.) | População rural (hab.) | População total (hab.) |
| 2024 | 17.162 | 11.006 | 28.168 |
| 2025 | 17.308 | 10.957 | 28.265 |
| 2026 | 17.454 | 10.909 | 28.363 |
| 2027 | 17.600 | 10.861 | 28.461 |
| 2028 | 17.746 | 10.813 | 28.559 |
| 2029 | 17.892 | 10.765 | 28.657 |
| 2030 | 18.039 | 10.718 | 28.757 |
| 2031 | 18.185 | 10.670 | 28.855 |
| 2032 | 18.331 | 10.623 | 28.954 |
| 2033 | 18.477 | 10.576 | 29.053 |
| 2034 | 18.623 | 10.530 | 29.153 |
| 2035 | 18.769 | 10.483 | 29.252 |
| 2036 | 18.915 | 10.437 | 29.352 |
| 2037 | 19.061 | 10.391 | 29.452 |
| 2038 | 19.207 | 10.345 | 29.552 |
| 2039 | 19.353 | 10.300 | 29.653 |
| 2040 | 19.499 | 10.254 | 29.753 |
| 2041 | 19.646 | 10.209 | 29.855 |
| 2042 | 19.792 | 10.164 | 29.956 |
| 2043 | 19.938 | 10.119 | 30.057 |
| 2044 | 20.084 | 10.075 | 30.159 |
Ao considerarmos as projeções populacionais realizadas ou mesmo as informações fornecidas pelo IBGE, é possível perceber o crescimento populacional do município. Percebe-se que a população tem procurado cada vez mais as áreas urbanas para se residir, buscando postos de trabalho, melhores condições de moradia e de prestação de serviços.
Sendo assim, é necessário que o Município de Iúna esteja preparado para um contingente futuro garantindo desta forma, uma boa qualidade de vida para seus habitantes. Além de proporcionar para as áreas rurais condições para que esta população permaneça em suas propriedades, contribuindo para o desenvolvimento do município, e que a saída do campo por estas pessoas seja uma opção e não uma necessidade de melhoria de condição de vida.
7 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA
7.1 DIAGNÓSTICO DO SAA
O sistema de abastecimento de água desempenha um importante papel na infraestrutura e qualidade de vida de uma comunidade, sendo responsável por garantir o acesso regular e confiável à água potável. Esse sistema é essencial para as atividades diárias, saúde pública e desenvolvimento sustentável. Além disso, todos os eixos do saneamento são interdependentes e possuem relação direta com a disponibilidade de recursos hídricos na região.
A ausência de serviços de saneamento impacta negativamente e de forma significativa a qualidade dos recursos hídricos, o qual é imprescindível para a realização de diversas atividades e para a manutenção da vida de um modo geral. A análise da disponibilidade hídrica acaba contribuindo para o planejamento, sendo utilizado para previsão de ações a serem tomadas a fim de atingir a universalização dos serviços de saneamento.
Ao se analisar de perto o sistema de abastecimento de água, pode-se compreender as complexidades envolvidas na captação, tratamento e distribuição desse recurso, além de explorar as tecnologias e práticas que contribuem para a eficiência e sustentabilidade do serviço, tanto operacional, quanto financeira.
7.1.1 Caracterização Operacional do SAA
O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) é gerido pelo prestador de servi- ços de saneamento básico na Sede e Pequiá, enquanto nos demais distritos a responsabilidade pelo abastecimento de água recai sobre a administração municipal e/ou local.
O fornecimento de água pública em Iúna é estruturado através de uma combinação de fontes hídricas, incluindo mananciais de superfície na área urbana e poços tubulares profundos em regiões rurais de determinados distritos. Além disso, há infraestrutura como adutoras para água bruta, estações elevatórias, estações de tratamento, reservatórios, equipamentos de impulso para água tratada, redes de distribuição e conexões individuais às residências.
Desde 1991, no Estado do Espírito Santo é desenvolvido o Pró-Rural, programa especial para atender comunidades de pequeno porte na elaboração de projetos e execução de obras de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Nos distritos de São João do Príncipe, Santíssima Trindade e Nossa Senhora das Graças, as ETAs existentes foram construídas por meio de recursos provenientes deste programa Pró-Rural.
O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Iúna, em operação desde 1970, atende tanto o distrito Sede quanto outras localidades do município. Todos os componentes do sistema estão situados dentro do próprio limite do Município. Iúna possui sete unidades principais no Sistemas de Abastecimento:
· Sede: captações, ETA ativa, reservatórios e booster de água tratada;
· Distrito de Nossa Senhora das Graças: captações e ETA ativa;
· Distrito de São João Príncipe: captação e ETA inativa;
· Distrito de Pequiá: captação, ETA ativa e reservatórios;
· Distrito de Santíssima Trindade: captação e ETA ativa.
O hidrômetro, também conhecido como medidor de água, é um dispositivo essencial no sistema de abastecimento de água, utilizado para medir e registrar o volume de água consumida em uma unidade habitacional, comercial ou industrial. Em Iúna, a Sede e outros 3 distritos possuem hidrômetros, com exceção de São João do Príncipe. As demais comunidades não possuem hidrômetros também.
Em Nossa Senhora das Graças, os hidrômetros foram instalados com recursos arrecadados pela Associação de Gestão Comunitária de Tratamento e Abastecimento de Água da Comunidade.

3.1.1. Panorama da situação atual do SAA
a) Indicadores Operacionais
Os indicadores desempenham um papel fundamental na compreensão e avaliação dos serviços de abastecimento de água, fornecendo informações valiosas para orientar decisões e políticas públicas. É essencial acompanhar regularmente esses indicadores para garantir a eficiência do sistema. A coleta consistente de dados e a disponibilização de um banco de dados acessível são medidas importantes para melhorar o monitoramento do serviço.
Com base nos dados de 2022 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), cujo preenchimento é de responsabilidade dos prestadores de serviços ou órgãos municipais encarregados da gestão dos serviços, elaborou-se a Tabela 21, especificando os principais indicadores utilizados para analisar a eficiência do Serviço de Abastecimento de Água (SAA) do município.
Tabela 21 – Sistema de indicadores do SNIS utilizados na avaliação dos serviços do SAA.
| Item | Indicador | Quantidade | Unidade | Fonte |
| AG001 | População total atendida com abastecimento de água. | 16.437 | Habitante | SNIS |
| AG002 | Quantidade de ligações ativas de água. | 5.733 | Ligação | SNIS |
| AG003 | Quantidade de economias ativas de água. | 6.796 | Economia | SNIS |
| AG005 | Extensão da rede de água | 54,01 | Km | SNIS |
| AG006 | Volume de água produzido | 1.082,55 | 1.000m³/ano | SNIS |
| AG007 | Volume de água tratado em ETA | 1.082,55 | 1.000m³/ano | SNIS |
| AG008 | Volume de água micromedido | 829,46 | 1.000m³/ano | SNIS |
| AG010 | Volume de água consumido | 886,83 | 1.000m³/ano | SNIS |
| AG011 | Volume de água faturado | 845,87 | 1.000m³/ano | SNIS |
| AG021 | Quantidade de ligações totais de água | 6.195 | Ligação | SNIS |
| AG028 | Consumo total de energia elétrica nos sistemas de água | 621,57 | 1.000kWh/ano | SNIS |
| FN002 | Receita operacional direta de água | 4.475.279,85 | R$/ano | SNIS |
| FN005 | Receita operacional total (direta + indireta) | 4.475.279,85 | R$/ano | SNIS |
| FN006 | Arrecadação total | 4.090.622,72 | R$/ano | SNIS |
| FN010 | Despesa com pessoal próprio | 917.555,25 | R$/ano | SNIS |
| FN011 | Despesa com produtos químicos | 87.501,89 | R$/ano | SNIS |
| FN013 | Despesa com energia elétrica | 437.870,82 | R$/ano | SNIS |
| FN014 | Despesa com serviços de terceiros | 836.730,17 | R$/ano | SNIS |
| FN015 | Despesas de exploração | 2.922.006,49 | R$/ano | SNIS |
| FN017 | Despesas totais com os serviços | 3.502.670,33 | R$/ano | SNIS |
| IN003 | Despesa total com os serviços por m³ faturado | 4,14 | R$/m³ | SNIS |
| IN004 | Tarifa média praticada | 5,29 | R$/m³ | SNIS |
| IN005 | Tarifa média de água | 5,29 | R$/m³ | SNIS |
| IN009 | Índice de hidrometração | 100 | Percentual | SNIS |
| IN012 | Indicador de desempenho financeiro | 127,77 | Percentual | SNIS |
| IN013 | Índice de Perdas Faturamento | 21,83 | Percentual | SNIS |
| IN014 | Consumo micromedido por economia | 10,28 | Percentual | SNIS |
| IN022 | Consumo médio per capita de água | 153,32 | l/hab./dia | SNIS |
| IN044 | Índice de micromedição relativo ao consumo | 93,53 | Percentual | SNIS |
| IN049 | Índices de perdas na distribuição | 18,05 | Percentual | SNIS |
| IN050 | Índice bruto de perdas lineares | 9,99 | m³/dia/Km | SNIS |
| IN051 | Índice de perdas por ligação | 94,34 | l/dia/lig. | SNIS |
| IN052 | Índice de consumo de água | 81,95 | percentual | SNIS |
| IN053 | Consumo médio de água por economia | 10,99 | m³/mês/econ. | SNIS |
| IN058 | Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água. | 0,57 | kWh/m³ | SNIS |
| QD002 | Quantidades de paralizações no sistema de distribuição de água | 6 | Paralizações/ano | SNIS |
| QD003 | Duração das paralizações | 107 | Horas/ano | SNIS |
| QD004 | Quantidades de economias ativas atingidas por paralizações | 5.996 | Economias/ano | SNIS |
A tabela apresenta diversos indicadores relacionados ao abastecimento de água no município, fornecendo uma visão abrangente do sistema. A população total atendida com abastecimento de água (AG001) é de 16.437 habitantes, enquanto a quantidade de ligações ativas de água (AG002) e economias ativas de água (AG003) é de 5.733 e 6.796, respectivamente. A extensão da rede de água (AG005) é de 54,01 km, indicando a infraestrutura disponível para o fornecimento de água. O volume de água produzido (AG006) e tratado em Estação de Tratamento de Água (ETA) (AG007) é de 1.082,55 x 1.000m³/ano.
Além disso, há o volume de água micromedido (AG008), consumido (AG010), e faturado (AG011), que são de 829.46,886.83, e 845.87 x 1.000m³/ano, respectivamente.
Esses valores representam o volume de água em metros cúbicos (m³) que foi micromedido, consumido e faturado ao longo de um ano. O volume de água microme- dido (AG008) refere-se à quantidade total de água que foi medida de forma precisa utilizando medidores específicos, como os hidrômetros, ao longo do período de um ano. O volume de água consumido (AG010) representa a quantidade total de água que foi efetivamente utilizada pelos consumidores durante o mesmo período de um ano. Por fim, o volume de água faturado (AG011) indica a quantidade total de água que foi registrada e cobrada dos consumidores pela empresa prestadora do serviço de abastecimento de água durante o ano.
O volume de água produzido (AG006) é de 1.082,55 mil metros cúbicos por ano, enquanto o volume de água consumido (AG010) é de 886,83 mil metros cúbicos por ano. Isso sugere que aproximadamente 18,06% da água produzida não está sendo consumida ou está sendo perdida durante o processo de distribuição.
O volume de água faturado (AG011) é de 845,87 mil metros cúbicos por ano, o que indica uma discrepância entre o volume produzido e o volume efetivamente faturado. Isso pode ser um sinal de perdas de água no sistema de distribuição, exigindo uma investigação mais aprofundada para identificar e mitigar as causas das perdas.
O índice de hidrometração constitui um indicador essencial para avaliar a eficácia do sistema de abastecimento de água, sendo diretamente correlacionado ao índice de perdas. Para este índice o município apresenta um percentual de 100%, considerado um ponto forte, indicando um controle preciso do consumo. No entanto, o índice de perdas na distribuição de 27,15% e o índice de perdas por ligação de 126,27 L/dia/lig. sugerem áreas que necessitam de atenção, visando a redução de desperdícios e otimização da eficiência. As perdas podem decorrer de problemas na medição, ausência de hidrômetros, ligações clandestinas ou cobrança ineficaz, des- tacando-se como fatores críticos a serem abordados.
Conforme estabelecido no Art. 29 da Lei nº 11.445/2007, atualizado pelo Novo Marco Legal do Saneamento Básico, Lei nº 14.026/2020, a hidrometração influencia as diretrizes para a definição das tarifas dos serviços de saneamento básico. Essas diretrizes visam:
· Inibir o consumo supérfluo e o desperdício de recursos;
· Recuperar os custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência;
· Estimular o uso de tecnologias modernas e eficientes, alinhadas aos padrões exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços;
· Incentivar a eficiência dos prestadores de serviço.
No aspecto financeiro, a despesa total com os serviços por m³ faturado (R$ 4,14) e a tarifa média praticada (R$ 5,29) estão em um patamar razoável. No entanto, é fundamental garantir que esses valores sejam suficientes para cobrir os custos operacionais e investimentos necessários para manter e melhorar o sistema.
Com a atualização periódica do Plano Municipal de Saneamento Básico, conforme exigência legal, há a possibilidade de incorporar outros indicadores que venham a ser considerados relevantes ao longo do processo, proporcionando um monitoramento mais abrangente da evolução do serviço de abastecimento de água no município.
A Lei Federal nº 11.445/2007, atualizada pela Lei nº 14.026/2020, estipula que os municípios brasileiros estabeleçam um sistema de informações integrado ao SNIS, que representa a principal ferramenta para coleta, armazenamento, geração e divulgação dos dados relacionados ao saneamento no Brasil.
Dentro dos capítulos específicos destinados a cada aspecto relacionado ao SAA do município, presentes neste Diagnóstico, serão apresentados os indicadores pertinentes juntamente com seus respectivos valores. Essa abordagem visa proporcionar uma compreensão mais aprofundada da situação atual, permitindo identificar áreas passíveis de aprimoramento no sistema de abastecimento de água.
a) Outorgas
A outorga de uso de recursos hídricos é um instrumento legal que confere ao usuário o direito de utilizar a água de forma temporária ou permanente, de acordo com as condições estabelecidas pelas autoridades competentes. No Brasil, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), instituído pela Lei Federal nº 9.433/97, estabelece que o uso de recursos hídricos, para fins de aproveitamento de potencial hidrelétrico, irrigação, abastecimento público, entre outros, está sujeito à outorga.
A outorga é concedida pelos órgãos gestores de recursos hídricos, geralmente vinculados aos governos estaduais, com base em critérios técnicos, ambientais, econômicos e sociais. Para obtê-la, o usuário deve apresentar uma solicitação formal, contendo informações detalhadas sobre a finalidade, a quantidade e as características do uso pretendido, bem como os impactos ambientais e medidas de mitigação previstas.
Ao conceder a outorga, o órgão gestor estabelece condições específicas para o uso da água, como limites de captação, prazos de utilização, áreas de abrangência, entre outras. O não cumprimento dessas condições pode acarretar penalidades, como multas e até mesmo a suspensão do direito de uso da água.
No estado do Espírito Santo, a outorga de uso de recursos hídricos é concedida pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), que é o órgão responsável pela gestão dos recursos hídricos e ambientais no estado. O IEMA atua na concessão de outorgas para diversos fins, como abastecimento público, irrigação, uso industrial, geração de energia hidrelétrica, entre outros, de acordo com a legisla- ção estadual e federal relacionada à gestão dos recursos hídricos.
b) Captação e Adução
O abastecimento de água no município é realizado através de captações em mananciais de superfície e poço artesiano. Os principais mananciais que fornecem água para o sistema de abastecimento incluem o Córrego Espírito Santo (Córrego do Tanque), Córrego Antônio Pedro (Afluente Córrego José Pedro), Rio José Pedro, Rio Pardo e Córrego Boa Vista (Serrinha), conforme mostrado no Quadro 10.
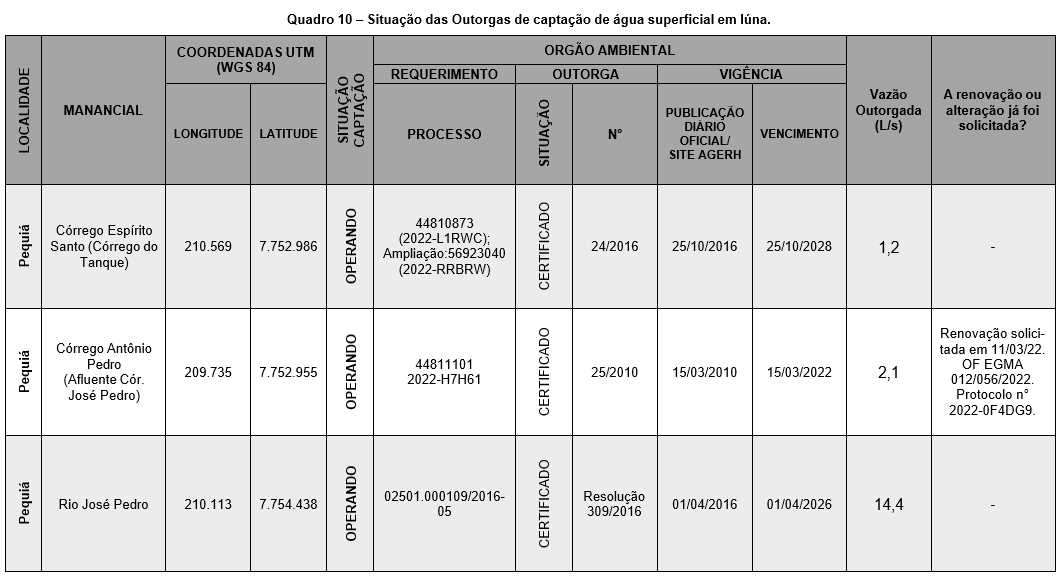
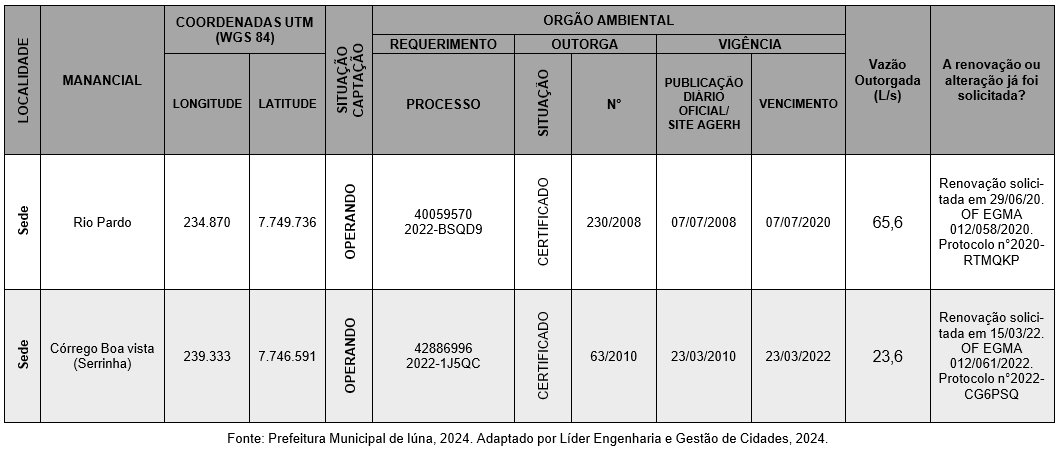
Quanto ao uso de água subterrânea no município, foi identificada uma captação ativa outorgada pelo prestador de serviços de saneamento básico, conforme dados da Tabela 22.
Tabela 22 – Declaração de uso de água subterrânea em Iúna.
| Local | Região Hidrográfica | Finalidade | Longitude | Latitude | Data | Vazão máxima (L/s) |
| Pequiá | Bacia do Rio Doce | Sistema de Abastecimento para consumo humano | 209.933 | 7.755.959 | 18/01/2024 | 7 |
A Figura 26 mostra a infraestrutura existente de abastecimento de água no município de Iúna.
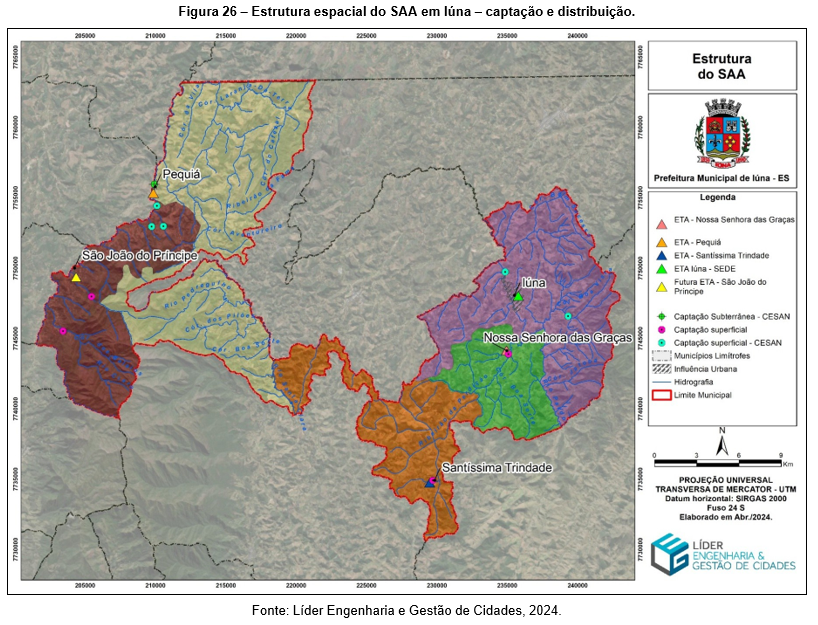
A captação no rio Pardo é realizada por meio de uma Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB) (Figura 27). Esta adução possui uma vazão média de 35 L/s e é composta por 02 conjuntos motobombas, sendo um de reserva e rodízio. As características principais de cada conjunto são: bomba KSB MEGANORM modelo 80-200 e motor WEG com potência de 75 cv. A tubulação de ferro fundido de diâmetro de 300 mm, com 2.608 metros de extensão, transporta a água bruta até a ETA Iúna Sede.
As características das demais EEABs não foram informadas para esse diagnóstico.

A captação do córrego Boa Vista (Serrinha), é realizada por meio de um barramento de concreto, com adução conduzida por duas canalizações. A tubulação mais antiga, de aproximadamente 300 metros de extensão, possui um diâmetro de 125 mm em ferro fundido, abrangendo a saída da barragem e travessias aéreas, enquanto partes foram substituídas por tubos de fibrocimento de 125 mm por diâmetro de 150 mm em DEFoFo (1).
A tubulação mais recente, com partes em ferro fundido e partes em DEFoFo, mantém o diâmetro de 150 mm. O sistema de adução opera por gravidade, sendo ambas as adutoras utilizadas durante o período de cheias, com uma vazão de cerca de 34 L/s, e apenas uma adutora durante a estiagem, com vazão de aproximadamente 17 L/s.
(1) DEFoFo: tubos e conexões hidráulicas fabricados em MPVC (PVC modificado), modificados para atender a requisitos específicos de resistência, durabilidade ou outras propriedades desejadas. são projetados para suportar pressões de até 1,0 MPa (Megapascal) ou 10 kgf/cm2 (quilograma-força por centímetro quadrado), quando a temperatura ambiente é de 20ºC.

Adutoras são canalizações essenciais nos sistemas de abastecimento de água, responsáveis por conduzir água entre unidades, como estações de tratamento e re- servatórios, sem desvios para distribuição direta. Qualquer interrupção em adutoras afeta diretamente o fornecimento à população, com consequências significativas.
No sistema de abastecimento de água de Iúna, a adução desempenha um papel importante, captando água de fontes como rios e mananciais e transportando-a até a estação de tratamento.
A Prefeitura Municipal de Iúna forneceu o cadastro da rede de abastecimento apenas da Sede e do distrito de Pequiá, não incluindo os dados dos demais distritos. Com este cadastro, foi possível levantar os dados de comprimento de rede, número de ligações, dentre outras informações.
No total, as duas aduções de água bruta que abastecem a sede do município de Iúna possuem 9752 m de extensão, conforme descrito na Tabela 23.
Tabela 23 – Caracterização do sistema de água bruta de Iúna – Sede.
| Material | Diâmetro | Extensão |
| Tubo de FC | 150 mm | 3200 m |
| PVC DE DEFoFo | 150 mm | 2544 m |
| Tubo de FoFo | 125 mm | 300 m |
| Tubo de FoFo | 150 mm | 1100 m |
| Tubo de FoFo | 300 mm | 2608 m |
| TOTAL | 9752 m |
A captação subterrânea por poço tubular profundo abastece atualmente a ETA Pequiá. A vazão média captada é de 4 L/s. O local do poço fica onde era uma quadra de futebol, atrás da Unidade de Saúde de Pequiá, conforme mostra a Figura 29.
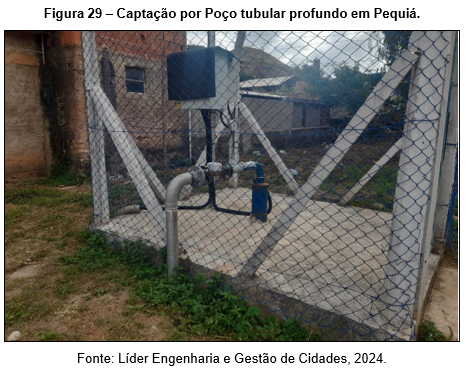
Outras captações abastecem diferentes distritos, como Santíssima Trindade, Nossa Senhora das Graças e São João do Príncipe. Cada uma dessas captações possui características específicas de funcionamento e manutenção, sendo algumas delas operadas pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, com relatos de presença de ferro na água e falta de controle de qualidade regular.
Além disso, em alguns casos, como em São João do Príncipe e Rio Claro, não há monitoramento ou tratamento da água, com a manutenção sendo custeada pelos moradores locais. Algumas captações operam sem a necessidade de energia adicional, enquanto outras demandam estações elevatórias de água bruta para garantir o abastecimento adequado. No entanto, durante visita técnica, constatou-se que a estrutura da ETA se encontra inativa.
A captação do distrito de Nossa Senhora das Graças (Figura 30) é realizada em 2 locais, no Ribeirão da Perdição (235.092 E/ 7.743.897 N), que com bombas centrífugas, com acionamento remoto, podendo ser ligado/desligado da ETA, e captação de manancial de superfície (Figura 31). Não foram informadas as características da adutora de água bruta do distrito de Nossa Senhora das Graças. A vazão de captação no Ribeirão da Perdição é de 4 a 6 m³/seg, enquanto a do manancial é de 1 m³/s.

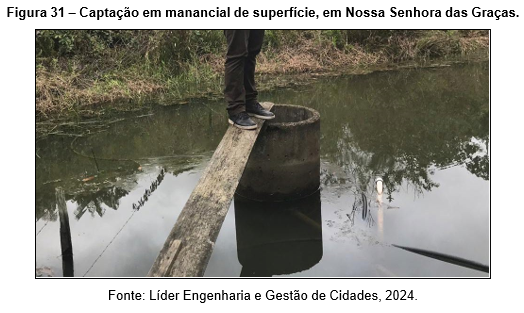
Em época de seca, faz-se uma barragem no curso d´água com sacos de saibro, brita e comento, para a água poder alcançar o ponto de captação no Ribeirão da Perdição, conforme apresentado na imagem abaixo.
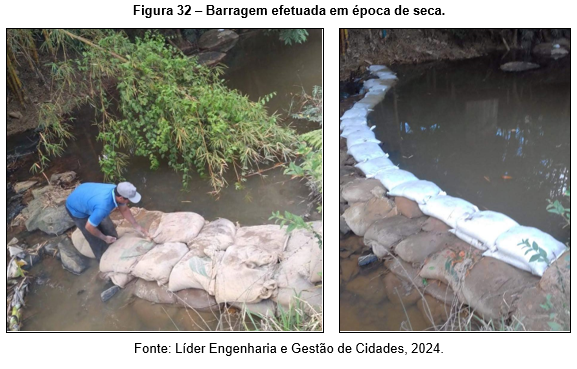
A captação no Ribeirão Trindade (Figura 33) (229.719 E/ 7.734.916 N) é realizada para abastecer a ETA Santíssima Trindade. A manutenção é feita por um funcionário da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos. Não há informações acerca da adutora de água bruta e da elevatória de água Bruta.

A captação do distrito de São João do Príncipe (205.585 E/ 7.748.071 N) é a principal fonte hídrica do distrito e requer manutenção constante, conforme mostra Figura 34.
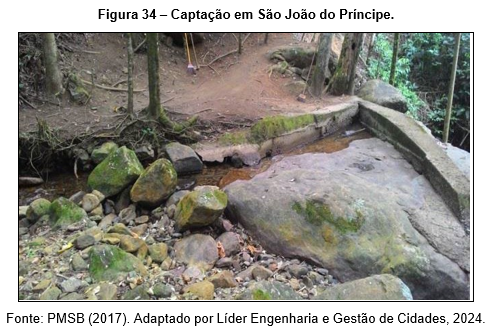
d) Processo de Tratamento
A água, em seu estado natural, geralmente não atende aos requisitos de qualidade para consumo humano devido à presença de substâncias orgânicas, inorgânicas e organismos vivos. Por isso, são necessários métodos de tratamento que variam desde os mais simples até sistemas avançados de purificação. O objetivo do tratamento de água é remover partículas em suspensão e em solução, assim como microrganismos patogênicos. A concessionária responsável pelo abastecimento realiza monitoramento mensal da qualidade da água nos mananciais de captação. A Figura 35 mostra os procedimentos que são utilizados para o abastecimento público.
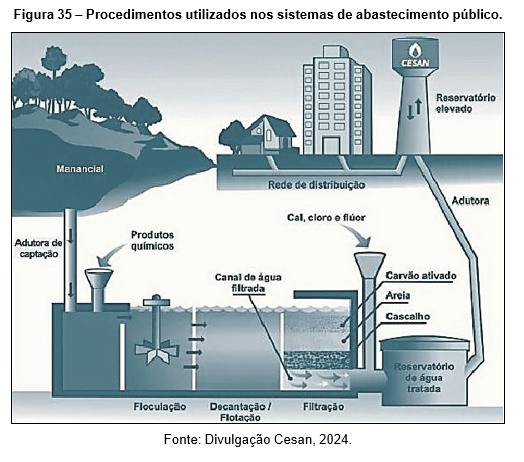
De forma simplificada, o tratamento de água bruta passa pelas seguintes etapas:
1. Captação: a água é captada diretamente dos mananciais;
2. Coagulação: após a captação, um agente químico, como sulfato de alumínio ou policloreto de alumínio, é adicionado para aglutinar as partículas de sujeira presen- tes na água;
3. Floculação: em seguida, ocorre a floculação, onde as partículas aglutinadas se unem formando flocos maiores dentro dos tanques;
4. Decantação: na fase de decantação, esses flocos maiores são separados da água, depositando-se no fundo do tanque devido à ação da gravidade. A água clarifi- cada na superfície é então direcionada para a próxima etapa;
5. Filtração: a água passa por filtros compostos por camadas de cascalho, areia e carvão mineral, removendo impurezas remanescentes;
6.Cloração: nesta etapa, cloro é aplicado para eliminar micro-organismos presen- tes na água, reduzindo o risco de doenças de veiculação hídrica;
7. Fluoretação: é adicionado ácido fluossilícico à água, auxiliando na prevenção de cáries dentárias na população;
8. Alcalinização: por fim, a alcalinização ajusta o pH da água utilizando cal hidra- tada, equilibrando a acidez conforme os padrões estabelecidos pela legislação vigente (Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde).
As ETAs operadas pelo prestador de serviços de saneamento básico possuem sistema de tratamento convencional, no qual a água bruta é captada no manancial de superfície, passa por um recalque e após as etapas de tratamento é reservada para ser distribuída à população, em conformidade com as exigências da Portaria nº 2.914/2011. As Estações de tratamento em operação pelo SAA Iúna são descritas no Quadro 11. Ressalta-se que a ETA de São João do Príncipe encontra-se inoperante.
Quadro 11 – ETAS em operação.
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | MUNICIPIO |
| ETA Iúna Sede | ETA Santíssima Trindade |
| ETA Pequiá | ETA Nossa Senhora das Graças |
A água captada nos mananciais de superfície recebe uma pré cloração e passa por um processo de tratamento convencional em uma Estação de Tratamento de Água (ETA), que inclui decantação acelerada. Já o tratamento da água proveniente dos poços envolve processos de desinfecção e a aplicação de flúor.
e) Reservação
O SAA de Iúna conta com reservatórios na Sede, nos distritos de Pequiá, Nossa Senhora das Graças, Santíssima Trindade, São João do Príncipe, e Rio Claro. Os reservatórios são do tipo semienterrado, apoiado e elevado. Os materiais que constituem esses reservatórios são de estrutura de concreto armado, metálico e fibra de vidro.
· Iúna Sede
Os reservatórios (23.5837 E / 7.748.071 N) são abastecidos com a água tratada da ETA Iúna Sede, são do tipo semienterrado, construídos em concreto armado e estão localizados na própria área da ETA, um com capacidade de 260 m³ e outro com capacidade de 750 m³.
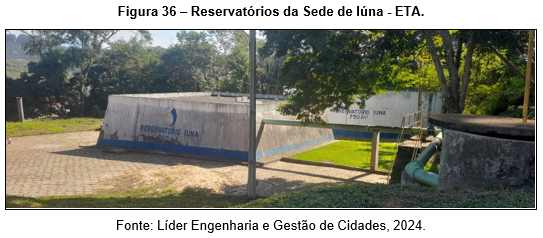
· Pequiá
Em Pequiá são dois os reservatórios (209.924 E/ 7.755.073 N) abastecidos com a água tratada da ETA Pequiá, ambos do tipo semienterrado, construídos em concreto armado e estão localizados na própria área da ETA, um com capacidade de 40 m³ e outro com capacidade de 50 m³.

· Nossa Senhora das Graças
Há dois reservatórios (234.959 E / 7.744.156 N) um de 40 m³ do tipo apoiado em concreto armado para o abastecimento da população e outro do tipo elevado metálico para realizar a lavagem de filtro.
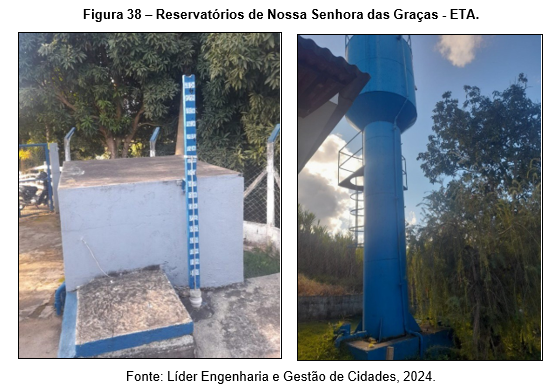
Também existem dois reservatórios de distribuição por gravidade, de 20 mil litros cada, que ficam localizados a 130 metros da ETA, conforme mostrado na figura abaixo.

· Santíssima Trindade
Na área da ETA há reservatórios do tipo apoiado em fibra de vidro (229.631 E/ 7.734.751 N) totalizando um volume de reservação de 90 m³.

· São João do Príncipe
O Reservatório de São João do Príncipe (204.351 E / 7.749.387 N) está localizado na área da ETA onde funciona apenas o reservatório, o qual foi instalado em 2007 e hoje abastece cerca de 130 casas (PMSB, 2017).
É constituído de fibra de vidro, e do tipo apoiado. No momento da visita técnica feita ao município, em junho de 2024, a ETA encontrava-se inativa, sem nenhum tipo de tratamento sendo feito.
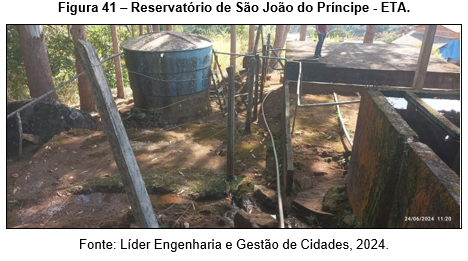
· Rio Claro
O distrito de Rio Claro possui um reservatório cuja localização apresenta dificuldades de acesso. A prefeitura não dispõe de informações detalhadas sobre o reservatório, como tipo, capacidade, material de construção, entre outros aspectos. A Figura 42 ilustra o reservatório de Rio Claro.

f) Boosters de Água Tratada
O SAA da sede de Iúna possui três boosters como elevatórias de água tratada:
· Booster Nossa Senhora da Penha/Quilombo
O booster está localizado dentro da área da ETA (235.769 E / 7.748.016 N) abastece os pontos altos do Município (Bairro do Pito e Parte Alta do Bairro Pito).
É composto por dois conjuntos motobomba com as seguintes características: (01 + 01R), bomba centrífuga KSB MEGANORM modelo 50-315 e motor EBERLE com potência de 20cv.
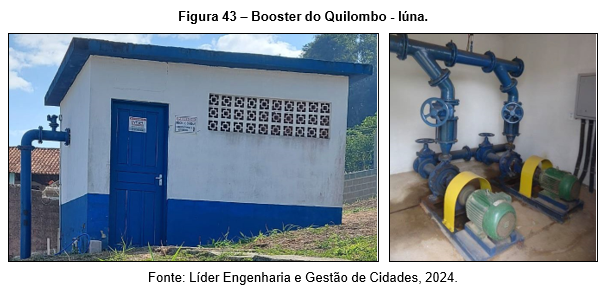
· Booster da APAE
O Booster (235.229 E / 7.748.684 N) abastece a entidade da APAE e bairro Vale Verde. As características dos conjuntos são: o (01 + 01R), bomba centrífuga DANCOR modelo 620 e motor com potência de 5cv.
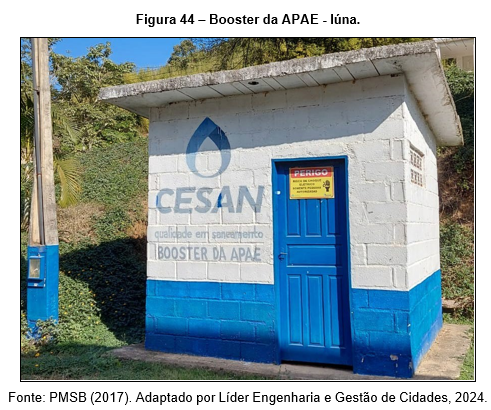
· Booster no loteamento Cidade Nova
Para este Booster do loteamento Cidade Nova (235.591 E / 7.745.821 N), não foram fornecidas informações sobre seu funcionamento
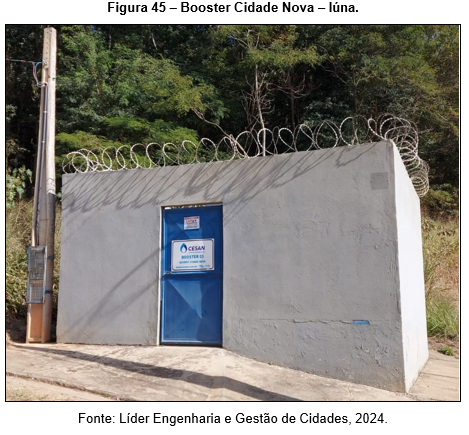
g) ETA Iúna
O sistema de tratamento da água possui regime de operação de 18 horas/dia, com vazão média de 47,29 L/s.
A ETA Iúna Sede (7.748.057 N / 235.870 E) é do tipo convencional completa, possui: misturador rápido, floculação, flotação/decantação, filtração, desinfecção, correção do pH e fluoretação com adição de reagentes químicos.
As estruturas da estação estão descritas como: misturador rápido e medição de vazão do tipo Calha Parshall (Figura 46); floculador do tipo hidráulico de chicanas com fluxo vertical com 10 compartimentos (0,83 x 0,70m) (Figura 57 e Figura 48). O tempo de detenção é de aproximadamente 10 minutos e a velocidade de passagem entre os compartimentos é de 0,034m/s; o decantador (Figura 49) é dividido em duas partes, onde a primeira funciona pelo sistema de flotação (câmera para insuflar o ar) e a segunda de forma convencional. O decantador tem forma retangular (14,70 x 6,30m) e é de fluxo horizontal; os filtros são do tipo rápido, leito de areia e contam com 04 unidades (Figura 50); a casa de química (Figura 51), com área de 32,50m², abriga equipamentos de preparo e aplicação de sulfato de alumínio e cloro. A ETA Sede faz em seu tratamento o uso de Cal, sulfato, clorogás (Figura 53) e flúor.
A ETA também possui um laboratório com equipamentos de medição (Figura 54), um medidor do nível do curso d´água hidráulico, um pluviômetro e uma estação pluviométrica instalada e monitorada pelo CEMADEN - Centro Nacional de Monitora- mento e Alertas de Desastres Naturais (Figura 56).

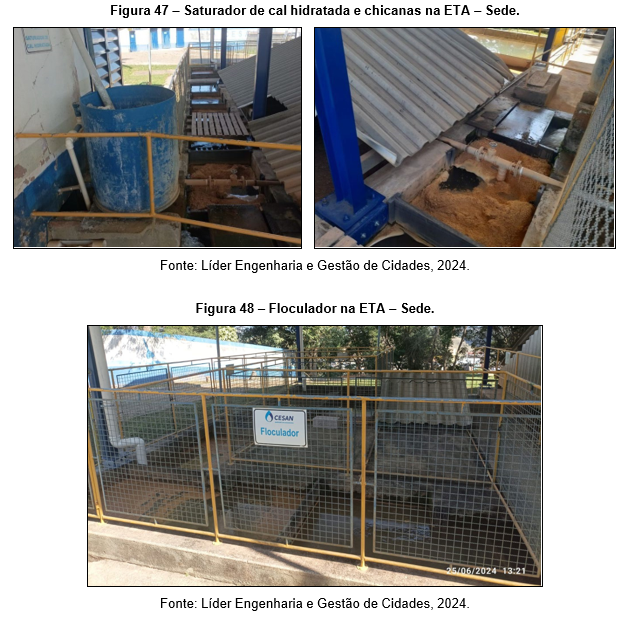
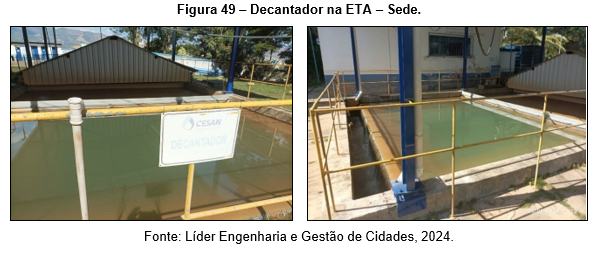

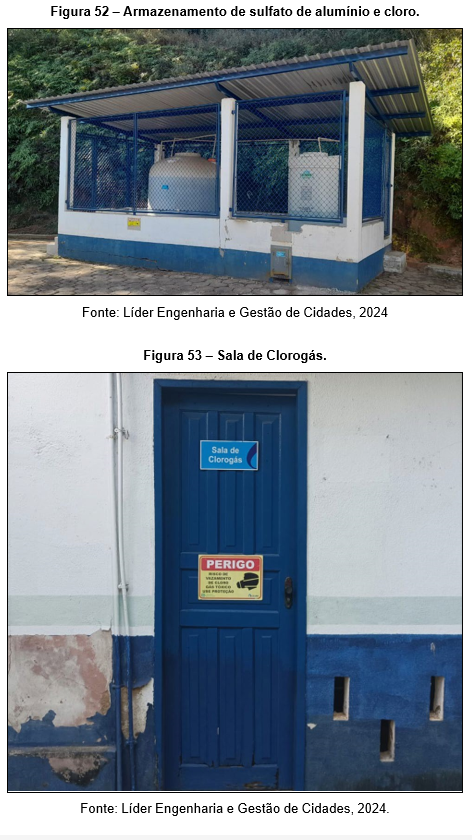


O Rio Pardo e o Córrego Serrinha, integrantes da bacia hidrográfica do Rio Itapemirim, são as fontes de água onde o prestador de serviços de saneamento básico realiza a captação para o abastecimento de Iúna.
O laboratório da ETA conta com medidores de vazão em tempo real, assim como um medidor eletromagnético da adutora de água bruta de Serrinha, conforme mostrados na Figura 57 e Figura 58, respectivamente.

h) ETA Pequiá
O sistema de tratamento da água possui regime de operação de 12 horas/dia, com vazão média de 4 L/s.
Assim como a ETA Iúna, a ETA Pequiá (7.755.073N / 209.924E) é do tipo convencional completa, possui: misturador rápido, floculação, decantação, filtração, de- sinfecção, correção do pH e fluoretação com adição de reagentes químicos, além de possuir um laboratório com aparelhos de medições. O registro fotográfico da ETA levantado durante visita técnica (junho/2024) é apresentado na Figura 59.


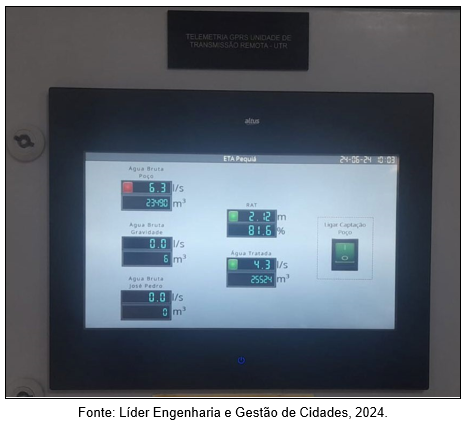
i) ETA Nossa Senhora das Graças
A ETA Nossa Senhora das Graças (7.744.156N / 234.959E) é mantida pelos moradores do distrito de Nossa Senhora das Graças, por meio da Associação de Gestão Comunitária de Tratamento e Abastecimento de Água Rural. A instalação conta com 2 funcionários, 1 contratado pela prefeitura e outro pela Associação.
A Estação conta com floculador, decantador, filtro e cloração, com monitoramento da água realizado semanalmente. A Figura 60 apresenta as instalações da estação de tratamento.


j) ETA Santíssima Trindade
A ETA Santíssima Trindade (7.734.751N / 229.631E) possui reservatório de 90.000 litros e a limpeza do decantador e floculador é feita a cada 15 dias. A estação é mantida pela associação de moradores do distrito de Santíssima Trindade, que emite boleto para as casas da região.
A Figura 61 apresenta o registro fotográfico efetuado em junho/2024 da estação de tratamento de água.
Durante visita técnica, constatou-se presença de folhas de eucalipto por toda a área da ETA, pois existem muitos eucaliptos muito próximos à área, como pode ser visualizado nas imagens abaixo, o que pode prejudicar o sistema de tratamento, exigindo uma maior frequência de limpeza dos tanques.
Para mitigar o problema da presença de folhas de eucalipto na área da Estação de Tratamento de Água (ETA), algumas soluções podem ser consideradas. A instalação de barreiras físicas ao redor da ETA, como telas ou outras estruturas, pode impedir que as folhas de eucalipto entrem na área de tratamento.
Além disso, a manutenção da vegetação é de suma importância. Realizar podas regulares das árvores de eucalipto próximas à ETA pode reduzir significativamente a queda de folhas na área de tratamento. Outra opção é considerar a remoção e substituição dos eucaliptos por vegetação menos invasiva que não interfira no sistema de tratamento de água.
Outra solução eficaz é a cobertura das estruturas. A instalação de coberturas ou telhados sobre os tanques e outras estruturas críticas da ETA pode proteger contra a queda de folhas e outros detritos, garantindo a continuidade e a eficiência do tratamento de água.
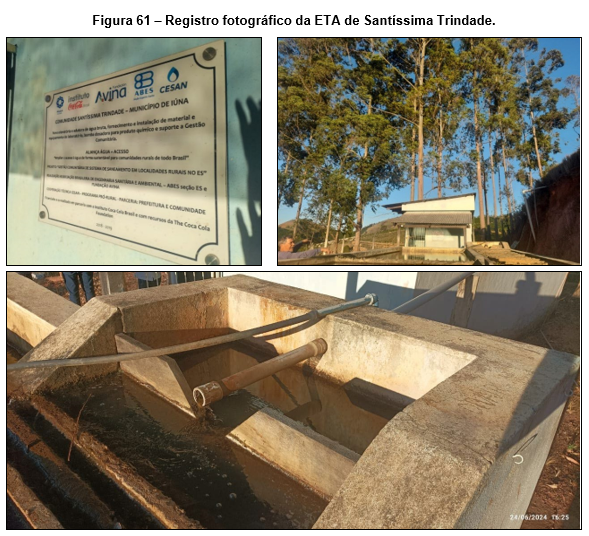


k) ETA São João do Príncipe
A ETA de São João do Príncipe (7.749.387N / 204.351E) atualmente funciona apenas com o reservatório instalado em 2007 e hoje abastece cerca de 130 casas. Durante visita técnica feita ao distrito em junho de 2024, a ETA encontrava-se praticamente abandonada e inativa.
A água é coletada para monitoramento pelo menos 1 vez ao ano e quando há algum surto infeccioso na região. Existe outro ponto de captação mais baixo que o descrito, mas como esse sofre influência antrópica, só é usado em caso de emergência.
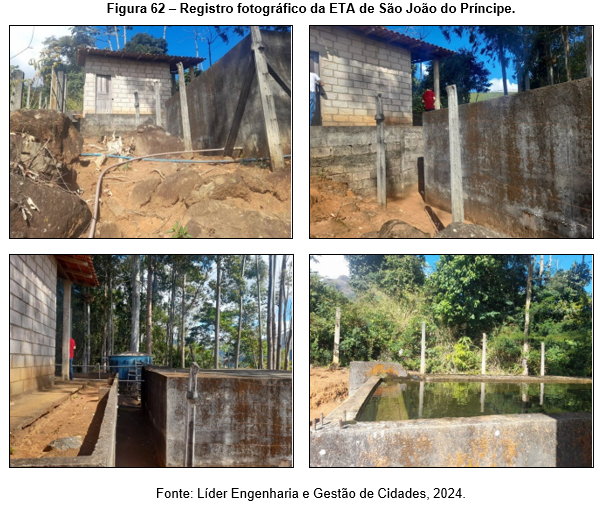
l) Redes de distribuição
A rede de distribuição é uma infraestrutura composta por uma série de tubulações, válvulas, bombas e outros dispositivos que têm como objetivo distribuir água tratada para os consumidores finais, como residências, comércios e indústrias, dentro de uma determinada área geográfica.
Essa rede é responsável por levar a água potável dos pontos de armazenamento, como reservatórios e torres, até os pontos de consumo. Ela é projetada de forma a garantir que a água chegue com pressão adequada e em quantidade sufici- ente para atender à demanda da população.
As redes de distribuição podem variar em tamanho e complexidade, dependendo da densidade populacional e das características geográficas da área atendida. Elas podem incluir redes de distribuição de grande porte, que abastecem cidades inteiras, até redes menores, que fornecem água para áreas mais isoladas ou comunidades rurais.
Manter uma rede de distribuição eficiente é essencial para garantir o acesso contínuo e seguro à água potável para a população. Isso envolve a realização de manutenção regular, detecção e reparo de vazamentos, controle de pressão e qualidade da água, entre outras medidas para garantir aoperação adequada do sistema.
De acordo com o SNIS (2022), o sistema de distribuição de água de Iúna possuía aproximadamente 54,01 km de extensão, em 2022 (indicador AG005). No entanto, segundo os dados atualizados fornecidos pela Prefeitura de Iúna, para 2024, consta que na Sede a rede possui 56,99 km de extensão, e em Pequiá 9,18 km, totalizando 66,17 km. No distrito Sede a rede possui diâmetro de até 300 mm, sendo que pouco mais de 50% dela possui diâmetro de 50 mm. Os diâmetros mínimo e máximo utilizados no distrito de Pequiá são de 20 mm e 75 mm, respectivamente.
Não há informações acerca dos quantitativos de rede dos demais distritos de Iúna.
m) Qualidade dos serviços
Os indicadores QD002, QD003 e QD004 foram utilizados para avaliação da qualidade dos serviços de abastecimento de água, conforme dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2022), e estão apresentados na Tabela 24.
Tabela 24 – Indicadores utilizados para análise de qualidade dos serviços do SAA.
| Índice | Quantidade | Unidade |
| QD002 - Quantidades de paralizações no sistema de distribuição de água | 6 | Paralizações/ano |
| QD003 - Duração das paralizações | 107 | Horas/ano |
| QD004 - Quantidades de economias ativas atingidas por paralizações | 5.996 | Economias/ano |
A quantidade de paralisações no sistema de distribuição de água (QD002) registrou uma média de seis interrupções por ano. A duração das paralisações (QD003) foi estimada em 107 horas por ano. Ademais, o indicador QD004 revelou que, em média, 5.996 economias foram afetadas por paralisações anualmente.
Paralizações frequentes no sistema de distribuição de água podem indicar problemas de infraestrutura, manutenção inadequada, falhas operacionais ou outras questões que afetam a confiabilidade do serviço. Por outro lado, paralizações prolongadas podem causar inconvenientes significativos para os usuários, resultando em falta de água para atividades cotidianas, danos à saúde pública e prejuízos econômicos para empresas e indústrias.
Ao monitorar regularmente a quantidade e a duração das paralizações, as autoridades responsáveis pelo abastecimento de água podem identificar padrões, tendências e áreas de preocupação. Isso permite a implementação de medidas corretivas e preventivas para melhorar a confiabilidade do sistema, reduzir as interrupções no fornecimento de água e garantir um serviço de alta qualidade para a população atendida.
Diante dessas informações, torna-se imperativo adotar medidas corretivas e preventivas para mitigar os impactos negativos das paralisações, garantindo um serviço de abastecimento de água mais confiável e eficiente para a população atendida.
n) Índice de perdas
No contexto de um Sistema de Abastecimento de Água (SAA), desde a retirada da água do rio até a chegada à casa do munícipe, ocorrem perdas de água que correspondem aos volumes não contabilizados. Assim, a perda de água é a diferença entre a água que é produzida e o consumo autorizado.
Diversos custos estão associados às perdas de água, são eles: o custo direto de produção de água perdida, o custo de interrupção do abastecimento e da eliminação dos vazamentos (custos diretos e danos de imagem da Companhia), custos sociais pela interrupção do abastecimento, o custo associado ao risco de contaminação, e os custos ambientais de utilização ineficiente de água e energia.
As perdas de água podem ser de diferentes tipos, podendo ser classificadas em perda física ou real e perda não física ou aparente, também classificadas como perda operacional e perda comercial, respectivamente. As perdas físicas, que representam a parcela não consumida, e as perdas não físicas, que correspondem à água consumida e não registrada.
Em termos de produção, um elevado nível de perdas reais resulta em:
· Maior custo de insumos químicos, energia para bombeamento, entre outros fatores de produção;
· Maior custo de manutenção da rede e dos equipamentos;
· Desnecessário uso da capacidade de produção e distribuição existente;
· Maior custo devido à possível utilização de fontes de abastecimento alternativas de menor qualidade ou difícil acesso.
No âmbito ambiental, essas perdas causam:
· Desnecessária pressão sobre as fontes de abastecimento do recurso hídrico;
· Maior custo para mitigar os impactos negativos dessa atividade (externalidades).
Assim, as fórmulas apresentam os meios para se chegar aos índices listados a seguir e a Tabela 25 apresenta uma análise dos indicadores de perdas do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do município, proporcionando uma comparação com valores do Estado do ES e do Brasil.
· Índice de perdas no faturamento (IN013);
· Índice de perdas na distribuição (IN049);
· Índice de perdas por ligação (IN051).
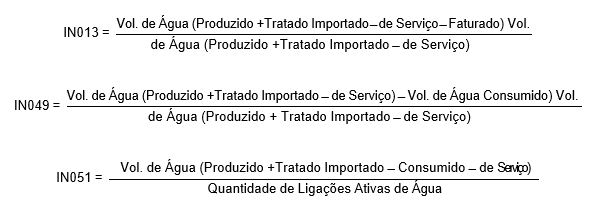
Tabela 25 – Comparação dos índices de perdas municipal, estadual e federal.
| Índice | Objetivo | Iúna | Espírito Santo | Brasil |
| IN013 - Índice de Perdas de Faturamento | Avaliar em termos percentuais o nível da água não faturada sem o volume de serviço (%) | 21,83 | 26,69 | 32,62 |
| IN049 - Índice de Perdas na Distribuição | Avaliar em termos percentuais o nível de perdas da água efetivamente consumida em um sistema de abastecimento de água potável (%). | 18,05 | 28,55 | 37,78 |
| IN051 - Índice de Perdas por Ligação | Avaliar o nível de perdas da água efetivamente consumida em termos unitários (l/lig./dia). | 94,34 | 442,12 | 333,71 |
Conforme os dados apresentados na Tabela 25, o índice IN013 do município de Iúna demonstra-se inferior à média estadual e nacional. O consumo faturado me- dido representa o volume de água registrado nos hidrômetros, enquanto o volume não faturado corresponde à água extraída diretamente no ponto de captação. Utilizando os dados do índice IN013, o prestador de serviços de saneamento básico pode avaliar as perdas reais e implementar ações eficazes para enfrentar questões relacionadas a essas perdas.
No que diz respeito ao índice IN049, o município também apresenta um valor abaixo do índice brasileiro e da média estadual. Entretanto, é importante destacar que esses valores podem não refletir a realidade, uma vez que a macro e micromedição podem ter deficiências.
Por fim, o índice IN051 do município também revela um valor inferior à média estadual e nacional, indicando que o município está bem posicionado em nível nacional e estadual.
Nesse contexto, enfatiza-se a importância do monitoramento contínuo em todo o processo produtivo, incluindo a elaboração ou manutenção de um cadastro técnico que reflita a realidade da infraestrutura na rede de distribuição local. Avaliações periódicas no controle de possíveis vazamentos e a implementação de uma gestão de perdas por meio de macro medidores e gerenciamento das pressões na rede são procedimentos conduzidos pelo prestador de serviços de saneamento básico do município. A adoção dessas práticas contribui para a manutenção dos elevados padrões de qualidade constatados no município em relação à gestão do sistema de abastecimento de água como um todo.
o) Consumo per capita de água
O consumo per capita de água é uma medida que indica a quantidade média de água utilizada por pessoa dentro de uma determinada área e período de tempo, geralmente expressa em litros por dia ou metros cúbicos por ano. Essa medida é importante para avaliar o padrão de uso de água de uma população e para o planejamento e gestão dos recursos hídricos.
Nos projetos de abastecimento público de água, o consumo per capita varia conforme a natureza da cidade e o tamanho da população. Na área urbana, essa variação é influenciada pelos hábitos de higiene da população, pelo clima, pelo tipo de instalações hidráulico-sanitárias das residências e, principalmente, pelo tamanho e nível de desenvolvimento da cidade. Na área rural, além do clima e dos hábitos de higiene, o consumo per capita também é afetado pela distância entre a fonte de água e o ponto de consumo (BRITO, 2016).
A maioria dos órgãos oficiais adota um consumo de 200 litros por habitante por dia para grandes cidades e 150 litros por habitante por dia para cidades médias e pequenas. Segundo a Fundação Nacional de Saúde, 100 litros por habitante por dia são suficientes para vilas e pequenas comunidades. Em situações de abastecimento de pequenas comunidades que enfrentam escassez de água e recursos, é aceitável um consumo de até 60 litros por habitante por dia (FEITOSA & FERNANDES FILHO, 2016).
O cálculo do consumo per capita leva em consideração diversos fatores, como o uso residencial, comercial e industrial da água, bem como as perdas ao longo do sistema de distribuição. Ele pode variar significativamente de acordo com o estilo de vida, o nível socioeconômico e as condições climáticas de uma região.
De acordo com o SNIS, o cálculo de consumo médio per capita é dado pela equação:
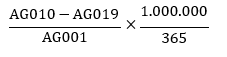
Sendo:
· AG001: população total atendida com abastecimento de água (utiliza-se a mé- dia aritmética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao mesmo) = 16.437 hab.;
· AG010: volume de água consumido = 886,83x1000 m³/ano;
· AG019: volume de água tratada exportado (volume de água potável, previa- mente tratada – em ETA ou por simples desinfecção – transferido para outros agentes distribuidores) = 0.
O indicador IN022, calculado conforme a equação apresentada anteriormente, resulta em um consumo per capita médio de água no município de 153,32 L/hab.dia.
7.1.1 Sistemas de controle e vigilância da qualidade da água
O órgão prestador de serviços de saneamento básico realiza o monitoramento preventivo das condições dos mananciais de captação de água. Este monitoramento envolve coletas sistemáticas e análises das propriedades físico-químicas, bacteriológicas e hidrobiológicas da água. Tal prática permite à empresa determinar o método mais adequado de tratamento da água. Quando um resultado analítico se encontra fora dos padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação Nº 5/2017 - Anexo XX, são adotadas medidas imediatas: o Laboratório de Controle de Qualidade comunica o setor operacional da empresa, realiza descargas na rede de distribuição para limpar a canalização, verifica possíveis interferências próximas ao ponto de coleta da amostra e coleta novas amostras para confirmar a eficácia dos procedimentos adotados até que a qualidade da água seja restabelecida.
Em 2020, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) executou fiscalização em Iúna, conforme os termos estabelecidos na Lei Federal nº 11.445/2007, Lei Estadual nº 9.096/2008 e Lei Estadual Complementar nº 827/2016. O objetivo foi avaliar a qualidade microbiológica e físico-química da água bruta, na saída do tratamento e na distribuição do Sistema de Abastecimento de Água de Iúna, operado pelo prestador de serviço de saneamento básico, seguindo as dire- trizes do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde.
A metodologia da fiscalização compreendeu a recepção e análise dos resultados dos laudos de qualidade microbiológica e físico-química da água bruta, tratada e distribuída no período de setembro de 2017 a janeiro de 2019. As amostras foram coletadas na captação, na saída do tratamento e na rede de distribuição do sistema de abastecimento de água de Iúna.
As áreas fiscalizadas incluíram o controle da qualidade da água bruta, tratada e distribuída, e o atendimento aos normativos vigentes. Isso incluiu a preservação e proteção dos mananciais, operação e manutenção de sistemas de captação, segu- rança, conservação e limpeza dos tratamentos, controle de perdas, pressões disponíveis na rede de abastecimento, e serviços comerciais como atendimento ao usuário, ligação de água, corte e religação, e faturamento, conforme mostrado no Quadro 12.
Quadro 12 – Áreas objeto de fiscalização.
| Área | Item | Segmento |
| Controle e Qualidade | Controle da qualidade da água bruta, tratada e distribuída e atendimento aos normativos vigentes | · Controle da qualidade da água bruta na captação; · Controle da qualidade microbiológica da água na saída do tratamento;· Controle da qualidade microbiológica da água na rede de dis- tribuição;·Controle da qualidade físico-química após a Filtração;· Controle da qualidade físico-química na saída do Tratamento;Controle da qualidade físico-química na rede de Distribuição. |
| Qualidade da água distribuída à população | ·Qualidade da água bruta na captação; ·Qualidade microbiológica da água na saída do tratamento; ·Qualidade microbiológica da água na rede de distribuição;·Qualidade físico-química após a filtração;·Qualidade físico-química no sistema de distribuição. | |
| Técnico - Operacional | Mananciais/ Captação | ·Preservação e proteção;·Operação e manutenção. |
| Tratamentos | · Segurança, conservação e limpeza;· Filtração;·Casa de química;·Laboratório. | |
| Aduções | ·Operação e manutenção; ·Controle de perdas. | |
| Rede de Distribuição | ·Pressões disponíveis na rede de abastecimento de água. | |
| Comercial | Serviços comerciais | ·Atendimento ao usuário; ·Ligação de água;· Corte e religação de água; |
Na última fiscalização realizada em 2020, algumas não conformidades foram identificadas, e o município foi notificado, com subsequente defesa prévia e emissão de parecer técnico. Penalidades foram aplicadas conforme necessário.
Em 2023, o último relatório de qualidade das águas apresentou os seguintes resultados para Iúna, conforme mostrado na Tabela 26.
Tabela 26 – Qualidade da água bruta em 2023, em Iúna.
| Análises Físico-Químicas | Análises Bacteriológicas |
| Mês | Cor | Turbidez | Cloro | Coliformes Totais | Escherichia Coli |
| R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | |
| Janeiro | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Fevereiro | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Março | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Abril | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Maio | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Junho | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Julho | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Agosto | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Setembro | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Outubro | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| Novembro | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Dezembro | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 |
Constatou-se que algumas amostras estavam fora do padrão de conformidade estabelecido pela Portaria de Consolidação nº 05/2017 (turbidez e coliformes totais), que estão marcadas na cor vermelha na tabela acima. Quando isto acontece, são efetuadas descargas de rede, isto é, por meio de registros existentes na rede de distribuição deixa-se correr a água para efetuar a limpeza da canalização; verifica-se a ocorrência de alguma interferência próximo ao ponto onde foi coletada a amostra com resultado desfavorável; novas amostras são coletadas e analisadas para verificar se os procedimentos deram resultados até a qualidade da água seja restabelecida.
A Portaria de Consolidação nº 05/2017 atribui responsabilidades específicas aos operadores do sistema de abastecimento de água. Determina também um número mínimo de amostras para o controle da qualidade da água nos sistemas de abasteci- mento, abordando análises físicas, químicas, microbiológicas e de radioatividade.
Este número é estabelecido com base no ponto de amostragem, na população atendida por cada sistema e no tipo de manancial.
Dessa forma, a Tabela 27, conforme a Portaria de Consolidação nº 05/2017, alterado pela Portaria GM/MS 888/2021, apresenta as análises quantitativas necessárias para garantir a qualidade da água.
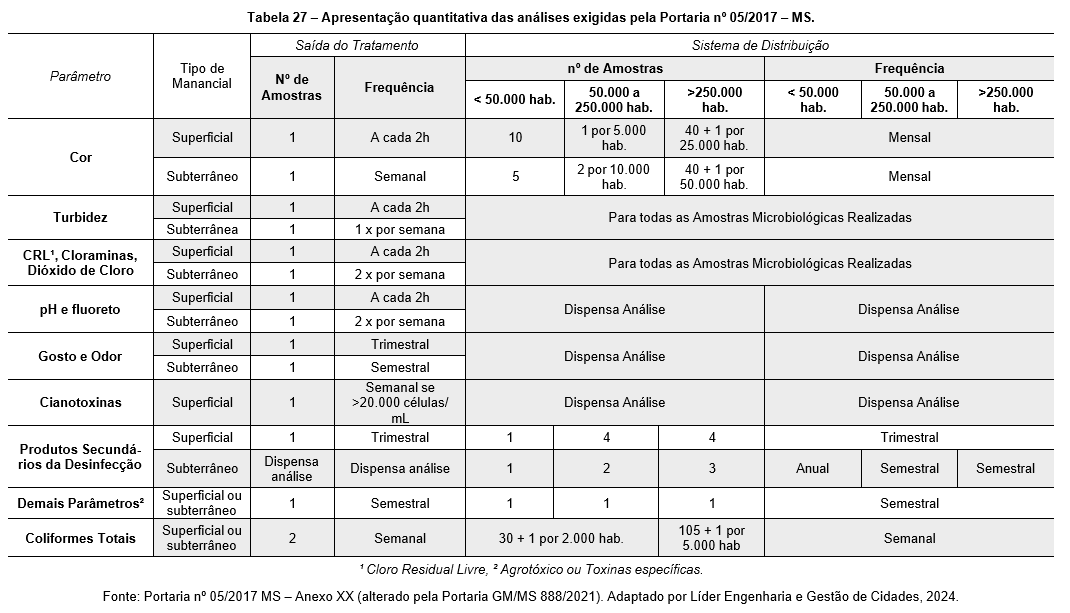
O padrão microbiológico para a potabilidade da água destinada ao consumo humano encontra-se detalhadamente descrito na Portaria, que também fornece diretrizes sobre o procedimento de análise a ser seguido quando amostras indicam resultados positivos (Tabela 28). Este procedimento se aplica não apenas a amostras coletivas, mas também a amostragens individuais, como aquelas provenientes de fontes e nascentes.
Tabela 28 – Padrão microbiológico de potabilidade da água.
| Parâmetro | Valor Máximo Permitido (Vmp) |
| Água para consumo humano: |
| Escherichia coli ou coliformes termotolerantes | Ausência em 100 mL |
| Água na saída do tratamento: |
| Coliformes totais | Ausência em 100 mL |
| Água tratada no sistema de distribuição: |
| Escherichia coli ou coliformes termotolerantes | Ausência em 100 mL |
| Coliformes totais | 95% das amostras: Ausência em 100 mL |
No município de Iúna, o número de amostras mensais a serem executados, conforme determina a Portaria de Consolidação nº 05/2017 – ANEXO XX (alterado pela Portaria GM/MS 888/2021), do Ministério da Saúde para Controle de Qualidade da Água é apresentado na Tabela 29.
Tabela 29 – Amostragem mensal para Controle de Qualidade da Água em Iúna, ES.
| Saída da ETA | Rede de Distribuição |
| Sistemas | Microbiológico | Microbiológico | Cloro Residual Livre (CRL) | Turbidez | Cor | Total |
| Pequiá | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Iúna | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
| Total | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
Também são observadas as seguintes complementações para a amostragem para controle de qualidade da água em Iúna:
· Para o Controle da Qualidade da Água na saída da ETA, são realizadas análi- ses de CRL, pH, Turbidez, Flúor e Cor a cada duas horas de Produção e as análises Microbiológicas são realizadas duas vezes por semana;
· Na Rede de Distribuição as coletas são realizadas semanalmente;
· As análises de Densidade de Cianobactérias e Cianotoxinas são realizadas, mensal ou semanalmente, em função da Densidade de Cianobactérias;
· Saída da ETA e Rede de Distribuição: desinfectantes e produtos secundários da desinfecção são analisados com frequência Bimestral;
· Saída da ETA: Gosto e Odor e Metais: Al, Fe, Sb, As, Ba, Cd, Pb, Cu, Cr, Hg, Mn, Se, Zn e Ni analisados com frequência Semestral;
· Captação - Água Bruta: análise do Escherichia Coli com frequência mensal;
· Demais parâmetros da Portaria de Consolidação Nº5/2017 – Anexo XX (alte- rado pela Portaria GM/MSnº888/2021), do Ministério da Saúde, analisados na água bruta, com frequência semestral, observando a Nota 5 do Anexo12 do Anexo XX: “Dispensada análise na rede de distribuição quando o parâmetro não for detectado na saída do tratamento e, ou, no manancial, à exceção de substâncias que potencialmente possam ser introduzidas no sistema ao longo da distribuição”.
Os métodos de análise executados para o município são apresentados no Quadro 13.
Quadro 13 – Métodos de análise da qualidade da água.
| Parâmetro | Método de análise |
| Cor | Colorimétrico |
| Turbidez | Nefolométrico (Turbidímetro) |
| Cloro residual | DPD ou Orto-Tolidina (Comparador de Cloro) |
| pH | Potenciométrico (Medidor de pH) |
| Fluoreto | Colorimétrico Spadns (Fluorímetro) |
| Escherichia Coli e Coliformes Totais | Substrato Enzimático |
Dentre as recomendações, condições, e orientações dadas na norma, os seguintes itens também podem ser destacados:
· No que diz respeito à turbidez, após filtração rápida (tratamento completo ou filtração direta) ou simples desinfecção (tratamento da água subterrânea), a norma estabelece um limite de 0,5 uT e 1,0 uT (Unidade de Turbidez), respectivamente, em 95% das amostras. Para os 5% dos valores permitidos de turbidez que excedam o valor máximo, o limite pontual máximo para qualquer amostra deve ser de 5,0 uT. O atendimento ao percentual de aceitação do limite de turbidez deve ser verificado mensalmente, com base em amostras diárias mínimas para desinfecção ou filtração lenta, e a cada quatro horas para filtração rápida, preferencialmente no efluente individual de cada unidade de filtração;
· A água tratada deve apresentar um teor mínimo de cloro residual livre de 0,5 mg/L após a desinfecção, mantendo no mínimo 0,2 mg/L em qualquer ponto da rede de distribuição. Recomenda-se que a cloração seja realizada em pH inferior a 8,0, com um tempo de contato mínimo de 30 minutos. Em qualquer ponto do sistema de abastecimento, o teor máximo de cloro residual livre recomendado é de 2,0 mg/L;
· A água potável deve atender aos padrões de potabilidade para substâncias químicas que representam risco à saúde, conforme especificado na Portaria de Consolidação nº 05/2017 – Anexo XX;
· Parâmetros radioativos devem estar em conformidade com os padrões estabelecidos, sendo a investigação desses parâmetros obrigatória somente quando houver evidências de radiação natural ou artificial. No Brasil, os padrões estabelecidos para parâmetros radioativos na água potável são definidos pela Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, Anexo XX do Ministério da Saúde (alterados pela Portaria GM/MS 888/2021). Os principais radionuclídeos monitorados e seus respectivos valores máximos permitidos são: Rádio (Ra-226 e Ra-228) com limite de 0,1 Bq/L (Becquerel por litro) para cada radionuclídeo, e Urânio (U-238) com limite de 30 µg/L (microgramas por litro);
· O monitoramento de Cianotoxinas e cianobactérias deve ser realizado, seguindo as orientações de amostragem para mananciais de água superficial e os padrões e recomendações estabelecidos na Portaria de Consolidação nº 5/2017 e no documento Orientações técnicas para o monitoramento de Cianobactérias/Cianotoxi- nas nos mananciais de abastecimento de água para consumo humano do Ministério da Saúde (2016);
· A água potável também deve estar em conformidade com o padrão de aceitação para consumo humano, cujos valores para os parâmetros mais comumente ana- lisados.
Sendo assim, a Tabela 30 apresenta os parâmetros básicos e o seu valor máximo permitido de aceitação da qualidade da água para o consumo humano.
Tabela 30 – Parâmetros básicos de aceitação para o consumo humano.
| Parâmetro | Valor Máximo Permitido (VMP) |
| Amônia (como NH3) | 1,5 mg/L |
| Cloreto | 250mg/L |
| Cor Aparente | 15 uH (Unidade Hazen – padrão de platina-cobalto) |
| Dureza | 300mg/L |
| Fluoreto | 1,5 mg/L |
| Cloro Residual Livre (CRL) | 5,0mg/L |
| Odor | Não objetável |
| Gosto | Não objetável |
| Sólidos dissolvidos totais | 500mg/L |
| Turbidez | 5 uT (Unidade de Turbidez) |
Dentro do contexto apresentado, as seguintes definições são consideradas:
· Cianobactérias: microrganismos procarióticos autotróficos, também denominados cianofíceas ou algas azuis, que podem ocorrer em qualquer manancial superficial, especialmente nos com elevados níveis de nutrientes, podendo produzir toxinas com efeitos adversos à saúde;
· Cianotoxinas: toxinas produzidas por cianobactérias que apresentam efeitos adversos à saúde por ingestão oral, incluindo microcistinas, cilindrospermopsina e saxitoxinas;
· Cloreto: presente nas águas naturais em maior ou menor escala, contém íons da dissolução de minerais. Em determinadas concentrações confere sabor salgado à água. Ele pode ser de origem natural (dissolução de sais e presença de águas salinas) ou de origem antrópica (despejos domésticos, industriais e águas utilizadas em irrigação);
· Cloro Residual Livre: deve permanecer na água tratada até a sua utilização final. No tratamento o cloro é utilizado como oxidante de matéria orgânica e para destruir microrganismos. Quando aplicado, parte dele é consumido nas reações de oxidação e quando as reações se completam, o excesso que permanece é denominado cloro residual. Teores positivos são desejáveis, pois é garantia de um processo de desinfecção eficiente;
· Coliformes totais: bactérias do grupo coliforme, bacilos gram-negativos, aeróbios ou anaeróbios facultativos, não formadores de esporos, oxidase-negativos, capazes de desenvolver na presença de sais biliares ou agentes tensoativos que fermentam a lactose com produção de ácido, gás e aldeído a 35,0 ± 0,5ºC em 24-48 horas, e que podem apresentar atividade da enzima ß -galactosidase. A maioria das bactérias do grupo coliforme pertence aos gêneros Escherichia, Citrobacter, Klebsiella e Enterobacter, embora vários outros gêneros e espécies pertençam ao grupo, podendo existir bactérias que fermentam a lactose e podem ser encontradas tanto nas fezes como no meio ambiente (águas ricas em nutrientes, solos, materiais vegetais em decomposição). Nas águas tratadas não devem ser detectadas bactérias coliformes, pois se isso ocorre o tratamento pode ter sido insuficiente, ocorreu contaminação posterior ou a quantidade de nutrientes é excessiva. Espécies dos gêneros Entero- bacter, Citrobacter e Klebsiella podem persistir por longos períodos e se multiplicarem em ambientes não fecais;
· Coliformes termotolerantes: a definição é a mesma de coliformes, porém restringem-se as bactérias do grupo coliforme que fermentam a lactose a 44,5 ± 0,2ºC em 24 horas, tendo como principal representante a Escherichia coli, de origem exclusivamente fecal;
·Contagem de bactérias heterotróficas: determinação da densidade de bactérias que são capazes de produzir unidades formadoras de colônias (UFC), na presença de compostos orgânicos contidos em meio de cultura apropriada, sob condições pré-estabelecidas de incubação: 35,0, ± 0,5ºC por 48 horas;
· Cor: resulta da existência de substâncias dissolvidas, provenientes de matéria orgânica (principalmente da decomposição de vegetais – ácidos húmicos e fúlvicos), metais como ferro e manganês, resíduos industriais coloridos e esgotos domésticos. No valor da cor aparente pode estar incluída uma parcela devido à turbidez da água, sendo está removida obtém-se a cor verdadeira;
· Dureza: resultante da presença de sais presentes com exceção de sódio e potássio. Nas águas naturais a dureza é predominantemente devido à presença de sais de cálcio e magnésio, no entanto sais de ferro, manganês e outros também contribuem para a dureza das águas. A dureza elevada causa extinção de espuma do sabão, sabor desagradável e produzem incrustações nas tubulações e caldeiras;
· Escherichia coli (E. Coli): é a única espécie do grupo dos coliformes termotolerantes cujo habitat exclusivo é o intestino humano e de animais homeotérmicos, onde ocorre em densidades elevadas (CONAMA nº 357/2005);
· pH: abreviação de potencial hidrogeniônico, que é usado para medir acidez ou alcalinidade de soluções através da medida de concentração do íon hidrogênio (loga- ritmo negativo da concentração na solução). O pH 7 é considerado neutro sendo abaixo de 7 ácido e acima alcalino. É um parâmetro importante por influenciar diversos equilíbrios químicos que ocorrem naturalmente na água ou em unidades de tratamento de água;
· Turbidez: medida da capacidade de uma amostra de água em impedir a passagem de luz. Grau de atenuação de intensidade que um feixe de luz sofre ao atravessá-la, devido à presença de sólidos em suspensão, tais como partículas inorgânicas (areia, silte, argila) e de detritos orgânicos, algas e bactérias etc.
O relatório de fiscalização elaborado pela ARSP enfatiza a importância da conformidade com as normas técnicas e legislativas para a manutenção da qualidade da água distribuída à população. As ações de monitoramento contínuo, fiscalização rigorosa e aplicação de medidas corretivas imediatas são fundamentais para assegurar que a água fornecida atenda aos padrões de potabilidade estabelecidos, garantindo assim a proteção da saúde pública e a sustentabilidade dos recursos hídricos.
No distrito de Nossa Senhora das Graças, são feitas análises mensais da qualidade da água bruta e tratada pelo Comitê de Gestão Comunitária da Água. Os parâmetros analisados são: turbidez, condutividade, cor aparente, pH, coliformes totais e termotolerantes e bactérias heterotróficas.
7.1.2 Cobertura do Sistema de Abastecimento
A cobertura do sistema de abastecimento de água refere-se à proporção da população de uma determinada área que tem acesso a água potável fornecida por esse sistema.
Para calcular a cobertura do sistema de abastecimento, é necessário considerar o número de pessoas servidas pelo sistema em relação à população total da área em questão. Essa medida pode ser expressa em termos absolutos (por exemplo, o número total de pessoas atendidas pelo sistema) ou em termos percentuais (por exemplo, a porcentagem da população total atendida).
Uma cobertura adequada do sistema de abastecimento é essencial para garantir o acesso universal à água potável, promovendo a saúde, o bem-estar e o desenvolvimento sustentável. É importante monitorar regularmente a cobertura do sistema e identificar áreas ou comunidades que ainda não são atendidas, a fim de implementar medidas para expandir e melhorar o acesso à água potável para todos.
Segundo dados do SNIS, em 2021, o índice de atendimento urbano de água na sede de Iúna foi de 90,74%.
Para o ano de 2024, foram fornecidas a informações de número de ligações do SAA e número de economias ativas na sede de Iúna, Pequiá e da comunidade Nossa Senhora das Graças:
Tabela 31 – Quantidade de economias ativas e ligações do SAA.
| IÚNA | PEQUIÁ |
| 02/2024 | Ligações | Economias Ativas | Ligações | Economias Ativas |
| Pública | 61 | 68 |
7 | 7 |
| Industrial | 2 | 2 | - | - |
| Residencial | 4.991 | 5.904 | 319 | 357 |
| Comercial | 476 | 584 | 16 | 17 |
| TOTAL | 5.530 | 6.558 | 342 | 381 |
Tabela 32 – Quantidade de economias ativas e ligações - Nossa Senhora das Graças.
| NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
| 05/2024 | Ligações | Economias Ativas |
| Pública | - | - |
| Industrial | - | - |
| Residencial | 413 | 468 |
| Comercial | - | - |
| TOTAL | 413 | 468 |
7.1.3 Abastecimento de Água em Localidades Rurais
O órgão estadual prestador de serviços de saneamento básico enfrenta desafios para atender toda a população do município, especialmente em comunidades rurais. Nessas áreas, o sistema de água é implantado por meio do modelo conhecido como Pró Rural.
O Programa Pró Rural foi instituído em 1991, conforme estabelecido pela Resolução n° 2745/91. Seu objetivo principal é a instalação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário em comunidades com população entre 50 e 1.500 habitantes, localizadas em municípios onde o órgão estadual de prestação de serviços públicos possui concessão, preferencialmente, e onde não há viabilidade econômica para operação e manutenção pela Companhia.
Os princípios fundamentais do Pró Rural seguem uma abordagem tripartite, envolvendo o órgão prestador de serviços de saneamento básico, a Prefeitura e a Co- munidade. As responsabilidades são distribuídas da seguinte forma:
Prestador de serviços de saneamento básico:
· Elaboração de projetos de engenharia, realização de licitações e fiscalização das obras contratadas, buscando preferencialmente recursos externos para a execução de obras de melhoria e/ou implantação de sistemas;
· Prestação de suporte técnico, incluindo capacitação de operadores designados pela comunidade, auxílio na inicialização da operação do sistema e ajustes operacio- nais, ajustes de equipamentos de bombeamento e quadros de comando, limpeza e desinfecção de redes de distribuição e demais unidades do sistema, limpeza e desinfecção de poços tubulares profundos, coleta de amostras para análises de água bruta ou tratada, entre outros serviços;
· Realização de serviços socioeducativos, como reuniões comunitárias para apoiar a mobilização da comunidade atendida e a implantação do autogerenciamento, reuniões com o Comitê Gestor e atividades de educação ambiental nas escolas.
Prefeitura:
· Suporte financeiro, que inclui o pagamento dos operadores e despesas com energia elétrica. Esse apoio contribui para a manutenção geral do sistema, embora as negociações sejam adaptadas de acordo com as necessidades específicas de cada comunidade.
Comunidade:
· Operação do sistema, incluindo a cobrança de taxas, que em alguns casos envolve a instalação de hidrômetros nas obras.
· Realização de pequenas manutenções necessárias para o funcionamento adequado do sistema.
· Gestão total do sistema, garantindo sua operacionalidade e atendendo às necessidades da comunidade.
As regiões de Nossa Senhora das Graças (Perdição) e Rio Claro contam com sistema de abastecimento de água através do modelo Pró Rural.
O distrito de Nossa Senhora das Graças se destaca pela gestão eficiente do sistema de abastecimento de água, conduzida pela Associação de Gestão Comunitária de Tratamento e Abastecimento de Água da Comunidade Nossa Senhora das Graças. A associação possui um estatuto próprio e um regimento interno bem definidos, que garantem uma administração transparente e participativa. Esses documentos regulam as atividades e responsabilidades dos membros, resultando em uma gestão eficaz dos recursos hídricos, assegurando o fornecimento contínuo de água de qualidade para a comunidade.
A gestão comunitária de Nossa Senhora das Graças é um exemplo de excelência no abastecimento de água em áreas rurais, e têm atraído a atenção de universidades e escolas, que enviam estudantes e professores para conhecerem o funcionamento da ETA.

Além do impacto local, a associação participa de eventos e seminários sobre saneamento rural, como o seminário em Jacobina, na Bahia, que discutiu a gestão de Sistemas Integrados de Saneamento Rural (SISARS) e Centrais, em 2023.

A participação nesses eventos permite à associação compartilhar suas experiências e aprender com outras iniciativas, contribuindo para o aprimoramento contínuo do sistema de abastecimento de água. Dessa forma, Nossa Senhora das Graças serve como referência para outras comunidades, promovendo a universalização do acesso à água e enfrentando os desafios do saneamento rural de forma inovadora e eficaz.
7.1.4 Estudo de Demandas e Disponibilidade de Água
Considerando que todo sistema é projetado para atender uma determinada demanda de projeto, é necessário avaliar se os SAA atuais atendem à demanda futura. Para isso, são necessárias informações de projeto, como máxima capacidade de tratamento, demanda máxima de projeto das redes, entre outros, que não estão disponíveis.
As tabelas abaixo mostram os volumes de adução e de produção das ETAs de Iúna e Pequiá, de fevereiro de 2023 a fevereiro de 2024. Analisando os dados, temos que o SAA de Iúna, considerando estas duas unidades, produz uma média de 94.000 m³ /mensal e 3.133,33 m³/dia. A produção máxima neste período foi de 102.940 m³/mensal e 3.431,33 m³/dia (fevereiro de 2023). Quanto à capacidade de reservação do SAA, somando-se 1.010 m³ da Sede e 90 m³ de Pequiá, obtêm-se um valor de1.100 m³ de capacidade de reservação.
Tabela 33 – Histórico de volume da ETA de Iúna, sede.
| fev/23 | mar/23 | abr/23 | mai/23 | jun/23 | jul/23 | ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | MÉDIA | |
| Volume Aduzido - m³ | 106.078 | 116.401 | 108.800 | 107.550 | 105.717 | 106.833 | 104.096 | 105.551 | 109.207 | 119.812 | 114.866 | 116.448 | 110.669 | 110.156 |
| Volume Produzido (estimado +macromedido) - m³ | 85.958 | 97.739 | 87.521 | 86.697 | 85.604 | 83.488 | 85.437 | 85.292 | 89.092 | 92.494 | 93.841 | 92.724 | 90.884 | 88.982 |
Tabela 34 – Histórico de volume da ETA de Pequiá.
| fev/23 | mar/23 | abr/23 | mai/23 | jun/23 | jul/23 | ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | MÉDIA | |
| Volume Aduzido - m³ | 6.684 | 6.004 | 5.630 | 5.793 | 5.239 | 5.873 | 5.785 | 5.586 | 5.848 | 5.754 | 5.659 | 5.540 | 5.330 | 5.748 |
| Volume Produzido (estimado +macromedido) - m³ | 5.695 | 5.201 | 4.912 | 4.724 | 4.575 | 5.069 | 5.203 | 4.963 | 5.046 | 5.046 | 5.261 | 4.974 | 4.846 | 5.040 |
A análise dos dados fornecidos para a Estação de Tratamento de Água (ETA) da sede de Iúna revela variações mensais significativas nos volumes aduzidos e produzidos, e está representada no Gráfico 15. O volume aduzido, que representa a quantidade de água captada e encaminhada para tratamento, variou de um mínimo de 104.096 m³ em agosto de 2023 a um máximo de 119.812 m³ em novembro de 2023, com uma média geral de 110.156 m³. Por outro lado, o volume produzido, que indica a quantidade de água tratada disponível para distribuição, apresentou valores que oscilaram entre 83.488 m³ em julho de 2023 e 97.739 m³ em março de 2023, resultando em uma média de 88.982 m³.
As perdas de água no sistema, calculadas pela diferença entre o volume aduzido e o volume produzido, indicam ineficiências significativas no processo de tratamento e distribuição. Utilizando a fórmula para calcular as perdas percentuais, observou-se que em fevereiro de 2023 as perdas foram de aproximadamente 18,95%, enquanto em novembro de 2023 alcançaram 22,81%. A média de perdas ao longo dos 13 meses analisados foi de 19,33%. Esses índices sugerem que quase um quinto da água aduzida não chega ao consumidor final, o que implica na necessidade de medidas corretivas.
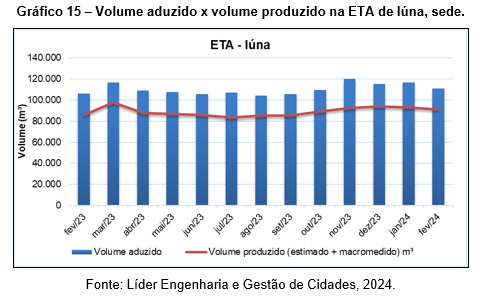
A análise dos dados da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Pequiá também revela flutuações significativas nos volumes aduzidos e produzidos ao longo dos meses, como mostra o Gráfico 16. O volume aduzido, que representa a quantidade de água bruta captada para tratamento, variou de 5.239 m³ em junho de 2023 a 6.684 m³ em fevereiro de 2023, com uma média geral de 5.748 m³. Em contraste, o volume produzido, que reflete a quantidade de água tratada disponível para distribuição, oscilou entre 4.575 m³ em junho de 2023 e 5.695 m³ em fevereiro de 2023, com uma média de 5.040 m³.
As perdas no sistema, calculadas pela diferença entre o volume aduzido e o volume produzido, evidenciam desafios significativos na eficiência do tratamento e distribuição de água. Ao aplicar a fórmula para calcular as perdas percentuais, observamos que estas variaram de aproximadamente 12,67% em junho de 2023 a 14,81% em fevereiro de 2023, com uma média de 12,31% ao longo do período analisado. Esses dados destacam a necessidade de estratégias direcionadas para reduzir as perdas e melhorar a eficiência operacional da ETA de Pequiá.
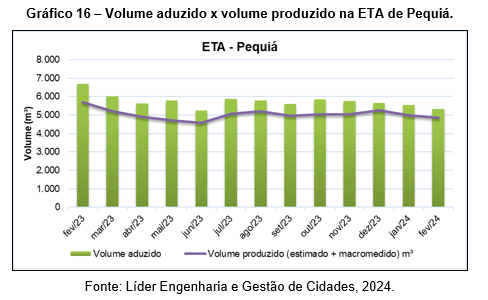
A Associação de Gestão Comunitária de Tratamento e Abastecimento de Água da Comunidade Nossa Senhora das Graças forneceu os dados atualizados das medições feitas na ETA (Tabela 35).
Tabela 35 – Histograma de consumo mensal – ETA Nossa Senhora das Graças.
| Data | Leituras (hidrômetros) | Nº de Economias | Consumo de água real (m³) | Consumo de água faturado (m³) |
| 03/2024 | 407 | 462 | 6.220 | 6.956 |
| 05/2024 | 413 | 468 | 6.084 | 6.933 |
Entre março e maio de 2024, houve um aumento no número de economias, passando de 462 para 468, refletindo um crescimento na ocupação ou novas ligações de água. As leituras de hidrômetros também aumentaram de 407 para 413, indicando uma ampliação na cobertura ou melhorias na coleta de dados. O consumo real de água registrou uma leve queda, de 6.220 m³ para 6.084 m³, enquanto o consumo faturado também diminuiu de 6.959 m³ para 6.933 m³, mantendo uma tendência de faturamento superior ao consumo real, possivelmente devido a estimativas ou taxas fixas. Esses dados sugerem a necessidade de ajustes nos processos de medição e faturamento para melhorar a precisão, além de indicar um uso estável e crescente da infraestrutura de abastecimento de água.
7.1.5 Soluções Alternativas de Abastecimento de Água
No contexto do abastecimento de água, soluções alternativas referem-se a métodos e tecnologias fora do convencional para suprir a demanda por água potável. Estas soluções são frequentemente empregadas em áreas onde o acesso a sistemas de abastecimento tradicionais é limitado ou inviável, seja devido a restrições geográficas, financeiras ou técnicas.
Uma das soluções mais conhecidas é a captação de água de chuva. Esse método envolve a coleta da água da chuva que cai sobre as superfícies de edifícios e estruturas, direcionando-a para sistemas de armazenamento, como cisternas. Posteriormente, essa água pode ser tratada e utilizada para diversos fins, incluindo irrigação, descargas sanitárias e até mesmo consumo humano, após um processo adequado de tratamento.
Outra solução alternativa é o reuso de água, que consiste na utilização de água previamente utilizada em determinado processo, após tratamento adequado, para outras finalidades. Isso pode incluir o reuso de águas cinzas, provenientes de atividades domésticas como banho e lavagem de roupa, para irrigação de jardins ou descargas sanitárias. Da mesma forma, as águas pluviais captadas também podem ser tratadas e reutilizadas para fins não potáveis.
Em áreas rurais ou remotas, onde a infraestrutura de abastecimento de água é escassa, a captação em nascentes e mananciais locais pode ser uma solução viável. Isso envolve a identificação e proteção de fontes naturais de água, como nascentes e córregos, e o estabelecimento de sistemas de captação e distribuição simples, muitas vezes baseados em tecnologias de baixo custo e impacto ambiental reduzido.
A captação de água por meio de poços é uma prática comum em muitas regiões, oferecendo uma fonte confiável de água potável para comunidades e instalações individuais. Os poços convencionais são perfurados verticalmente no solo até atingir o lençol freático, enquanto os poços artesianos exploram pressões naturais para elevar a água até a superfície.
A viabilidade da captação por meio de poços depende de vários fatores, incluindo a profundidade do lençol freático, a qualidade da água subterrânea e a capacidade de extração sustentável. Estudos hidrogeológicos são essenciais para avaliar a adequação dos locais de perfuração e prevenir a sobre-explotação dos recursos hídricos subterrâneos.
O manejo sustentável dos recursos hídricos subterrâneos é fundamental para garantir a disponibilidade contínua de água por meio de poços. Isso envolve a implementação de práticas de conservação da água, monitoramento regular da qualidade e quantidade da água, e o envolvimento das comunidades locais na gestão responsável dos poços.
As captações por poços podem ser integradas a outras soluções de abastecimento de água, como sistemas de armazenamento e distribuição, para garantir um suprimento seguro e sustentável de água potável. Essa abordagem holística permite maximizar o aproveitamento dos recursos hídricos disponíveis e aumentar a resiliência das comunidades diante de desafios climáticos e ambientais.
7.1.6 Estrutura de Tarifação, Receitas operacionais, despesas de custeio e investimentos
Taxa é o pagamento de imposto obrigatório ao Governo por serviços prestados e, a tarifa corresponde à forma de pagamentos por serviço ou benefício prestado, portanto, não sendo compulsória.
O regime tarifário do custo de serviço tem por objetivo evitar que os preços fiquem abaixo dos custos de manutenção e operação, além de garantir que o preço final seja estabelecido entre a receita bruta e a receita requerida para a remuneração de todos os custos de produção. Dentre os principais objetivos da tarifação, pode-se constatar os seguintes critérios:
· Evitar que o preço fique abaixo do custo;
· Evitar o excesso de lucro;
· Viabilizar a agilidade administrativa no processo de definição e revisão de tari- fas;
· Impedir a má-alocação de recursos e a produção ineficiente;
· Estabelecer preços não discriminatórios entre os consumidores.
No que diz respeito à aplicação dos recursos obtidos com a cobrança do uso da água, a Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei nº 9.433/1997, no artigo 22, prevê as aplicações prioritárias desses recursos na bacia hidrográfica em que foram gerados. Em conformidade com as diretrizes nacionais para o saneamento básico, estabelecidas pela Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei nº 14026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento), os serviços dessa área devem ser prestados em condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro.
Portanto, as tarifas e taxas devem ser justas, considerando o equilíbrio entre receitas, despesas e investimentos necessários para manter a qualidade e a universalização dos serviços. Isso deve incluir subsídios tarifários para a população de baixa renda, visando a equidade social no atendimento. O Plano de Saneamento Básico deve abordar esses critérios para respaldar o município em seus interesses internos de investimentos.
A Resolução ARSP Nº 064/2023 representa uma mudança significativa na estrutura tarifária dos serviços de água e esgoto fornecidos pela prestadora de serviços de saneamento básico no Espírito Santo. A principal alteração é a eliminação da co- brança pelo consumo mínimo de 10m³ por unidade consumidora. Em vez disso, a tarifa agora é composta por duas partes distintas: uma fixa, baseada nas categorias e porte da ligação, e outra variável, que considera o consumo efetivo. A resolução, que entrou em vigor em 01 de agosto de 2023, autoriza um reajuste tarifário de 1,37% para o período tarifário 2023-2024. Valores vigentes disponíveis no Anexo I.
Com o objetivo de oferecer mais informações sobre os custos operacionais do município, a Tabela 36 apresenta dados do SNIS (2022), seguida pela metodologia de cálculo para os principais indicadores.
Tabela 36 – Indicadores do Sistema de Abastecimento de Água (SAA).
| Item | Indicador | R$/ano | R$/m³ |
| FN002 | Receita operacional direta de água | 4.475.279,85 | - |
| FN005 | Receita operacional total (direta + indireta) | 4.475.279,85 | - |
| FN006 | Arrecadação total | 4.090.622,72 | - |
| FN013 | Despesa com energia elétrica | 437.870,82 | - |
| FN014 | Despesa com serviços de terceiros | 836.730,17 | - |
| FN015 | Despesas de exploração | 2.922.006,49 | - |
| FN023 | Investimento realizado em abastecimento de água pelo prestador de serviços | 548.196,50 | - |
| FN017 | Despesas totais com os serviços | 3.502.670,33 | - |
| IN003 | Despesa total com os serviços por m³ faturado | - | 4,14 |
| IN004 | Tarifa média praticada | - | 5,29 |
| IN005 | Tarifa média de água | - | 5,29 |
O indicador FN023 representa o investimento realizado em abastecimento de água pelo prestador de serviços. No caso específico fornecido, o valor desse investimento é de R$ 548.196,50 por ano. Esse indicador é essencial para avaliar o compromisso e a capacidade do prestador de serviços em melhorar e expandir o sistema de abastecimento de água.
O investimento em abastecimento de água pode incluir uma variedade de atividades, como a construção de novas infraestruturas, a expansão de redes de distribuição, a modernização de estações de tratamento de água, a implementação de tecnologias de conservação e a manutenção preventiva de equipamentos. Esses investimentos são fundamentais para garantir a qualidade, a confiabilidade e a sustentabilidade do sistema de abastecimento de água a longo prazo.
Ao analisar o indicador FN023, é importante considerar não apenas o valor absoluto do investimento, mas também sua adequação em relação às necessidades e demandas do sistema de abastecimento de água.
O cálculo do IN003 – Despesa Total com os serviços por metro cúbico faturado de água e esgoto, é realizado dividindo o valor total das despesas com os serviços pelo volume total faturado (considerando água e esgoto). Dessa forma, a fórmula utilizada para calcular o IN003 é a seguinte:
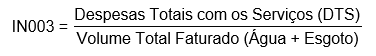
O cálculo do IN004 – Tarifa Média Praticada, é obtido ao dividir a receita operacional direta total pela soma do volume de água faturado e do volume de esgoto faturado. Esse indicador reflete o valor despendido por metro cúbico de água ou es- goto faturado. Dessa forma, o cálculo do IN004 segue a fórmula abaixo:
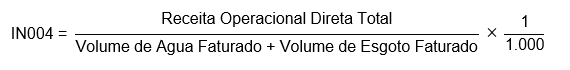
O IN005 – Tarifa Média de Água, é calculado dividindo a receita operacional direta referente à água pelo resultado obtido da subtração entre o volume de água faturado e o volume de água exportado. Portanto, o cálculo do IN005 é expresso pela fórmula abaixo:
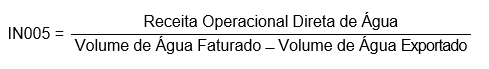
A Tabela 37 exibe o comparativo de valores dos índices IN003, IN004 e IN005 para o Município de Iúna e o Brasil. Destaca-se que as unidades dos valores apresentados são em reais por metro cúbico (R$/m³).
Tabela 37 – Comparativo de valores praticados.
| Índice | Iúna (R$/m³) | Brasil (R$/m³) |
| IN003 | 4,14 | 4,39 |
| IN004 | 5,29 | 4,56 |
| IN005 | 5,29 | 5,09 |
A análise comparativa dos indicadores revela aspectos significativos sobre a gestão dos serviços de água e esgoto nos diferentes locais:
No que diz respeito ao IN003 (Despesa Total por m³ faturado), Iúna destaca-se com um índice menor em relação ao Brasil (4,39 R$/m³). Este indicador sugere que o município apresenta custos proporcionais mais baixos para a prestação desses serviços.
Quanto ao IN004 (Tarifa Média Praticada), Iúna apresenta uma tarifa superior ao Brasil (4,56 R$/m³), indicando que os consumidores pagam mais por metro cúbico de água e esgoto.
O IN005 (Tarifa Média de Água) também revela que Iúna possui uma tarifa mais elevada (6,69 R$/m³) em relação ao Brasil (5,09 R$/m³), indicando custos específicos mais altos para o abastecimento de água no município.
Um outro índice importante é o IN058 – Consumo de Energia Elétrica em SAA, que representa a quantidade de quilowatts por hora necessária para produzir um metro cúbico de água. Para o município de Iúna esse indicador apresenta valor de 0,57 kWh/m3. Ele desempenha um papel significativo na análise dos custos associados à energia elétrica, permitindo avaliar se o sistema requer uma quantidade substancial de energia para atender às necessidades da população. Além disso, viabiliza comparações com outros sistemas. Para calcular o IN058, a fórmula abaixo é empregada:
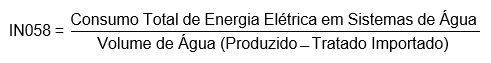
A análise dos dados apresentados anteriormente revela que o SAA do município de Iúna gera receita. Conforme os dados do SNIS referentes ao ano de 2022, o indicador FN006 (Arrecadação Total) alcançou o valor de R$ 4.090.622,72, enquanto o indicador FN017 (Despesas Totais com os serviços) registrou um montante de R$ 3.502.670,33, resultando em um superávit de R$ 587.952,39 para o SAA do município no ano de 2022.
A Associação de Gestão Comunitária de Abastecimento de Água de Nossa Senhora das Graças forneceu dados financeiros dos meses de março e maio de 2024. Em março, o faturamento foi de R$ 12.312,50, com despesas de R$ 12.233,53, resultando em um saldo positivo. Já em maio, o faturamento aumentou para R$ 12.476,50, enquanto as despesas foram significativamente menores, totalizando R$ 7.444,83, o que gerou um saldo positivo de R$ 5.031,67. Essa melhoria financeira indica uma gestão mais eficiente dos recursos e controle de despesas no mês de maio em comparação a março.
7.1.7 Análise Crítica
Com base no que foi levantado, alguns dos principais problemas e deficiências detectados no município de Iúna podem incluir:
· Eficiência Financeira:
A análise financeira revelou uma arrecadação total superior às despesas totais, indicando uma eficiência financeira satisfatória do SAA de Iúna. Isso sugere uma boa gestão dos recursos financeiros, com potencial para reinvestir em melhorias no sistema.
· Eficiência Operacional:
Embora a eficiência financeira seja positiva, a análise operacional da Sede e do distrito de Pequiá revelou discrepâncias entre o volume de água produzido, tratado, consumido e faturado, indicando perdas significativas no sistema de distribuição. Essas perdas podem resultar em desperdício de recursos hídricos e financeiros, prejudicando a sustentabilidade operacional do sistema.
· Qualidade do Serviço:
A análise da qualidade do serviço destacou a ocorrência frequente de paralisações no sistema de distribuição de água, afetando muitos economias ativas. Essas interrupções podem comprometer a confiabilidade do serviço e afetar a satisfação do cliente, exigindo medidas para melhorar a continuidade e a confiabilidade do abastecimento de água.
· Sustentabilidade Ambiental:
A eficiência energética do sistema de abastecimento de água da sede e Pequiá, representada pelo índice de consumo de energia elétrica, pode ser considerada relativamente baixa. Um consumo elevado de energia pode ter impactos ambientais negativos e aumentar os custos operacionais, destacando a importância de medidas para melhorar a eficiência energética do sistema.
· Investimentos em Melhorias:
O investimento realizado em abastecimento de água pelo prestador de serviços foi identificado, indicando um compromisso com a melhoria e expansão do sistema. No entanto, é importante garantir que esses investimentos sejam direcionados de forma eficaz para áreas prioritárias que visem reduzir as perdas, melhorar a qualidade do serviço e promover a sustentabilidade operacional e ambiental do SAA de Iúna. Além disso, a aplicação de investimentos para reativar a ETA de São João do Príncipe deve ser uma prioridade, visando restabelecer a segurança hídrica e a saúde pública da comunidade.
Em resumo, a análise crítica do Sistema de Abastecimento de Água de Iúna destaca áreas de força, como a eficiência financeira e o compromisso com investimentos em melhorias, mas também identifica desafios significativos relacionados à eficiência operacional, qualidade do serviço e sustentabilidade ambiental.
Com base nas lacunas identificadas, serão propostas medidas mitigatórias na fase de Prognóstico.
7.2 PROGNÓSTICO DO SAA
7.2.1 Projeção de demanda
A análise da demanda por vazões nos sistemas de abastecimento de água tem como principal objetivo fornecer uma projeção do crescimento esperado na demanda por água na área do município. Esse estudo estabelece uma estrutura para a análise comparativa entre a capacidade atual e futura de produção de água tratada nos sistemas e o aumento populacional previsto.
Para realizar essa análise, são calculadas as demandas de vazão média, máxima diária e máxima horária, utilizando estimativas populacionais, índices de perdas na distribuição e consumo per capita. Além disso, são consideradas as demandas de reservação, número de ligações de água e extensão de rede. A vazão média é determinada por meio de uma expressão específica, levando em conta esses diversos fatores, sendo ela:
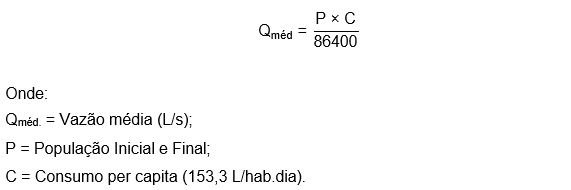
A vazão máxima diária é obtida com a aplicação da seguinte equação:
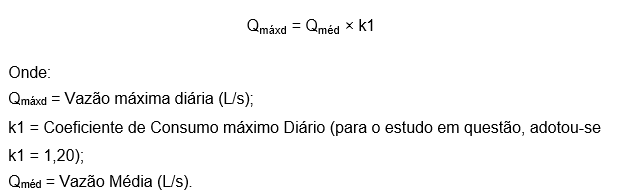
A vazão máxima horária é obtida através da expressão que se apresenta a seguir.
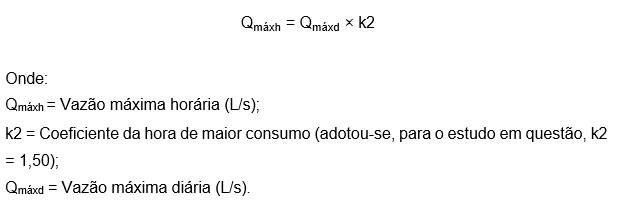
A Tabela 38 apresenta a projeção das vazões (Vazão média) em litros por segundo (L/s), necessárias para atender à demanda atual e futura da população urbana em um horizonte de projeto de vinte anos. Além disso, inclui o volume (V) em metros cúbicos (m³) do dia de maior consumo e a quantidade necessária de reservação para garantir a segurança hídrica da população urbana. Também são fornecidos dados sobre o crescimento do número de economias, ligações e extensão da rede em quilômetros (Km) do SAA, com base nos dados do ano de 2022 disponibilizados pelo SNIS/SINISA.
Tabela 38 – Projeção das vazões necessárias para atender à demanda de água tratada.
| Ano | Pop.Atendida | Vazão Média (L/s) | Vazão Máxima Diária (L/s) | Vazão Máxima Horária (L/s) | Vazão Captação (L/s) | Volume Consumido no dia de maior Consumo (m³/dia) | Volume necessário para Reservação (m³) | Ligações água | Extensão da rede água |
| 2024 | 17.162 | 30,45 | 36,55 | 54,82 | 2,96 | 3.157,53 | 1.052,51 | 5.942 | 55,20 |
| 2025 | 17.308 | 30,71 | 36,86 | 55,28 | 2,97 | 3.184,40 | 1.061,47 | 5.992 | 55,66 |
| 2026 | 17.454 | 30,97 | 37,17 | 55,75 | 2,99 | 3.211,26 | 1.070,42 | 6.042 | 56,12 |
| 2027 | 17.600 | 31,23 | 37,48 | 56,22 | 3,00 | 3.238,12 | 1.079,37 | 6.092 | 56,58 |
| 2028 | 17.746 | 31,49 | 37,79 | 56,68 | 3,01 | 3.264,98 | 1.088,33 | 6.142 | 57,04 |
| 2029 | 17.892 | 31,75 | 38,10 | 57,15 | 3,02 | 3.291,84 | 1.097,28 | 6.192 | 57,50 |
| 2030 | 18.039 | 32,01 | 38,41 | 57,62 | 3,04 | 3.318,89 | 1.106,30 | 6.242 | 57,96 |
| 2031 | 18.185 | 32,27 | 38,72 | 58,09 | 3,05 | 3.345,75 | 1.115,25 | 6.292 | 58,42 |
| 2032 | 18.331 | 32,53 | 39,03 | 58,55 | 3,06 | 3.372,61 | 1.124,20 | 6.342 | 58,88 |
| 2033 | 18.477 | 32,79 | 39,35 | 59,02 | 3,07 | 3.399,47 | 1.133,16 | 6.392 | 59,34 |
| 2034 | 18.623 | 33,05 | 39,66 | 59,48 | 3,09 | 3.426,33 | 1.142,11 | 6.442 | 59,80 |
| 2035 | 18.769 | 33,31 | 39,97 | 59,95 | 3,10 | 3.453,20 | 1.151,07 | 6.492 | 60,26 |
| 2036 | 18.915 | 33,57 | 40,28 | 60,42 | 3,11 | 3.480,06 | 1.160,02 | 6.542 | 60,72 |
| 2037 | 19.061 | 33,82 | 40,59 | 60,88 | 3,12 | 3.506,92 | 1.168,97 | 6.592 | 61,18 |
| 2038 | 19.207 | 34,08 | 40,90 | 61,35 | 3,14 | 3.533,78 | 1.177,93 | 6.642 | 61,64 |
| 2039 | 19.353 | 34,34 | 41,21 | 61,82 | 3,15 | 3.560,64 | 1.186,88 | 6.692 | 62,10 |
| 2040 | 19.499 | 34,60 | 41,52 | 62,28 | 3,16 | 3.587,50 | 1.195,83 | 6.742 | 62,55 |
| 2041 | 19.646 | 34,86 | 41,84 | 62,75 | 3,17 | 3.614,55 | 1.204,85 | 6.792 | 63,02 |
| 2042 | 19.792 | 35,12 | 42,15 | 63,22 | 3,19 | 3.614,41 | 1.213,80 | 6.842 | 63,48 |
| 2043 | 19.938 | 35,38 | 42,46 | 63,69 | 3,20 | 3.668,27 | 1.222,76 | 6.892 | 63,94 |
| 2044 | 20.084 | 35,64 | 42,77 | 64,15 | 3,21 | 3.695,13 | 1.231,71 | 6.942 | 64,40 |
7.2.2 Alternativas técnicas de Engenharia para atendimento da demanda calculada
A demanda projetada de reservação de água para o município de Iúna, em 2044, é de 1.231,71 m³, enquanto a capacidade atual de reservação é de 1.270 m³ (somando todos os volumes dos reservatórios existentes no município). Com base nesses dados, observa-se que a capacidade existente é suficiente para atender à de- manda futura sem necessidade imediata de expansão. No entanto, para garantir a eficiência e a continuidade dos serviços, algumas alternativas técnicas de engenharia devem ser consideradas.
Em primeiro lugar, é fundamental realizar uma revisão e otimização da capaci- dade existente. Isso inclui a manutenção periódica dos reservatórios atuais, assegu- rando sua plena capacidade operacional e prevenindo perdas de volume útil devido ao acúmulo de sedimentos ou processos de degradação estrutural. Essa medida visa maximizar a eficiência dos recursos já disponíveis.
Outra alternativa técnica é a implementação de reservatórios secundários em regiões estratégicas do município. Embora a capacidade atual seja adequada, a cons- trução de novos reservatórios pode proporcionar uma distribuição mais eficiente da água, além de aumentar a resiliência do sistema em casos de crescimento pontual da demanda ou falhas inesperadas.
Adicionalmente, a adoção de tecnologias de automação e monitoramento remoto do sistema de reservação permitirá uma gestão mais precisa dos volumes armazenados. Isso contribuirá para a otimização do uso da água e minimizará perdas, assegurando que a demanda seja atendida com maior eficiência.
A melhoria da eficiência da rede de distribuição também deve ser considerada, especialmente por meio da redução de perdas, substituição de tubulações antigas e aplicação de tecnologias avançadas para detecção de vazamentos. Isso ajudará a garantir que a água seja distribuída de maneira eficiente, mantendo o equilíbrio entre a demanda e a capacidade de reservação.
Por fim, a descentralização do sistema de reservação, com a construção de pequenos reservatórios em áreas com maior densidade populacional ou demanda crescente, pode evitar sobrecargas no sistema central e garantir um abastecimento local mais eficiente. Além disso, é importante investir em estruturas flexíveis que permitam ajustes na capacidade de reservação conforme mudanças climáticas ou variações na demanda, como sistemas modulares que possam ser expandidos quando necessário.
Essas medidas técnicas visam garantir não apenas a capacidade adequada para atender à demanda projetada para 2044, mas também a eficiência, sustentabilidade e resiliência do sistema de abastecimento de água no município de Iúna.
7.2.3 Ações de Emergência e Contingência para o Sistema de Abastecimento de Água
Interrupções no fornecimento de água podem ser desencadeadas por uma variedade de razões, como rupturas de redes e adutoras de água, falhas em equipamentos ou contaminação da água distribuída, entre outras. Para agilizar a regulariza- ção do serviço ou evitar interrupções no abastecimento, é fundamental contar com ações de emergência e contingência planejadas. Essas medidas devem orientar os procedimentos a serem seguidos e oferecer soluções possíveis para os problemas, contribuindo para evitar interrupções no fornecimento.
O plano de emergência e contingência complementa outras iniciativas essenciais para manter os serviços e apoiar a tomada de decisões durante eventos e situa- ções críticas. Para facilitar a exposição e consulta durante uma emergência, o plano foi organizado em quadros, apresentando a ocorrência, sua causa e as respostas necessárias para correção ou mitigação.
Quadro 14 – Ações para emergências e contingências referentes ao abastecimento emergencial/temporário de água.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 1 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS |
| OCORRÊNCIA | ORIGEM | AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA |
| Inundação das captações de água com danificação de equipamentos eletrônicos | Comunicar à população, instituições, autoridades e Polícia local, Defesa Civil e órgãos de controle ambiental. | |
| Implementar rodízio de abastecimento. | ||
| Executar reparos das instalações danificadas e troca de equipamentos. | ||
| Promover o controle e o racionamento da água disponível em reservatórios. | ||
| Comunicar a prestadora de serviços de saneamento básico para que acione socorro e ative cap- tação em fonte alternativa. | ||
| Promover abastecimento da área atingida com caminhões tanque/pipa. | ||
| Deslizamento de solos, movimentação do solo, solapamento de apoios de estruturas com arrebentamento de adução de água bruta. | Comunicar a prestadora de serviços de saneamento básico. | |
| Interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica nas instalações de produção de água. | Comunicar à fornecedora de energia elétrica. | |
| Falta de água generalizada | Promover abastecimento temporário de áreas mais distantes com caminhões tanque/pipa. | |
| Utilização de sistemas autônomos de geração de energia. | ||
| Vazamento de produtos químicos nas instalações de água. | Buscar por soluções que contenham o vazamento. | |
| Executar reparos das instalações danificadas. | ||
| Promover o controle e o racionamento da água disponível em reservatórios. | ||
| Implementar rodízio de abastecimento. | ||
| Promover abastecimento da área atingida com caminhões tanque/pipa. | ||
| Qualidade inadequada da água dos mananciais. | Promover abastecimento da área atingida com caminhões tanque/pipa. | |
| Inexistência de monitoramento | Comunicar prestadora de serviços de saneamento básico, para que acione o socorro e ative a captação em fonte alternativa. |
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 1 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS |
| OCORRÊNCIA | ORIGEM | AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA |
| Executar reparos das instalações danificadas. | ||
| Ações de vandalismo | Promover o controle e o racionamento da água disponível em reservatórios. | |
| Implementar rodízio de abastecimento temporário das áreas atingidas com caminhões tanque/pipa. | ||
| Promover sistema de segurança para evitar ações de vandalismo. |
Quadro 15 – Ações para emergências e contingências referentes ao abastecimento emergencial/temporário de água.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 1 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS |
| OCORRÊNCIA | ORIGEM | AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA |
| Deficiências de água nos mananciais em período de estiagem. | Promover o controle e o racionamento da água disponível em reservatórios. | |
| Implementar rodízio de abastecimento temporário das áreas atingidas com caminhões tanque/pipa. | ||
| Transferir água entre setores de abastecimento com objetivo de atender temporariamente a população atingida pela falta de água localizada. | ||
| Interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica nas instalações de produção de água. | Comunicar a concessionária dos serviços para que acione e busque alternativa de água. | |
| Comunicar o fornecedor de energia elétrica. | ||
| Interrupção no fornecimento de energia elétrica em setores de distribuição. | Comunicar a concessionária dos serviços para que acione socorro e busque fonte alter- nativa de água. | |
| Falta de água parcial ou localizada | Promover o controle e o racionamento da água disponível em reservatórios. | |
| Transferir água entre setores de abastecimento com o objetivo de atender temporaria- mente a população atingida pela falta de água localizada. | ||
| Danificação de equipamentos nas estações elevatórias de água tratada. | Executar reparos das instalações danificadas e troca de equipamentos. | |
| Transferir água entre os setores de abastecimento com o objetivo de atender temporariamente a população atingida pela falta de água localizada. | ||
| Danificação de estruturas de reservatórios e elevatórias de água tratada. | Promover abastecimento da área atingida com caminhões tanque/pipa. | |
| Rompimento de redes e linhas adutoras de água tratada. | Comunicar a prestadora de serviços de saneamento básico para que acione socorro e fonte alternativa de água. | |
| Executar reparos das instalações danificadas. | ||
| Transferir água entre setores de abastecimento com o objetivo de atender temporaria- mente a população atingida pela falta de água localizada. | ||
| Promover abastecimento da área atingida com caminhões tanque/pipa. | ||
| Ações de vandalismo. | Executar reparos nas instalações danificadas. | |
| Transferir água entre setores de abastecimento com o objetivo de atender temporariamente a população atingida pela falta de água localizada. | ||
| Promover abastecimento da área atingida com caminhões tanque/pipia. | ||
| Prover sistema de segurança para evitar ações de vandalismo. | ||
| Problemas mecanismo e hidráulicos na captação e de qualidade da água dos mananciais. | Implantar e executar serviço permanente de manutenção e monitoramento do sistema de captação. | |
Quadro 16 – Ações para emergências e contingências referentes ao abastecimento emergencial/temporário de água.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 1 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS |
| OCORRÊNCIA | ORIGEM | AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA |
| Falta de água generalizada | Por motivos diversos emergenciais (quebra de equipamento, danificação na estrutura do sistema e de tubulações, inundações, falta de energia, contaminação da água etc.) | Elaborar projeto para implantar/manter sistema de captação e tratamento de água para consumo humano como meio alternativo de abastecimento no caso de pane no sistema convencional em situações emergenciais. |
| Diminuição da pressão | Vazamento e/ou rompimento de tubulação em algum trecho. | Desenvolver campanha junto à comunidade para evitar o desperdício e promover o uso racional e consciente da água. |
| Ampliação do consumo em horários de pico. | Desenvolver campanha junto à comunidade para instalação de reservatório elevado nas unidades habitacionais. |
7.2.4 Objetivos, Metas, Programas, Projetos e Ações para o SAA
Os objetivos, programas, projetos e ações destinados à universalização e melhoria na qualidade dos serviços relacionados ao sistema de abastecimento de água de Iúna foram organizados em tabelas sínteses, categorizados por setor e objetivo. Essas tabelas proporcionam uma visão abrangente das propostas, permitindo uma análise tanto macro quanto micro.
O processo segue uma lógica sequencial, começando com a fundamentação do objetivo, passando pelas metas estabelecidas em diferentes prazos do projeto, identificando os programas, projetos e ações necessários para atingir essas metas, e, por fim, detalhando os métodos de acompanhamento que indicarão o sucesso das tarefas.
A seguir, estão delineados os objetivos propostos para o Sistema de Abastecimento de Água no Município de Iúna:
· Objetivo 1 – Implementação do Programa de Educação Ambiental;
· Objetivo 2 – Ampliar e Aprimorar o Abastecimento de Água na Zona Urbana;
· Objetivo 3 – Monitoramento da Qualidade da Água dos Sistemas Individuais.
Tabela 39 – Síntese do objetivo 1.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 1 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| OBJETIVO | 1 | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL |
| FUNDAMENTAÇÃO | A base para qualquer projeto na área de saneamento é a Educação Ambiental. Quanto mais consciente o cidadão melhor será o local onde ele vive. Isso independe de sua condição financeira, da sua cor, da sua raça ou do seu credo. População bem educada evita o desperdício, reutiliza a água, não polui mananciais e principalmente, cobra uns dos outros e do Poder Público para garantir a qualidade da água para as futuras gerações. Sendo assim, pouco foi informado de Programas de Educação Ambiental para crianças, jovens ou adultos em Iúna relacionado as questões hídricas do município. Se faz necessário então, a adoção de práticas que estabeleçam programas como este voltado para toda a popu- lação, atendendo aos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei nº 9.433/1997. |
| MÉTODO DE ACOMPANHAMENTO (INDICADOR) | Número de ações realizadas, número de pessoas impactadas, histórico do macromedidor, histórico do consumo de energia elétrica no sistema do SAA e qualidade da água de rios e córregos da região. |
| METAS |
| IMEDIATO - ATÉ 3 ANOS | CURTO - 4 A 8 ANOS | MÉDIO PRAZO - 9 A 12 ANOS | LONGO PRAZO - 12 A 20 ANOS |
| - Programa de Educação Ambiental vol- tado para evitar o desperdício de água, métodos de reuso, preservação de rios, córregos e nascentes. | Manter o programa de Educação Ambiental | Manter o programa de Educação Ambiental | Manter o programa de Educação Ambiental. |
| PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES (R$) |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PRAZOS | POSSÍVEIS FONTES | MEMÓRIA DE CÁLCULO |
| IMEDIATO | CURTO | MÉDIO | LONGO | ||||
| 1.1.1 | Implementar projeto de educação ambiental com o objetivo de promover o uso racional da água e evitar seu desperdício e promover as boas práticas sanitárias para o seu uso. | R$ 40.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 80.000,00 | RP - FPU - FPR | 1º ano 20.000 + 10mil/ano até o 20º ano. |
| PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES (R$) |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PRAZOS | POSSÍVEIS FONTES | MEMÓRIA DE CÁLCULO |
| IMEDIATO | CURTO | MÉDIO | LONGO | ||||
| 1.1.2 | Realização de campanhas educacionais e de conscientização sobre o uso responsável da água, tanto nas residências quanto em instituições, indústrias, órgãos públicos, etc. (área urbana e rural). | R$ 40.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 80.000,00 | RP - FPU - FPR | 1º ano 20.000 + 10mil/ano até o 20º ano. |
| TOTAIS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES | R$ 80.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 160.000,00 | TOTAL DO OBJETIVO | R$ 420.000,00 |
Legenda: RP – Recursos Próprios, FPU – Financiamento Público, FPR – Financiamento Privado.
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2024.
Tabela 40 – Síntese do objetivo 2.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 1 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| OBJETIVO | 1 | AMPLIAR E APRIMORAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA |
| FUNDAMENTAÇÃO | Iúna atende 90,74% da população urbana com abastecimento de água potável. Portanto, são indicadas melhorias e ampliações para otimizar o sistema e diminuir sua pressão sobre os recursos naturais regionais, bem como melhorar a qualidade dos serviços para a população do município. |
| MÉTODO DE ACOMPANHAMENTO (INDICADOR) | Identificação das realizações das ações e projetos, quantidade de ligações, extensão da rede, índice de perdas e monitoramento do(s) poço(s) de captação subterrânea e monitoramento da qualidade da água. |
| METAS |
| IMEDIATO - ATÉ 3 ANOS | CURTO - 4 A 8 ANOS | MÉDIO PRAZO - 9 A 12 ANOS | LONGO PRAZO - 13 A 20 ANOS |
| - Aumentar o controle sobre o volume distribuído;- Ampliar a rede de distribuição na área urbana;-Realizar ligações de água remanes- centes na área urbana para atender a população atual;-Manutenção do SAA;-Reduzir perdas do SAA. | -Manter o abastecimento de água tratada para toda população;-Manutenção do SAA. | - Manter o abastecimento de água tra- tada para toda população;-Manutenção do SAA. | - Manter o abastecimento de água tratada para toda a população;-Manutenção do SAA. |
| PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES (R$) |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PRAZOS | POSSÍVEIS FONTES | MEMÓRIA DE CÁLCULO |
| IMEDIATO | CURTO | MÉDIO | LONGO | ||||
| 1.2.1 | Ampliar a rede de distribuição de água em 7,81 km (imediato: 0,91 km; curto prazo: 1,84 km; médio: 1,37 km; longo: 3,67 km) | R$ 54.600,00 | R$ 110.400,00 | R$ 82.200,00 | R$ 220.200,00 | RP - FPU | Distância (m)*R$60,00/m |
| 1.2.2 | Realizar 849 novas ligações (imediato: 99;curto prazo: 200; médio:150; longo: 400) | R$16.434,00 | R$ 33.200,00 | R$ 24.900,00 | R$ 66.400,00 | RP - FPU | nº de novas ligações*R$166,00/lig |
| 1.2.3 | Manutenção do SAA. | R$ 1.115.327,52 | R$ 1.921.643,76 | R$ 1.593.816,00 | R$ 3.338.228,28 | RP - FPU | (população aten- dida * custo global |
| PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES (R$) |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PRAZOS | POSSÍVEIS FONTES | MEMÓRIA DE CÁLCULO |
| IMEDIATO | CURTO | MÉDIO | LONGO | ||||
| médio por habitante para o SAA * taxa de manutenção de 2% a.a) |
| TOTAIS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES | R$ 1.186.361,52 | R$ 2.065.243,76 | R$ 1.700.916,00 | R$ 3.624.828,28 | TOTAL DO OBJETIVO | R$ 8.577.349,56 |
Legenda: RP – Recursos Próprios, FPU – Financiamento Público, FPR – Financiamento Privado.
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2024.
Tabela 41 – Síntese do objetivo 3.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 1 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| OBJETIVO | 3 | MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DOS SISTEMAS INDIVIDUAIS |
| FUNDAMENTAÇÃO | As comunidades isoladas, que não estão conectadas ao sistema da sede urbana e Pequiá. Elas são administradas e mantidas diretamente pelo município, com o auxílio da comunidade local, sem a participação de prestadores de serviços. Com isso, deve-se ter o monitoramento da qualidade da água captada, bem como sua fiscalização |
| MÉTODO DE ACOMPANHAMENTO (INDICADOR) | Número de captações individuais cadastradas. Acompanhamento e verificação das análises. Índice de atendimento = (Análises em conformi- dade*100) / Número total de análises. |
| METAS |
| IMEDIATO - ATÉ 3 ANOS | CURTO - 4 A 8 ANOS | MÉDIO PRAZO - 9 A 12 ANOS | LONGO PRAZO - 13 A 20 ANOS |
| - Cadastrar e regularizar as captações individuais;- Incentivar a regularização das captações individuais;- Monitorar a qualidade da água, reduzindo o risco de contaminação;-Manutenção da vegetação nativa das nascentes. | - Monitorar a qualidade da água, reduzindo o risco de contaminação;-Manutenção da vegetação nativa das nascentes. | -Monitorar a qualidade da água, reduzindo o risco de contaminação;-Manutenção da vegetação nativa das nascentes. | - Monitorar a qualidade da água, reduzindo o risco de contaminação;-Manutenção da vegetação nativa das nascentes. |
| PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES (R$) |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PRAZOS | POSSÍVEIS FONTES | MEMÓRIA DE CÁLCULO |
| IMEDIATO | CURTO | MÉDIO | LONGO | ||||
| 1.3.1 | Promover melhorias (reforma) gerais em unidades da ETA, principalmente em São João do Príncipe e Santíssima Trindade. | R$ 100.000,00 | - | - | - | RP - FPU - AA | Estimativa |
| PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES (R$) |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PRAZOS | POSSÍVEIS FONTES | MEMÓRIA DE CÁLCULO |
| IMEDIATO | CURTO | MÉDIO | LONGO | ||||
| 1.3.1 | Implantar um programa para cadastramento e fiscaliza- ção do uso de águas subterrâneas e superficiais no município junto aos órgãos ambientais competentes. | R$ 93.600,00 | R$ 78.000,00 | R$ 62.400,00 | R$ 124.800,00 | RP - AA | 2 Estagiários x 12meses (imediato), 1 estagiário x 12 me- ses (curto, médio e longo prazo). Ação administrativa para manutenção a médio e longo prazo. |
| 1.3.3 | A Secretaria de Saúde do Município, através da Vigilân- cia Sanitária, deve ampliar a fiscalização do abastecimento de água através da realização da coleta e análise da água destinada ao consumo humano por laboratório especializado. | R$ 4.200,00 | R$ 7.000,00 | R$ 5.600,00 | R$ 11.200,00 | RP - FPU - AA | R$350/análise frequência trimestral - Custo anual R$1.400. |
| 1.3.4 | Manutenção periódica da vegetação nativa das nascentes, prevenindo queimadas e desmatamento | R$ 10.500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 14.000,00 | R$ 28.000,00 | AA - RP | R$ 1.750,00 (Salário jardineiro) / 2x ao ano - Custo Anual R$3.500,00 |
| TOTAIS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES | R$ 208.300,00 | R$ 102.500,00 | R$ 82.000,00 | R$ 164.000,00 | TOTAL DO OBJETIVO | R$ 556.800,00 |
Legenda: RP – Recursos Próprios, FPU – Financiamento Público, FPR – Financiamento Privado.
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2024.
7.2.5 Análise Econômica
Os dados do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Iúna, ES, no setor de abastecimento de água, apresentam uma distribuição de investimentos planejados para atender aos objetivos de melhoria e universalização do sistema de abastecimento, divididos em prazos imediatos, curtos, médios e longos. O total estimado de recursos a ser aplicado é de R$ 9.564.149,56, com a maior parte dos investimentos concentrada em ações de longo prazo, refletindo uma estratégia de desenvolvimento gradual e sustentável do sistema.
A Tabela 42 e o Gráfico 17 apresentam a estimativa dos investimentos em SAA necessários separados por prazo de execução.
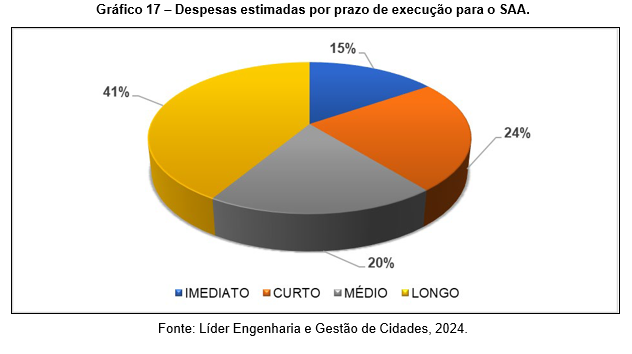
Tabela 42 – Síntese dos totais dos valores estimados para o SAA.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 1 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES - TOTAIS DOS VALORES ESTIMADOS |
| OBJETIVOS | PRAZOS | TOTAL GERAL |
| IMEDIATO | CURTO | MÉDIO | LONGO | ||
| IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | R$ 80.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 170.000,00 | R$ 430.000,00 |
| AMPLIAR E APRIMORAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA | R$ 1.186.361,52 | R$ 2.065.243,76 | R$ 1.700.916,00 | R$ 3.624.828,28 | R$ 8.577.349,56 |
| MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DOS SISTEMAS INDIVIDUAIS | R$ 208.300,00 | R$ 102.500,00 | R$ 82.000,00 | R$ 164.000,00 | R$ 556.800,00 |
| TOTAL | R$ 1.474.661,52 | R$ 2.267.743,76 | R$ 1.862.916,00 | R$ 3.958.828,28 | R$ 9.564.149,56 |
8 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES
8.1 DIAGNÓSTICO DO SES
O levantamento realizado durante o Diagnóstico Situacional teve como objetivo principal mapear e analisar a atual gestão dos serviços de esgotamento sanitário no Município de Iúna. Essa análise abordou tanto os aspectos quantitativos quanto qualitativos relacionados às operações e infraestruturas que compõem o serviço.
No decorrer do diagnóstico, foram identificadas deficiências e suas respectivas causas, que estão diretamente ligadas à oferta de serviços, ao nível de atendimento oferecido, às condições de acesso e à qualidade geral da prestação do serviço de esgotamento sanitário.
Dessa forma, o Diagnóstico compreende uma análise abrangente da situação atual do sistema de esgotamento sanitário do município. Ele se concentra na descrição detalhada dos aspectos estruturais e operacionais do sistema, considerando tanto suas dimensões quantitativas quanto qualitativas. Isso inclui a avaliação do planejamento técnico, estudos e projetos realizados, a extensão da cobertura do atendimento, as condições das infraestruturas e instalações existentes, a eficiência operacional do sistema, o estado dos corpos receptores dos efluentes de esgoto, áreas potencialmente vulneráveis à contaminação, possíveis lacunas no atendimento público, alternativas de saneamento disponíveis e a capacidade do sistema em lidar com as demandas futuras de esgotamento sanitário.
8.1.1 Caracterização Operacional do SES
Para o Município de Iúna, observou-se um déficit no serviço de esgotamento sanitário no que diz respeito aos distritos, que pode ser definido em virtude da falta de investimentos de modo geral ou falta de soluções sanitárias individuais e coletivas. A Figura 65 ilustra essa classificação.
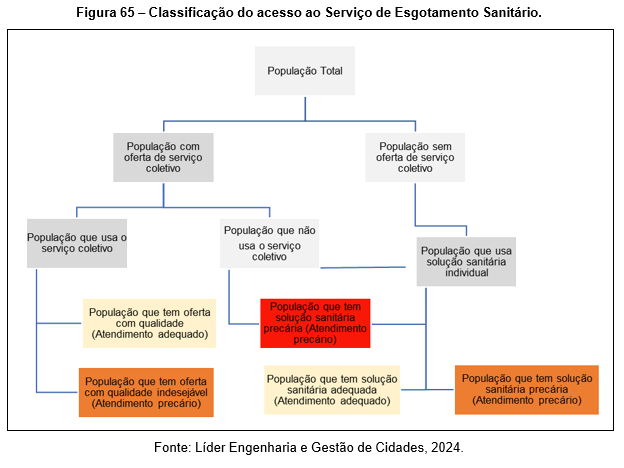
Em Iúna, a gestão do sistema de esgotamento sanitário é atribuição da prestadora de serviços de saneamento, por meio de Contrato de Concessão de Serviços Públicos, somente na Sede.
O Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Iúna possui a seguinte estrutura: na sede, há uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), do tipo reator UASB, em funcionamento desde março de 2024, que está em fase de ajustes do sistema.
Nos Distritos de Pequiá, Nossa Senhora das Graças, Santíssima Trindade e São João do Príncipe, há estações de tratamento de efluentes, porém inativas, construída com recursos da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), no modelo de Fossa Filtro. Portanto, nestes distritos o esgoto é lançado “in natura” no curso d’água que transpassa cada distrito.
8.1.2 Panorama da Situação Atual do SES
a) Indicadores Operacionais
No sistema do SNIS, somente existem dados de 2016 para esgotamento sanitário, apresentados na Tabela 43.
Tabela 43 – Sistema de indicadores do SNIS utilizados na avaliação dos serviços do SES.
| Item | Indicador | Quantidade | Unidade | Fonte |
| G06B | População urbana residente do(s) município(s) com esgotamento sanitário. | 17.000 | Habitante | SNIS |
| G12B | População total residente do(s) município(s) com esgotamento sanitário, segundo o IBGE. | 29.743 | Habitante | SNIS |
| GE009 | Quantidade de Sedes municipais atendidas com esgotamento sanitário. | 1 | Unidade | SNIS |
| GE011 | Quantidade de Localidades (excluídas as sedes) atendidas com esgotamento sanitário. | 1 | Unidade | SNIS |
| ES001 | População total atendida com esgotamento sanitário. | 17.000 | Habitante | SNIS |
| ES002 | Quantidade de ligações ativas de esgotos. | 2.000 | Ligações/ano | SNIS |
| ES004 | Extensão da rede de esgotos. | 65 | Km | SNIS |
| ES005 | Volume de esgotos coletado. | 657 | 1.000m³/ano | SNIS |
| ES009 | Quantidade de ligações totais de esgotos. | 2.000 | Ligações/ano | SNIS |
| FN043 | Investimento realizado em esgotamento sanitário pelo(s) município(s). | 80.000 | R$/ano | SNIS |
| FN053 | Investimento realizado em esgotamento sanitário pelo estado. | 50.000 | R$/ano | SNIS |
| IN021 | Extensão da rede de esgoto por ligação. | 32,5 | Km | SNIS |
| IN024 | Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água. | 100 | Percentual | SNIS |
| IN047 | Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com esgoto. | 100 | Percentual | SNIS |
| IN056 | Índice de atendimento total de esgoto referido aos municípios atendidos com água. | 57,16 | Percentual | SNIS |
Os dados fornecidos na tabela Tabela 43 apresentam informações sobre o Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Iúna no ano de 2016. A população urbana residente atendida com esgotamento sanitário era de 17.000 habitantes. Insta salientar que foram solicitados formalmente dados mais recentes. No entanto, até o momento da finalização deste documento, não houve resposta por parte do órgão prestador de serviços de saneamento básico, tampouco do município, impossibilitando a inclusão de informações atualizadas referentes aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no presente relatório.
A sede municipal atendida era a sede de Iúna, e o distrito de Pequiá era apontado como a localidade atendida com esgotamento sanitário. Entretanto, ao analisar a consistência das informações, verifica-se uma incoerência. A informação obtida em 2024 indica que a Estação de Tratamento de esgoto instalada no formato de fossas sépticas de Pequiá está abandonada e inativa. Portanto, se em 2016 ela estava em funcionamento, após esse período houve uma subutilização desta área, reportando a necessidade de investimentos em melhorias para que ela volte a funcionar, evitando, assim, que o esgoto seja lançado “in natura”.
Outros dados fornecidos incluem a quantidade de ligações ativas e totais de esgoto, ambas com 2.000 ligações por ano, e a extensão da rede de esgoto, que era de 65 km, coletando um volume de 657.000 m³ de esgoto anualmente. O investimento realizado pelo município em esgotamento sanitário era de R$ 80.000 por ano, enquanto o estado investia R$ 50.000 por ano.
O indicador FN024, referente ao investimento realizado em esgotamento sanitário pelo prestador de serviços, totalizou R$ 4.369.494,70, conforme dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) de 2022.
Os índices de atendimento urbano de esgoto referidos aos municípios atendidos com água e esgoto eram de 100%, o que significa que, dentro das áreas urbanas dos municípios que possuem sistemas de esgotamento sanitário, todas as residências com acesso à rede de água também têm acesso à rede de esgoto. Em outras palavras, nas zonas urbanas onde o sistema de esgotamento sanitário está disponível, ele atende a todos os moradores.
Por outro lado, o índice de atendimento total de esgoto era de 57,16%. Esse índice considera a população total dos municípios, tanto em áreas urbanas quanto rurais, e reflete a porcentagem de toda essa população que tem acesso ao sistema de esgotamento sanitário. Portanto, embora nas áreas urbanas o atendimento seja completo, apenas 57,16% da população total, incluindo áreas rurais e locais onde o sistema de esgoto não está disponível, tem acesso ao tratamento de esgoto.
b) Outorgas de lançamento
A Portaria de Outorga Nº 172, datada de 30 de junho de 2023 e emitida pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH), representa a concessão formalizada à prestadora de serviços de saneamento básico para o uso de recursos hídricos na modalidade de Concessão, destinada ao lançamento de efluente no rio Pardo, situado na região hidrográfica do Rio Itapemirim, especificamente no município de Iúna. O documento estabelece coordenadas precisas para o ponto de lançamento do efluente, utilizando o sistema de coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator), com as marcações 235.711 E, 7.746.725 N, baseadas no datum WGS-84. A concentração máxima permitida de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) no efluente lançado foi fixada em 50,0 mg/l, enquanto a vazão de referência calculada para o ponto de lançamento foi determinada em 3.101,5 litros por segundo.
Além disso, a finalidade específica do uso da água é a diluição do efluente, com uma vazão máxima de diluição associada à DBO de 371,3 litros por segundo (1.336,68 m³/h). Este cálculo considera a DBO natural do rio, estimada em 1,0 mg/l, e o padrão de referência para a DBO do corpo d’água estabelecido em 5,0 mg/l.
A Portaria impõe à prestadora de serviços de saneamento básico uma série de condicionantes, incluindo a obrigatoriedade de executar obras e serviços necessários ao uso dos recursos hídricos, com início previsto dentro de dois anos a partir da vigência da outorga e conclusão no prazo de seis anos.
Adicionalmente, a prestadora de serviços de saneamento básico deve realizar monitoramentos regulares da qualidade do efluente lançado e do corpo receptor do rio, abrangendo parâmetros como Demanda Bioquímica de Oxigênio e Oxigênio Dissolvido. Os laudos laboratoriais devem ser elaborados de acordo com os critérios técnicos estabelecidos pela Instrução Normativa IEMA Nº 02/09 e encaminhados à AGERH até 15 dias após cada campanha de monitoramento mensal, durante toda a vigência da Portaria.
A vigência da concessão é de cinco anos a partir da data de publicação da Portaria, com a possibilidade de renovação mediante processo formal junto à AGERH até o término de sua validade.
A portaria estabelece dados de valores máximo de lançamento, apresentados na tabela a seguir.
Tabela 44 – Valores máximos de lançamento de efluentes.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Q (L/s) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Horas/dia | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Nº de dias | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
c) Bacias de esgotamento sanitário
As bacias de esgotamento sanitário são unidades territoriais delimitadas que abrangem áreas urbanas ou rurais onde são concentrados os sistemas de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos esgotos domésticos e industriais. Essas áreas são estrategicamente planejadas para otimizar a eficiência e a gestão dos serviços de saneamento básico, garantindo a proteção da saúde pública e a preservação do meio ambiente.
A delimitação das bacias de esgotamento sanitário considera diversos critérios técnicos, como a densidade populacional, o uso do solo, as características topográficas e hidrográficas. Esses elementos são fundamentais para o dimensionamento adequado das infraestruturas necessárias, como redes coletoras, interceptores, estações elevatórias e estações de tratamento de esgoto (ETEs).
Dentro de uma bacia de esgotamento sanitário, os esgotos são coletados por meio de uma rede de tubulações que direcionam os efluentes até as ETEs, onde pas- sam por processos físicos, químicos e biológicos para remover poluentes e microorganismos. Após o tratamento, os efluentes são lançados de forma controlada no meio ambiente, geralmente em corpos d'água, respeitando padrões de qualidade estabelecidos pela legislação ambiental.
Em Iúna, o projeto de esgotamento sanitário na sede dividiu o município em 7 bacias, conforme Figura 66.
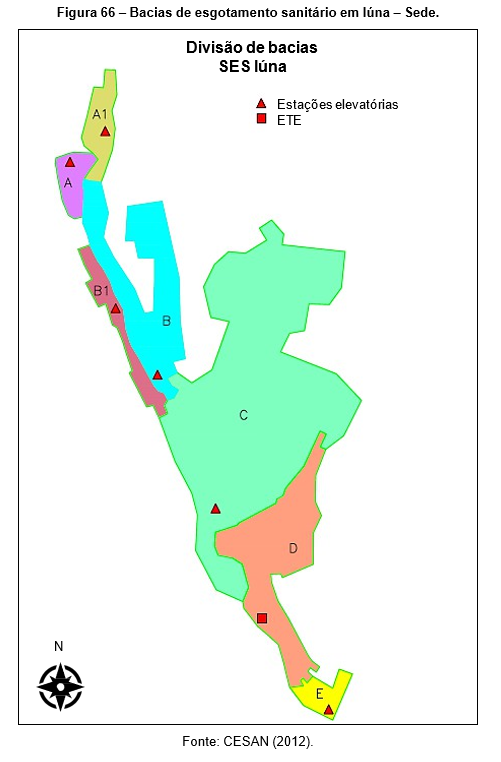
d) Redes Coletoras e Ligações Prediais
A rede de esgoto de Iúna é composta por 7 bacias, cada uma com suas respectivas tubulações principais de PVC de diferentes diâmetros nominais (DN). A distribuição das tubulações é detalhada na Tabela 45.
Tabela 45 – Extensão (m), diâmetro e material das redes coletoras por bacia.
| BACIA | DN 150 | DN 200 PVC | DN 250 PVC | DN 300 PVC | EXTENSÃO TOTAL |
| Existente | PVC | FOFO | |||||
| A | 786 | - | - | - | - | 786 | |
| A1 | 439 | 260 | - | - | - | - | 699 |
| B | 836 | 4220 | - | - | - | - | 5056 |
| B1 | 2027 | 230 | - | - | - | 2257 | |
| C | 776 | 23054 | 346 | 970 | 72 | 92 | 25310 |
| D | 7848 | - | - | 26 | 7874 | ||
| TOTAL | 2051 | 38236 | 576 | 970 | 98 | 92 | 41987 m |
Ressalta-se que as informações da tabela acima foram retiradas do memorial de cálculo do sistema de concepção do SES de Iúna de 2012. Segundo dados do SNIS de 2016, a extensão da rede era de 65 km, ultrapassando os 41,9 km projetados. Não foram fornecidos dados atuais da extensão da rede de SES.
Segundo dados fornecidos pela prefeitura, atualmente, o sistema de esgoto de Iúna já realizou 4.384 das 4.900 ligações prediais planejadas conforme contrato de obra. Adicionalmente, a infraestrutura conta com 1.296 poços de visitas distribuídos ao longo da rede.
O cadastro em AutoCAD da rede de esgotamento sanitário na sede do municí- pio foi fornecido pela prefeitura de Iúna.
e) Estações Elevatórias de Esgoto – EEE
As estações elevatórias de esgoto desempenham um papel fundamental no sistema de esgotamento sanitário, especialmente em áreas onde a topografia não permite o fluxo gravitacional dos efluentes até as estações de tratamento. Essas estruturas são projetadas para bombear os esgotos coletados de níveis mais baixos para pontos mais altos da rede, garantindo que o fluxo de águas residuais seja continuamente transportado e tratado de forma eficiente.
Cada estação elevatória é equipada com conjuntos de bombas adequados ao volume e à pressão necessários para vencer as alturas de elevação e as distâncias horizontais da rede. Tipicamente, essas instalações são controladas por sistemas automáticos que monitoram o nível de líquidos nos poços de sucção e ativam as bombas conforme a demanda, garantindo um fluxo contínuo e eficaz.
A operação das estações elevatórias requer manutenção regular, incluindo inspeções de equipamentos, limpeza de grades e filtros, e monitoramento do desempenho das bombas para evitar falhas operacionais. A eficiência dessas estruturas é essencial para prevenir transbordamentos, minimizar riscos à saúde pública e preservar a qualidade ambiental dos corpos receptores onde os efluentes tratados serão finalmente dispostos.
Em Iúna, existem seis Estações Elevatórias de Esgoto Bruto (EEEB) distribuídas pelo perímetro urbano, conforme detalhado no Quadro 17 e apresentadas na Figura 67, Figura 68, Figura 69 e Figura 70 (extraídas do Google Earth). Não foram fornecidas imagens das EEEB A1, C e E, e as imagens disponíveis no Google Earth não se encontram atualizadas. Portanto, por serem obras recentes, não foi possível observar a construção destas EEEB.
Quadro 17 – Estações Elevatórias de esgoto bruto (EEEB) na sede – Iúna.
| EEEB | Longitude | Latitude | Especificações da Bomba |
| A | 234662.00 m E | 7749348.00 m S | Xylem 2,51 l/s; 5,76 mca; 2,2 cv |
| A1 | 234804.00 m E | 7749492.00 m S | Xylem 1,51 l/s; 7,14 mca; 2,2 cv |
| B | 235148.00 m E | 7748096.00 m S | Xylem 9,79 l/s; 6,11 mca; 2,2 cv |
| B1 | 234957.00 m E | 7748455.00 m S | Xylem 2,34 l/s; 5,7 mca; 2,2 cv |
| C | 235476.00 m E | 7747412.00 m S | Xylem 50,64 l/s; 10,57 mca; 10,2 cv |
| E | ‘’236120.00 m E | 7746250.00 m S | Xylem 1,9 l/s; 17,7 mca; 4 cv |
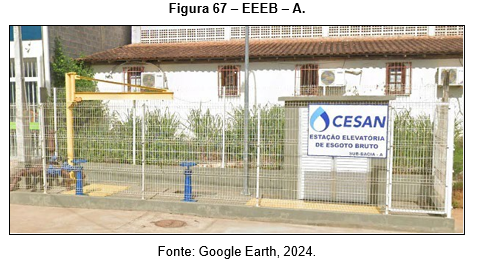
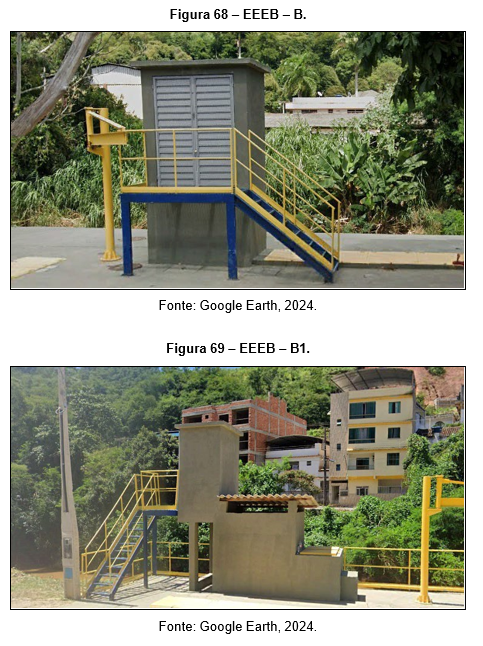
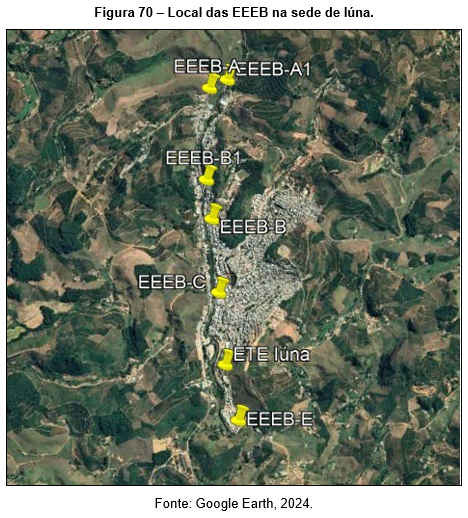
Para o dimensionamento das estações elevatórias de esgoto bruto e das linhas de recalque, foram adotados os seguintes critérios de projeto (CESAN, 2012):
· Os poços de sucção foram dimensionados com tempo de ciclo (enchimento + bombeamento) mínimo de 4 minutos e máximo de 10 minutos para a vazão afluente igual à vazão média de início de plano. O tempo de ciclo máximo foi estabelecido em 30 minutos para a vazão máxima de final de plano. Os poços de sucção foram projetados em formato cilíndrico, com diâmetro mínimo de 2,0 metros;
·A vazão de bombeamento foi definida como a vazão máxima de final de plano, acrescida de 15% a 25% para garantir o esvaziamento do poço de sucção em condições críticas de final de plano;
· Os conjuntos motor-bombas foram especificados como do tipo centrífugo sub- mersível, com acionamento automático. Para garantir a operação contínua e redundância, foram instalados no mínimo dois conjuntos (1+1);
· As tubulações de recalque foram projetadas em ferro fundido, com diâmetros que garantem velocidades máximas e mínimas entre 2,0 m/s e 0,6 m/s.
f) Sistemas de Tratamento de Esgoto
· ETE Sede de Iúna
A Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário (ETE) de Iúna está localizada nas coordenadas geográficas UTM 234.545m E e 7.746.861m S (Figura 71). Esta instalação possui a capacidade de tratar uma vazão de até 36 litros por segundo. As operações da ETE foram iniciadas em maio, com um investimento total de 13,1 milhões de reais.
Para o dimensionamento da ETE, foi adotado um consumo per capita de água de 136 L/hab/dia, conforme calculado no Projeto de Melhorias e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, elaborado pela ENCIBRA em 2010. Os coeficientes de variação utilizados são o coeficiente do dia de maior consumo (k1) de 1,2 e o coeficiente da hora de maior consumo (k2) de 1,5. O coeficiente de retorno água/esgoto (C) foi estabelecido em 0,80, e a taxa de infiltração (Tinf) em 0,2 litros por segundo por quilômetro. O índice de atendimento foi considerado 100%.
Os parâmetros de carga poluidora per capita adotados para o dimensionamento da ETE foram os seguintes:
· Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO): 54 g DBO/hab.d;
· Demanda Química de Oxigênio (DQO): 90 g DQO/hab.d;
· Nitrogênio Total de Kjeldahl (NTK): 8 g NTK/hab.d;
· Fósforo Total (Ptot): 1,75 g Ptot/hab.d;
· Sólidos Suspensos Totais (SST): 60 g SST/hab.d.
Esses parâmetros são essenciais para garantir a eficiência e a eficácia do tratamento de esgoto, assegurando que a ETE de Iúna opere de acordo com as normas ambientais e sanitárias, contribuindo para a saúde pública e a preservação ambiental na região.
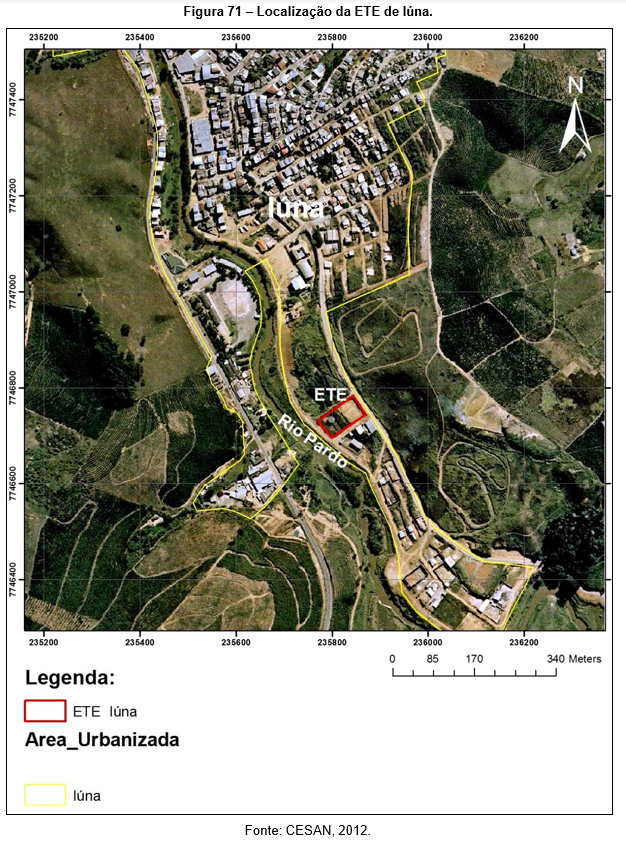
A ETE de Iúna possui os seguintes componentes:
Quadro 18 – Componentes da ETE.
| Componente | Descrição |
| Gradeamento | Composto por duas grades em aço carbono com barras paralelas para reter sólidos grosseiros e corpos flutuantes. A primeira grade possui abertura de 20 mm e a segunda 10 mm, inclinadas a 60° com a horizontal. |
| Caixa de Areia | Destinada a reter areia e detritos minerais pesados. Constitui-se de duas unidades operando alternadamente. Remove a areia para proteger bombas contra abrasão e evitar entupimentos. |
| Caixa de Gordura | Remove materiais flutuantes menos densos que a água, como óleos e gorduras. O material removido é armazenado para posterior tratamento. |
| Elevatória de Esgoto | Unidade em concreto armado com tanque de acumulação e recalque, equipada com dois conjuntos de bombas submersíveis acionadas por chaves bóias (uma ativa e outra reserva). |
| Caixa de Distribuição de Esgoto | Composta por vertedores em concreto armado para distribuição do efluente às duas linhas de tratamento. |
| Reator UASB | Dois reatores anaeróbios de fluxo ascendente construídos em concreto armado, promovendo a biodegradação da matéria orgânica e produção de biogás. Eficiência de remoção de DBO entre 60% e 70%. |
| Reator Aeróbio | Dois reatores aeróbios com material suporte em plástico para adesão de bactérias. Mantêm alta concentração de biomassa, permitindo a remoção eficiente de matéria orgânica. |
| Decantador Secundário | Quatro unidades em concreto armado que separam os flocos de bactérias do líquido clarificado. O lodo é removido através do sistema "Air-Lift". |
| Sistema de Aeração e Recirculação | Sistema de aeração com sopradores tipo roots e difusores de bolhas grossas para mistura e oxigenação dos reatores aeróbios. O ar comprimido também remove o lodo do decantador secundário. |
| Tratamento do Biogás | Queima controlada do biogás gerado no reator UASB em queimadores de biogás para remoção de odor, com possibilidade de reutilização como fonte de energia. |
| Leito de Secagem | Unidades que recebem o lodo dos digestores, reduzindo a umidade através de drenagem e evaporação. O lodo é removido após 12 a 20 dias, quando a umidade atinge 70% a 80%. O percolado é encaminhado para o início da ETE e o lodo seco para aterros classe II. |




· Demais distritos:
Nos Distritos de Pequiá, Nossa Senhora das Graças, Santíssima Trindade e São João do Príncipe, há estações de tratamento de efluentes, porém inativas, construída com recursos da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), no modelo de Fossa Filtro.
O sistema fossa-filtro, também conhecido como fossa séptica seguida de filtro anaeróbio, é um método de tratamento primário de esgoto doméstico bastante utilizado em áreas rurais e urbanas que não possuem acesso a uma rede coletora de esgoto. O funcionamento do sistema fossa-filtro pode ser descrito em dois estágios principais: a fossa séptica e o filtro anaeróbio.
Fossa Séptica
· A fossa séptica é um tanque subterrâneo, geralmente construído em concreto, fibra de vidro ou plástico, onde ocorre a separação e a digestão inicial dos sólidos presentes no esgoto.
· O esgoto doméstico é conduzido até a fossa séptica através de tubulações.
· Dentro da fossa séptica, o esgoto é separado em três camadas: uma camada superior de escuma (composta por materiais menos densos que flutuam), uma camada intermediária de líquido (onde ocorre a maior parte do processo de digestão anaeróbia), e uma camada inferior de lodo (composta por sólidos sedimentados).
· A matéria orgânica presente no esgoto é decomposta por bactérias anaeróbias (que não necessitam de oxigênio), resultando na formação de biogás (metano e dió- xido de carbono) e na redução do volume de sólidos.
· A retenção dos sólidos na fossa séptica reduz a carga orgânica que será tratada nas etapas subsequentes.
Filtro Anaeróbio
· O filtro anaeróbio é um compartimento subsequente à fossa séptica, preenchido com material filtrante (como pedras, cascalho, brita ou outros materiais inertes) que fornece uma superfície para a aderência de uma comunidade de bactérias anaeróbias.
· Esse filtro pode ser construído em um tanque separado ou ser uma extensão do tanque da fossa séptica.
· O líquido parcialmente tratado (efluente) da fossa séptica flui para o filtro ana- eróbio, onde passa lentamente através do meio filtrante.
· À medida que o efluente passa pelo filtro, as bactérias anaeróbias aderidas ao material filtrante decompõem ainda mais a matéria orgânica residual.
· Esse processo adicional de digestão anaeróbia melhora significativamente a qualidade do efluente, reduzindo a concentração de matéria orgânica e outros conta- minantes.
Em resumo, o sistema fossa-filtro oferece um tratamento primário eficiente para esgoto doméstico, sendo capaz de remover sólidos suspensos e reduzir significativamente a carga orgânica presente nos efluentes. Além disso, sua manutenção é relativamente simples, exigindo apenas a limpeza periódica da fossa séptica para remoção do lodo acumulado e do filtro anaeróbio.
Em termos de custo-benefício, o sistema é uma solução econômica, especialmente adequada para áreas sem acesso à rede de esgoto convencional. Ele também contribui para a sustentabilidade ambiental, pois o biogás gerado na fossa séptica pode ser capturado e utilizado como fonte de energia renovável.
Por outro lado, o sistema apresenta algumas desvantagens. Ele é limitado em capacidade, sendo mais adequado para volumes menores de esgoto, como residências individuais ou pequenas comunidades. Além disso, sua instalação requer espaço físico adequado para acomodar tanto o tanque séptico quanto o filtro anaeróbio. Em termos de eficiência, embora seja eficaz para tratamento primário, pode não alcançar os padrões exigidos para o lançamento de efluentes em corpos d'água sem um tratamento adicional.
Na Figura 77 é apresentado o registro fotográfico do local inativo onde existe o sistema Fossa-filtro.

Um local com uma fossa-filtro inativa e sem cuidados representa sérios riscos ambientais e de saúde pública. Primeiramente, há o perigo de contaminação do solo e das águas subterrâneas devido a vazamentos ou transbordamentos, o que pode resultar na disseminação de patógenos e poluentes. Esses contaminantes podem afetar diretamente a qualidade da água potável, comprometendo a segurança hídrica da comunidade. Além disso, a presença de fezes humanas e de animais não tratadas aumenta o risco de propagação de doenças infecciosas, como hepatite e infecções gastrointestinais, especialmente entre populações vulneráveis.
Outro aspecto crítico é o potencial impacto na saúde pública local. A exposição prolongada a patógenos provenientes de fossas-filtro inativas pode desencadear surtos de doenças, colocando em risco a saúde de crianças, idosos e pessoas com imunidade comprometida. Além dos problemas de saúde, a poluição resultante dessas condições pode afetar negativamente a vida aquática e os ecossistemas locais, além de prejudicar atividades recreativas e econômicas que dependem da água limpa.
a) Sistemas Individuais de Tratamento
Apesar da falta de acesso a serviços de esgotamento sanitário também existir em grandes centros urbanos, há uma enorme disparidade da situação entre as áreas urbanas e as rurais. Nessas regiões rurais, 49% da população residente ainda convive com práticas consideradas inadequadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas da Infância (UNICEF), tais como: defecação ao ar livre, uso de banheiros compartilhados e lançamento de dejetos sem qualquer tipo de tratamento diretamente em corpos hídricos ou no solo.
Os sistemas locais de tratamento de esgoto (também chamados de descentra- lizados) - se bem projetados, construídos e operados – são boas alternativas para garantir a saúde da população e, ao mesmo tempo, manter a integridade ambiental dessas localidades (MASSOUD; TARHINI; NASR, 2009).
Esses sistemas individuais, ou descentralizados, geralmente atendem residências unifamiliares ou um pequeno número de contribuintes, sendo recomendado para áreas com baixa densidade populacional e para áreas com adequado nível de lençol freático, uma vez que a disposição final para os efluentes coletados e tratados nesse tipo de sistema envolve infiltração.
O despejo inadequado desses efluentes nos corpos hídricos receptores é ex- tremamente prejudicial e contribui diretamente para a perca de qualidade da água, sendo de suma importância o tratamento e a disposição adequada desses efluentes antes de seu lançamento no corpo hídrico. Alguns fatores dificultam a realização desse tratamento adequado, como por exemplo, a falta de estrutura, o afastamento em relação as ETEs e a geografia local. Por esse motivo, a solução é o uso de sistemas individuais para o tratamento do efluente doméstico, tais como fossas sépticas, filtros e sumidouros.
Desenvolvidos para atender as Comunidades mais isoladas, os sistemas individuais, quando bem executados e operados, se tornam uma opção efetiva como solução sanitária para o tratamento dos efluentes domésticos. É um dos mais simples, porém eficientes, sistemas de tratamento de esgoto doméstico previsto nas Normas NBR nº 7.229/1993 e NBR nº 13.969/1997, indicado para residências ou instalações localizadas em áreas não providas de rede de coleta.
Dentro desta abordagem são destacados os seguintes sistemas individuais de tratamento de esgotos, que quando operado em conjunto, atingem os níveis de tratamento exigido:
· Fossas sépticas;
· Valas de infiltração/Filtros;
· Sumidouro.
As fossas ou tanques sépticos são unidades que realizam as funções de trata- mento primário de efluentes como sedimentação e remoção de materiais flutuantes, além de atuar como um digestor de baixa carga sem mistura e sem aquecimento (Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES, 2019).
No tratamento, cumprem basicamente as seguintes funções:
· Separação gravitacional da espuma e dos sólidos presentes, em relação ao líquido afluente, vindo os sólidos a se constituírem em lodo;
· Digestão anaeróbica e liquefação parcial do lodo;
· Armazenamento do lodo.
A manutenção e limpeza nesses tanques/fossas é essencial para manter o seu bom funcionamento, sendo necessário a retirada periódica do lodo afim de evitar a acumulação excessiva do mesmo e a redução do volume racional do tanque, prejudicando sensivelmente as condições operacionais do reator.
As fossas sépticas devem estar, no mínimo, a 4 m da moradia, para evitar o mau cheiro, mas também não podem estar muito longe, para evitar tubulações muito extensas. Estruturas construídas próximas ao banheiro também tendem a evitar curvas nas canalizações, o que beneficia o bom funcionamento. Também, sugere-se a instalação num nível mais baixo em relação ao terreno, favorecendo o escoamento.
Uma exigência importante é que este tipo de sistema seja construído longe de poços ou de qualquer outra fonte de captação de água, pelo menos 30 m de distância, para evitar contaminações, no caso de um eventual vazamento.
A Figura 78 representa o sistema do tanque/fossa séptica.
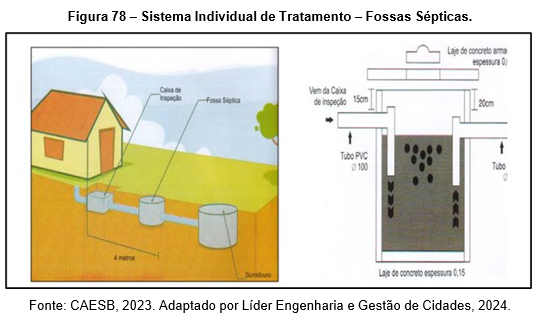
As valas de infiltração e os filtros apresentam princípio equivalente no tratamento de efluentes. Ele é considerado um tratamento secundário e permite uma efici- ência na redução da carga orgânica acima de 80%. Através da retenção das partículas de lodo formadas e arrastadas da fossa séptica, as bactérias anaeróbicas se formam e se fixam na superfície do meio filtrante.
As valas de infiltração consistem na escavação de uma ou mais valas, nas quais são colocados tubos de dreno com brita ou bambu que permite ao longo do seu comprimento o escoamento do efluente proveniente da fossa séptica para dentro do solo.
O comprimento total das valas depende do tipo de solo e quantidade de efluentes a ser tratado. Em terrenos arenosos é proposto 8m de valas por pessoa. Entretanto, para um bom funcionamento do sistema, cada linha de tubos não deve ter mais de 30m de comprimento. Portanto, dependendo do número de pessoas e do tipo de terreno, pode ser necessária mais de uma linha de tubos/valas.
As valas de infiltração geralmente são recomendadas quando o lençol freático se encontra próximo ao solo (CAESB, 2010)
A Figura 79 apresenta um exemplo de uma vala de infiltração.
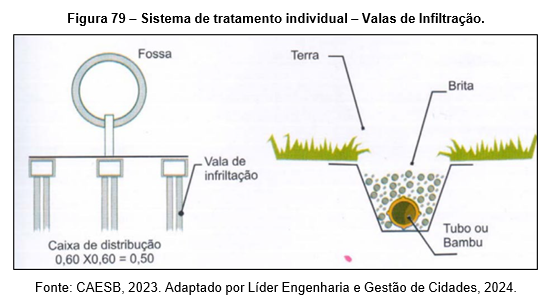
O sumidouro consiste em um poço escavado no solo, de formato cilíndrico ou prismático, com paredes vazadas e fundo permeável, que serve como deposição final para o efluente previamente tratado por outros sistemas, como a fossa séptica, permitindo a penetração desse efluente tratado no solo (CAESB, 2010). A sua profundidade e o seu diâmetro podem variar dependendo do tipo de solo e da quantidade de efluentes gerados, mas não podendo possuir menos que 1 m de diâmetro e mais que 3 m de profundidade, para simplificar a construção do mesmo.
Os sumidouros podem ser construídos em alvenaria de tijolo comum, furado ou anéis pré-moldados de concreto. Para uso do tijolo comum em sua estrutura, os mesmos devem ser colocados afastados entre si, contendo argamassa somente na horizontal (CAESB, 2010).
A construção de um sumidouro começa pela escavação de buraco, a cerca de 3 m da fossa séptica e um nível um pouco mais baixo, para facilitar o escoamento dos efluentes por gravidade. A profundidade do buraco deve ser 70 cm maior que a altura final do sumidouro. Isso permite a colocação de uma camada de pedra, no fundo do dispositivo, para infiltração mais rápida no solo e de uma camada de terra de 20 cm, sobre a tampa do sumidouro.
O diâmetro e a quantidade de sumidouros variam de acordo com o tipo de solo e de acordo com o número de pessoas na residência, conforme mostra a Tabela 46 (CAESB, 2010).
Tabela 46– Dimensionamento de sumidouro.
| Solo arenoso |
| Sumidouro redondo |
| Nº de pessoas | Profundidade (m) | Diâmetro (m) | Nº de sumidouros |
| 6 | 3 | 1,3 | 1 |
| 8 | 3 | 1,6 | 1 |
| 10 | 3 | 1,8 | 1 |
| 12 | 3 | 1,3 | 2 |
| 14 | 3 | 1,8 | 2 |
| Solo argilo-arenoso |
| Sumidouro redondo |
| Nº de pessoas | Profundidade (m) | Diâmetro (m) | Nº de sumidouros |
| 6 | 3 | 1,7 | 1 |
| 8 | 3 | 1,3 | 2 |
| 10 | 3 | 1,8 | 2 |
| 12 | 3 | 1,7 | 2 |
| 14 | 3 | 1,8 | 2 |
| Solo argiloso-siltoso |
| Sumidouro redondo |
| Nº de pessoas | Profundidade (m) | Diâmetro (m) | Nº de sumidouros |
| 6 | 3 | 1,6 | 2 |
| 8 | 3 | 1,8 | 2 |
| 10 | 3 | 1,3 | 4 |
| 12 | 3 | 1,8 | 3 |
| 14 | 3 | 1,7 | 4 |
Em locais cujo o lençol freático esteja próximo ao solo não é recomendado a utilização de sumidouro, mas sim valas de infiltração (CAESB, 2010).
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, em parceria com a Vigilância Sanitária deveria cobrar e informar sobre a exigência de sumidouro apenas para casos onde não há existência de rede de esgotamento. No entanto, o sistema mais utilizado para suprir a coleta e o tratamento dos esgotos são os sistemas de tratamento individual, caracterizados com fossas, filtro e sumidouro ou fossas diretamente ligadas na rede pluvial.
A Figura 80 mostra um exemplo de sumidouro.
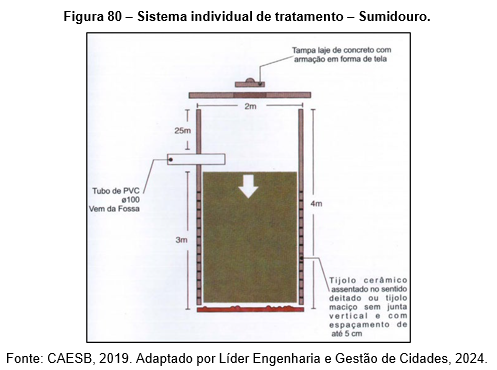
As alternativas para complementar o tratamento do efluente realizado pela fossa séptica e para a disposição final do mesmo são os sumidouros e valas de infiltração, já citados acima, mas também filtros anaeróbicos e o tratamento do efluente por “wetland”.
Outra possibilidade que deve ser listada para essas áreas, é a implantação e instalação de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) compactas. Nota-se atualmente que as associações não apresentam nenhum sistema de tratamento coletivo isolado. Nesse sentido, estas estações apresentam ótima eficiência do tratamento, além de apresentar as seguintes vantagens:
· Operação simples e de baixo custo;
· Alta flexibilidade operacional e de tratabilidade;
· Permite automatização rápida, simples e com baixo investimento;
· Totalmente pré-moldada;
· Volume de lodo gerado inferior aos sistemas convencionais;
· Necessita apenas de uma base de concreto para o apoio dos tanques;
· Área de implantação até 50% inferior aos sistemas convencionais.
A Figura 81 ilustra um exemplo de uma ETE compacta.

Assim, a construção de programas que incentivem as Comunidades rurais a implantarem esses sistemas, se mostra importante para as regiões que ainda não são atendidas, visto que muitas destas áreas têm os esgotos domésticos lançados a céu aberto ou diretamente nos mananciais. A implantação dos sistemas individuais ou descentralizados nas residências traz melhorias significativas para a população no âmbito do saneamento e da saúde, além de diminuir os impactos causados ao meio ambiente. Essa prática deve ser incentivada e também monitorada pelos órgãos municipais, pela prestadora de serviço de saneamento no município e/ou órgão fiscaliza- dor.
Com relação ao Município de Iúna, não há um programa de fiscalização e acompanhamento para os sistemas individuais, aumentando a potencialidade de poluição dos solos e das águas superficiais e subterrâneas.
O artigo 20 do Regimento Interno do Comitê de Gestão Comunitária de Tratamento e Abastecimento de Água Rural da Comunidade de Nossa Senhora das Graças estabelece diretrizes claras para a ligação de água e o tratamento de esgoto em áreas sem rede de esgoto disponível, em conformidade com as normas ambientais de saneamento básico.
Para locais sem rede de esgoto, é obrigatório instalar uma fossa biodigestora industrializada ou de alvenaria. Esta deve seguir o padrão da Embrapa para tratar a água escura (esgoto). A fossa biodigestora é um sistema eficiente que decompõe os resíduos orgânicos, produzindo biogás e fertilizante líquido, minimizando o impacto ambiental. Quando não há rede de esgoto nas proximidades, além da fossa biodigestora, é necessário instalar uma fossa aditiva (sumidouro). Este sistema complementa o tratamento, recebendo a água tratada pela fossa biodigestora e as águas cinzas, que incluem a água proveniente de tanques de lavar gorduras, máquinas de lavar roupas e chuveiros. O sumidouro ajuda a infiltrar a água tratada no solo, reduzindo riscos de contaminação.
A fiscalização do cumprimento destas diretrizes é realizada por membros do Comitê de Gestão Comunitária de Água. Esta fiscalização é essencial para assegurar que as normas sejam seguidas rigorosamente, promovendo a sustentabilidade e a eficiência do sistema de saneamento da comunidade.
h) Esgotamento Sanitário em Localidades Rurais
Para mitigar os riscos enfrentados pela população rural devido à inatividade das fossa-filtros nos distritos de Pequiá, Nossa Senhora das Graças, Santíssima Trindade e São João do Príncipe em Iúna, algumas medidas podem ser consideradas. Primeiramente, é essencial realizar um levantamento detalhado do estado das estruturas existentes, identificando aquelas que estão inativas ou em condições precárias. Em seguida, é fundamental promover a conscientização comunitária sobre a importância da manutenção adequada desses sistemas e dos riscos à saúde pública associados à sua inatividade.
Considerando que a prestadora de serviços de saneamento básico não atende esses pequenos distritos, uma solução viável seria fortalecer as associações comuni- tárias locais, assim como acontece em Nossa Senhora das Graças. Essas associações poderiam desempenhar um papel fundamental na gestão e operação das fossa- filtros, garantindo que sejam mantidas em funcionamento adequado. Isso inclui estabelecer procedimentos regulares de limpeza, inspeção e manutenção, além de promover treinamentos para os moradores sobre práticas seguras de uso e conservação dos sistemas.
Outra alternativa seria buscar parcerias com órgãos governamentais municipais e estaduais para apoio técnico e financeiro às associações comunitárias, visando melhorar a infraestrutura de saneamento nessas localidades rurais. Essas parcerias podem incluir programas de capacitação, acesso a recursos para manutenção e eventual ampliação dos sistemas de tratamento de esgoto, garantindo assim melhores condições de saúde e qualidade de vida para a população local.
8.1.3 Corpos Receptores de Esgoto
A Resolução CONAMA nº 430/2011 dispõe sobre a classificação dos corpos hídricos e estabelece condições e padrões de lançamento de efluentes. Segundo esta mesma resolução, os valores máximos estabelecidos para os parâmetros relaciona- dos em cada uma das classes deste enquadramento, deverão ser obedecidos nas condições de vazão de referência.
Os limites de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), estabelecidos para as águas doces de classes 2 e 3, poderão ser elevados, caso o estudo da capacidade de autodepuração do corpo receptor demonstre que as concentrações mínimas de oxigênio dissolvido (OD) previstas não serão desobedecidas nas condições de vazão de referência, com exceção da zona de mistura.
Esta resolução também estabelece que, os valores máximos admissíveis dos parâmetros relativos às formas químicas de nitrogênio e fósforo, nas condições de vazão de referência, poderão ser alterados em decorrência de condições naturais ou quando estudos ambientais específicos, que considerem também a poluição difusa, comprovem que esses novos limites não acarretarão prejuízos para os usos previstos no enquadramento do corpo d’água.
A resolução citada estabelece metas obrigatórias através de parâmetros para o lançamento de efluentes, de forma a preservar as características do corpo d’água. Para os parâmetros não inclusos nas metas obrigatórias, os padrões de qualidade a serem obedecidos são os que constam na classe na qual o corpo receptor estiver enquadrado. Na ausência de metas intermediárias progressivas obrigatórias, devem ser obedecidos os padrões de qualidade da classe em que o corpo receptor estiver enquadrado.
A Resolução CONAMA nº 430/2011, através do Artigo 21 define os padrões de lançamento, modificando os limites estabelecidos para alguns parâmetros definidos anteriormente pela Resolução nº 357/2005, e acrescenta um parágrafo onde especifica que o parâmetro nitrogênio amoniacal total não é mais aplicável em sistemas de tratamento de esgotos sanitários
Na prática, quanto aos valores estabelecidos pela Legislação Federal referente aos lançamentos de esgotamento sanitário, é fixado a taxa máxima de 120 mg/l para DBO5, sendo permitido concentração superior a essa apenas quando o sistema tiver eficiência de 60%.
·Rio Pardo
O Plano de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas do Espírito Santo estabelece metas e diretrizes para melhorar a qualidade dos recursos hídricos, incluindo o Rio Pardo no trecho urbano de Iúna. Segundo o CONAMA nº 357/05, o enquadramento atual desse trecho é classe 4, o que indica que a água não atende aos padrões para abastecimento humano sem tratamento avançado, mas pode ser usada para outros fins com controle de poluição.
Segundo a Deliberação nº 003, de 14 de maio de 2019, as metas estabelecidas visam melhorar essa condição ao longo do tempo para o trecho do Rio Pardo da sede: até 2013, pretende-se elevar o enquadramento para classe 3, indicando uma água com menos poluentes e mais próxima dos padrões necessários para tratamento convencional de abastecimento humano. E até 2039, a meta é alcançar a classe 2, que representa um corpo d'água com qualidade muito boa, podendo ser usado para abastecimento humano com tratamento convencional.
A Portaria de Outorga Nº 172, de 2023, emitida pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH), destinada ao lançamento de efluente no rio Pardo, situado na região hidrográfica do Rio Itapemirim, especificamente no município de Iúna (Fi- gura 82), estabelece os critérios e condições que devem ser rigorosamente seguidos para garantir a qualidade do efluente lançado, e garantir o enquadramento do trecho do Rio Pardo na Classe 2, incluindo a concentração máxima permitida de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e as diretrizes para diluição.
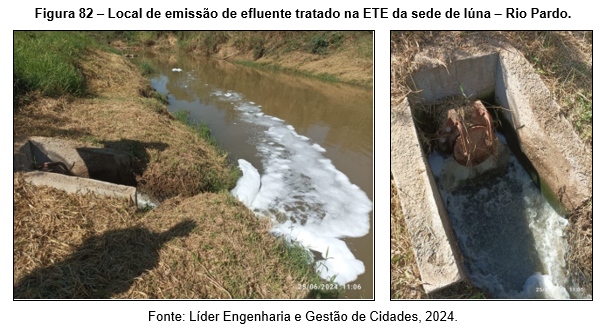
· Ribeirão Perdição
Em sua extensão urbana no distrito de Nossa Senhora das Graças recebe esgoto in natura lançado pelas residências. Como a fossa filtro do distrito está desativada o esgoto não passa por nenhum tipo de tratamento antes de ser lançado no Córrego.
· Ribeirão Trindade
No distrito de Santíssima Trindade o esgoto não recebe nenhum tipo de tratamento antes de ser lançado no Córrego, a fossa filtro existente no distrito está desativada por falta de manutenção, por esse motivo as residências lançam esgoto in natura no Ribeirão Trindade. Uma parte das residências do distrito está ligada a rede de coleta de esgoto, porém a rede faz o lançamento diretamente no Ribeirão Trindade sem passar por nenhum tratamento prévio.
· Córrego do Príncipe
No distrito de São João do Príncipe o Córrego do Príncipe recebe esgoto in natura das residências que não são ligadas a rede de esgoto. Como a Fossa Filtro do distrito atende apenas em torno de 8 residências, a maior parte do esgoto é lançado diretamente no Córrego. Esse mesmo Córrego também recebe o efluente da Fossa Filtro.
· Rio José Pedro
A Fossa Filtro existente no distrito de Pequiá está desativada, devido a esse fato todo o esgoto gerado na área urbana do distrito é lançado in natura no Rio José Pedro sem nenhum tratamento prévio.
8.1.4 Cobertura por Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário
A eficiência na prestação do serviço de esgotamento sanitário e a eficácia das políticas públicas são frequentemente avaliadas pelo indicador que mede a proporção de esgoto coletado e tratado em relação ao esgoto gerado. No entanto, não foi possível obter dados precisos sobre a quantidade de esgoto efetivamente tratado em Iúna, mesmo após análise de fontes como SIDRA e SNIS. Além disso, devido ao período inicial de atividade da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), ainda não foram fornecidos relatórios detalhados com volumes específicos de esgoto tratado em Iúna
8.1.5 Existência de lançamento da rede drenagem junto à rede de esgoto
Durante a inspeção realizada pela prestadora de serviços de saneamento básico, foram identificados dois pontos críticos de lançamento da rede de drenagem na rede de esgoto implantada. Após os levantamentos efetuados, a prestadora de serviços notificou oficialmente a Prefeitura Municipal de Iúna para que fossem tomadas as devidas providências visando à eliminação desses lançamentos.
· Trecho 01 – Rua Francisco Augusto de Castro, bairro Quilombo:
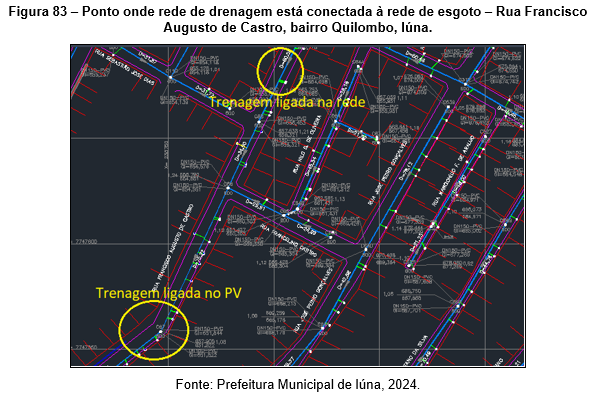
Na rua mencionada, entre os pontos de visita C-087 e C-067, foi identificado que a rede de drenagem está indevidamente conectada à rede coletora de esgoto. O ponto específico de interligação irregular ocorre no PV C-27, utilizando um tubo de DN 200mm para o lançamento direto na rede de esgoto.
· Trecho 02 – PV de Rede Reaproveitada localizada na Rua São Cristóvão, bairro Quilombo:
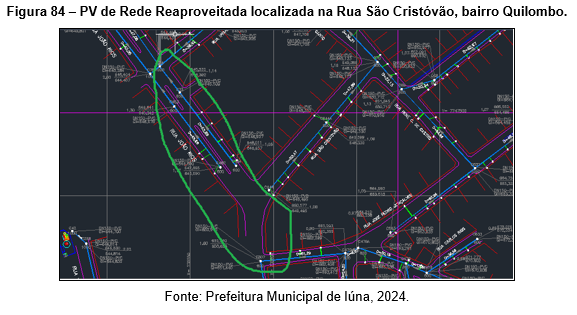
Outro ponto crítico de lançamento inadequado na rede de esgoto está localizado na Rua São Cristóvão, bairro Quilombo. Segundo informações da prefeitura, a situação observada durante inspeção revelou que o PV C-0307 dessa rede não apenas recebe esgoto, mas também água pluvial.
No local, constatou-se que recentemente foi aplicado pavimento asfáltico sobre as tampas dos pontos de visita, o que dificultou a visualização clara do destino do lançamento do PV. Essa condição impede a determinação precisa da rota final dos efluentes coletados pelo PV C-0307.
8.1.6 Áreas de Risco de Contaminação
Em todo o município de Iúna, incluindo a sede e os distritos, observa-se a ocorrência de lançamentos de esgotos in natura nos rios, ribeirões e córregos locais, especialmente no Rio Pardo e no Rio José Pedro, nos Ribeirões Perdição e Trindade, e no Córrego do Príncipe, além de outros cursos d'água que cortam o município. Adicionalmente, nas áreas rurais e também na sede do município, são utilizadas soluções individuais pouco eficientes para o tratamento de esgoto, como fossas sépticas e fossas rudimentares. Estas soluções, quando não operadas de maneira eficiente, deixam de contribuir para a saúde e segurança da população, colaborando significativamente para a degradação da qualidade dos corpos hídricos.
De acordo com a legislação ambiental, a contaminação é definida como a introdução de substâncias ou agentes que causem degradação da qualidade do meio ambiente, afetando a saúde humana, a fauna, a flora e os recursos hídricos. O lançamento de esgoto sem tratamento adequado nos corpos hídricos introduz uma variedade de poluentes, incluindo patógenos, nutrientes, produtos químicos e sólidos suspensos, que podem causar uma série de problemas ambientais e de saúde pública. A presença de esgoto in natura nos corpos d'água do município contribui para a disseminação de doenças e a degradação do meio ambiente, tornando-se uma preocupa- ção crítica para a comunidade local.
Os esgotos domésticos contêm uma vasta gama de microrganismos patogênicos, incluindo bactérias, vírus e protozoários, que podem causar doenças infecciosas. A contaminação das águas superficiais com esses patógenos aumenta o risco de surtos de doenças transmitidas pela água, como gastroenterites, hepatite A e cólera. A presença desses patógenos nos rios e córregos compromete a qualidade da água para uso recreativo e de consumo, exigindo intervenções urgentes para garantir a saúde pública.
Além dos patógenos, os esgotos não tratados são ricos em nutrientes, como nitrogênio e fósforo, que podem causar eutrofização dos corpos d'água. Esse processo leva ao crescimento excessivo de algas e plantas aquáticas, resultando na depleção de oxigênio dissolvido na água e na morte de peixes e outros organismos aqu- áticos. A eutrofização compromete a biodiversidade aquática e reduz a qualidade da água para consumo humano, pesca e recreação, exigindo medidas de controle e tratamento adequadas.
Substâncias químicas presentes nos esgotos, incluindo metais pesados, detergentes, resíduos farmacêuticos e produtos de higiene pessoal, também podem contaminar os corpos d'água. Esses contaminantes podem ser tóxicos para a vida aquática e para os seres humanos, causando efeitos adversos à saúde, como distúrbios endócrinos e câncer. A presença de sólidos suspensos nos esgotos não tratados aumenta a turbidez da água, reduzindo a penetração de luz e afetando a fotossíntese das plantas aquáticas. Esses sólidos também podem carrear outros poluentes, agra- vando a contaminação e impactando negativamente a biodiversidade aquática.
A ausência de um mapeamento preciso desses locais agrava a situação, tornando essas áreas suscetíveis a serem classificadas como de restrição ao uso da água para determinados fins, devido ao elevado risco de contaminação por patógenos e substâncias químicas lançadas nos rios, córregos e solo, ameaçando o bem-estar humano. A implementação de um sistema adequado de coleta e tratamento de esgotos, aliado ao monitoramento contínuo dos lançamentos e da qualidade dos corpos d’água, permitiria a recuperação das condições naturais desses recursos hídricos.
8.1.7 Geração atual de esgoto
A relação entre a contribuição de esgoto e o consumo de água é estreitamente interligada. Portanto, é comum utilizar o consumo per capita usado para projetos de sistemas de abastecimento de água para projetar e dimensionar adequadamente os sistemas de esgoto. No contexto dos sistemas de esgoto sanitário, no entanto, leva- se em consideração o consumo efetivo per capita, excluindo quaisquer perdas de água. O consumo per capita de água varia dependendo do local. Em áreas onde não existem dados disponíveis sobre o consumo per capita de água, a literatura sugere a adoção de valores de comunidades com características semelhantes.
Para que possa ser estabelecida a contribuição per capita de esgoto, o consumo de água efetivo per capita é multiplicado pelo coeficiente de retorno. O coeficiente de retorno é a relação entre o volume de esgotos recebido na rede coletora e o volume de água efetivamente fornecido à população de acordo com a NBR nº 9.649/1986, a qual recomenda que se adote o valor de 80% para o coeficiente de retorno.
Desta maneira, faz-se necessário estabelecer coeficientes que traduzam essas variações de contribuição para o dimensionamento das diversas unidades de um sistema de esgotamento. Assim sendo, serão determinados os seguintes coeficientes:
· K1 – coeficiente de máxima vazão diária: é a relação entre a maior vazão diária verificada no ano e a vazão média diária anual;
· K2 – coeficiente de máxima vazão horária: é a relação entre a maior vazão observada num dia e a vazão média horária do mesmo dia;
· K3 – coeficiente de mínima vazão horária: é a relação entre a vazão mínima e a vazão média anual.
Na ausência de valores obtidos através de medições, a Norma NBR nº 9.649/1986 recomenda que se utilize os valores de K1 = 1,20, K2 = 1,50 e K3 = 0,50. A Tabela 47 evidencia os valores de vazão anual do Município de Iúna para o cenário do último SNIS, datado do ano de 2022, considerando a população total atendida.
Tabela 47 – Geração atual de esgotos domésticos.
| Ano | População urbana atendida com abastecimento de água (hab) | Volume de água consumido (m³/ano) | Volume de esgoto gerado anual (m³/ano) | Volume de esgoto gerado per capita anual (m³/hab) | Volume diário per capita de esgoto gerado (m³/hab) |
| 2022 | 28.590 | 1.919.936,5 | 1.535.949,2 | 53,7 | 0,147 |
8.1.8 Estrutura de Tarifação, Receitas Operacionais, despesas de custeio e investimentos
As tarifas praticadas para os serviços de esgotamento sanitário estão detalhadas no Anexo I deste documento. Essas tarifas são estabelecidas de acordo com a resolução da Agência Reguladora de Serviços Públicos (ARSP) Nº 064/2023, que adota uma estrutura dividida em tarifa fixa e variável conforme a categoria e o porte da ligação.
As receitas operacionais são provenientes da cobrança das tarifas de esgotamento sanitário. No entanto, não foram fornecidas informações detalhadas sobre as receitas operacionais obtidas.
O indicador FN024, referente ao investimento realizado em esgotamento sanitário pelo prestador de serviços, totalizou R$ 4.369.494,70 em 2022, conforme dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). Esse indicador reflete o montante investido em melhorias e expansões do sistema de esgotamento sanitário. Os investimentos realizados na obra da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Iúna foi de R$ 13,1 milhões.
8.1.9 Análise Crítica
Nos últimos anos, Iúna tem experimentado um notável aumento nos investimentos em infraestrutura de saneamento básico, resultando na implementação de tecnologias avançadas de tratamento de esgoto na sede do município e funcionamento da ETE na sede. Apesar desses avanços significativos, a gestão e a expansão do sistema de esgotamento sanitário enfrentam desafios persistentes. Abaixo estão os pontos fortes e fracos identificados neste diagnóstico:
Pontos Fortes:
· Estação de Tratamento de Esgoto Avançada na Sede: a Estação de Trata- mento de Esgoto (ETE) de Iúna utiliza tecnologia de reator UASB, eficiente no tratamento de esgoto doméstico, com capacidade para até 36 litros por segundo;
· Investimentos Substanciais em Infraestrutura: registros de investimentos significativos, como os R$ 4.369.494,70 do FN024 em 2022, demonstram o compromisso com a expansão e melhoria contínua do sistema de esgotamento sanitário;
· Iniciativas de Gestão Comunitária: modelos de gestão comunitária em Nossa Senhora das Graças para a conexão à rede de abastecimento de água indicam potencial para serem replicados na gestão de estações de tratamento, promovendo sustentabilidade e envolvimento local.
Pontos Fracos:
· Estações de Tratamento Inativas nos Distritos: as estações de tratamento nos distritos de Pequiá, Nossa Senhora das Graças, Santíssima Trindade e São João do Príncipe encontram-se inativas, resultando no despejo de esgoto não tratado nos corpos d'água locais, impactando negativamente a saúde pública e o meio ambiente.
· Problemas de Integração entre Redes de Esgoto e Drenagem Pluvial: a mistura inadequada entre redes de esgoto e drenagem pluvial em pontos críticos causa transbordamentos durante chuvas intensas, contaminando recursos hídricos superficiais e subterrâneos.
· Disparidade de Atendimento entre Áreas Urbanas e Rurais: enquanto a área urbana possui altos índices de cobertura de esgoto, as áreas rurais enfrentam significativas deficiências, refletindo uma inequidade no acesso aos serviços de saneamento básico.
Esta análise identifica os pontos fortes que consolidam o SES de Iúna como um sistema robusto em certos aspectos, mas também destaca desafios críticos que precisam ser superados para garantir um serviço de esgotamento sanitário eficaz e igualitário em toda a região. Com base nas lacunas identificadas, serão propostas medidas mitigatórias na fase de Prognóstico.
8.1 PROGNÓSTICO DO SES
Caracterizado como o eixo com a maior necessidade de investimentos, o planejamento para o setor do esgotamento sanitário é construído com objetivo de atender toda a população de Iúna, abrangendo área urbana e a área rural.
Dentro desta política de investimentos, foi estabelecido um planejamento na ordem hierárquica, dando prioridade para as bacias de esgotamento localizadas na área urbana (onde está localizada a maioria da população e consequentemente a maior produção dos esgotos). Em um segundo momento, considerou-se a situação precária onde estão localizados os sistemas independentes (bairros e localidades sem viabilidade técnica e econômica para implementação de sistemas coletivos ou com sistemas coletivos comprometidos) depositando seus esgotos in natura nos corpos hídricos e no solo do Município de Iúna.
Observa-se que o planejamento definido para o Esgotamento Sanitário de Iúna é constituído de ações estruturais (intervenções físicas) e estruturantes (ações que são implantadas concomitantemente às ações estruturais) para que se obtenha maior efetividade ao serviço. Nota-se que diversos avanços para o sistema de esgoto dependem da adesão da população do Município e de mudanças culturais.
A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da sede do município de Iúna, gerida pela prestadora de serviços, está em funcionamento desde o início de 2024, representando um importante marco para a melhoria da infraestrutura de saneamento básico local. Contudo, a permanência de estruturas de fossas sépticas abandonadas nos distritos, sem utilização, evidencia a ausência de planejamento adequado e investimentos direcionados para essas áreas. Essa situação é agravada pelo lançamento de efluentes domésticos sem tratamento, in natura, nos corpos hídricos próximos aos distritos, gerando impactos negativos na qualidade das águas e no meio ambiente.
É fundamental ressaltar que a análise e gestão do sistema de saneamento básico são processos contínuos, sempre sujeitos a revisões e melhorias. A avaliação da eficiência operacional das ETEs, a adequação do processo de tratamento de esgoto e a ampliação da cobertura para áreas não contempladas até o momento constituem aspectos prioritários que devem ser abordados para aprimorar a gestão do saneamento no município de Iúna. A expansão dos serviços de coleta e tratamento de esgoto para os distritos, além de investimentos em educação ambiental e fiscalização, são ações que podem contribuir significativamente para a mitigação dos impactos am- bientais e para a promoção da saúde pública."
8.2..1 Projeção da Vazão Anual de Esgoto
A contribuição de esgoto está diretamente correlacionada ao consumo de água, sendo assim, utiliza-se normalmente o consumo per capita usado para projetos de sistemas de abastecimento de água para se projetar o sistema de esgotos. No sistema de esgoto sanitário, considera-se o consumo efetivo per capita, não incluindo as perdas de água, sendo o consumo per capita de água variando em função do local.
Em locais em que não há dados referentes ao consumo per capita de água, a literatura recomenda a adoção de valores de comunidades com características semelhantes, ou 120 l/hab./dia.
Para que possa ser estabelecida a contribuição per capita de esgoto, o consumo de água efetivo per capita é multiplicado pelo coeficiente de retorno. O coeficiente de retorno é a relação entre o volume de esgotos recebido na rede coletora e o volume de água efetivamente fornecido à população de acordo com a ABNT NBR nº 9.649/1986, que diz para se adotar o valor de 80% para o coeficiente de retorno.
Desta maneira, faz-se necessário estabelecer coeficientes que traduzam estas variações de contribuição para o dimensionamento das diversas unidades de um sistema de esgotamento. Assim sendo, serão determinados os seguintes coeficientes:
· K1 coeficiente de máxima vazão diária - é a relação entre a maior vazão diária verificada no ano e a vazão média diária anual;
· K2 coeficiente de máxima vazão horária - é a relação entre a maior vazão observada num dia e a vazão média horária do mesmo dia;
· K3 coeficiente de mínima vazão horária - é a relação entre a vazão mínima e a vazão média anual.
Na falta de valores obtidos através de medições, a ABNT NBR nº 9.649 recomenda o uso de K1 = 1,20, K2 = 1,50 e K3 = 0,50. Sendo assim, a Tabela 48 mostra os valores de vazão anual de esgotos da área urbana de Iúna, com a previsão para os próximos vinte anos.
Tabela 48 – Projeção da geração de esgoto doméstico em Iúna.
| Ano | População urbana atendida com abastecimento de água | Volume Consumido m³/dia | Volume de Esgoto Gerado m³/dia |
| 2024 | 17.162 | 3.157,53 | 2.526,03 |
| 2025 | 17.308 | 3.184,40 | 2.547,52 |
| 2026 | 17.454 | 3.211,26 | 2.569,01 |
| 2027 | 17.600 | 3.238,12 | 2.590,49 |
| 2028 | 17.746 | 3.264,98 | 2.611,98 |
| 2029 | 17.892 | 3.291,84 | 2.633,47 |
| 2030 | 18.039 | 3.318,89 | 2.655,11 |
| 2031 | 18.185 | 3.345,75 | 2.676,60 |
| 2032 | 18.331 | 3.372,61 | 2.698,09 |
| 2033 | 18.477 | 3.399,47 | 2.719,58 |
| 2034 | 18.623 | 3.426,33 | 2.741,07 |
| 2035 | 18.769 | 3.453,20 | 2.762,56 |
| 2036 | 18.915 | 3.480,06 | 2.784,05 |
| 2037 | 19.061 | 3.506,92 | 2.805,54 |
| 2038 | 19.207 | 3.533,78 | 2.827,02 |
| 2039 | 19.353 | 3.560,64 | 2.848,51 |
| 2040 | 19.499 | 3.587,50 | 2.870,00 |
| 2041 | 19.646 | 3.614,55 | 2.891,64 |
| 2042 | 19.792 | 3.641,41 | 2.913,13 |
| 2043 | 19.938 | 3.668,27 | 2.934,62 |
| 2044 | 20.084 | 3.695,13 | 2.956,11 |
8.2.2 Projeção do Crescimento da Rede
De acordo com dados mais recentes disponíveis no SNIS/SINISA/SINISA (2016) e fornecidos pela prefeitura de Iúna, referentes ao ano de 2023/2024, a área urbana conta com um índice de coleta de efluentes domésticos de 100%, sendo que o índice de atendimento total de esgoto era de 57,16%. Esse índice considera a população total dos municípios, tanto em áreas urbanas quanto rurais, e reflete a porcentagem de toda essa população que tem acesso ao sistema de esgotamento sanitário. Portanto, embora nas áreas urbanas o atendimento seja completo, apenas 57,16% da população total, incluindo áreas rurais e locais onde o sistema de esgoto não está disponível, tem acesso ao tratamento de esgoto.
O SES de Iúna compreende uma rede de 65 quilômetros, conectada à 4.384 ligações, resultando em 3,8 habitantes por ligação e 32,5 km de extensão de rede por ligação.
A Tabela 49 mostra o crescimento da rede coletora, baseada no crescimento populacional supracitado e nos índices de ligações/habitante e extensão/ligação encontrados.
Tabela 49 – Projeção de crescimento da rede coletora de esgoto sanitário.
| Ano | População | Ligações de esgoto | Extensão da rede (km) |
| 2024 | 17.162 | 4.494 | 66,79 |
| 2025 | 17.308 | 4.532 | 67,35 |
| 2026 | 17.454 | 4.570 | 67,91 |
| 2027 | 17.600 | 4.607 | 68,46 |
| 2028 | 17.746 | 4.645 | 69,02 |
| 2029 | 17.892 | 4.683 | 69,58 |
| 2030 | 18.039 | 4.720 | 70,14 |
| 2031 | 18.185 | 4.758 | 70,70 |
| 2032 | 18.331 | 4.796 | 71,26 |
| 2033 | 18.477 | 4.833 | 71,82 |
| 2034 | 18.623 | 4.871 | 72,38 |
| 2035 | 18.769 | 4.909 | 72,93 |
| 2036 | 18.915 | 4.946 | 73,49 |
| 2037 | 19.061 | 4.984 | 74,05 |
| 2038 | 19.207 | 5.022 | 74,61 |
| 2039 | 19.353 | 5.059 | 75,17 |
| 2040 | 19.499 | 5.097 | 75,73 |
| 2041 | 19.646 | 5.135 | 76,29 |
| 2042 | 19.792 | 5.173 | 76,85 |
| 2043 | 19.938 | 5.210 | 77,40 |
| 2044 | 20.084 | 5.248 | 77,96 |
8.2.3 Cargas de Concentração
Para se analisar o impacto da poluição e das eficácias das medidas de controle, é necessária a quantificação das cargas poluidoras afluentes ao corpo hídrico. A carga é retratada em termos de massa por unidade de tempo, podendo ser calculada por um dos seguintes métodos, dependendo do tipo de problema em análise, da origem do poluente e dos dados disponíveis.
Nos cálculos é sempre indicado converter as unidades para se trabalhar e também, sempre utilizar unidades de medida consistentes, como por exemplo, o kg/dia. Abaixo estão alguns métodos disponibilizados pelas principais literaturas para se de- terminar as cargas de concentração de esgotos:
· carga= concentração x vazão;
· carga= contribuição per capita x população;
· carga= contribuição por unidade produzida (kg/unid. produzida) x produção (unid. produzida/dia);
· carga= contribuição por unidade de área (kg/km².dia) x área (km²).
Para o cálculo da carga para esgoto doméstico comumente é utilizado as seguintes equações:
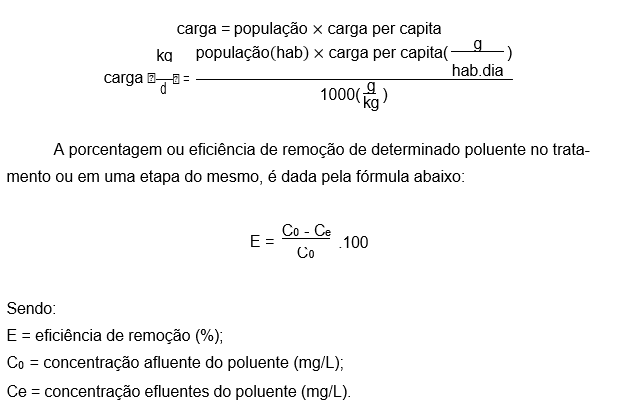
a) Matéria Orgânica – Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)
A DBO é a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica por decomposição microbiana aeróbia, para uma forma inorgânica estável. A DBO é normalmente considerada como a quantidade de oxigênio consumido durante um determinado período de tempo, em uma temperatura de incubação específica. Um período de tempo de cinco dias em uma temperatura de incubação de 20°C é frequentemente usado e referido como DBO5,20.
Os maiores aumentos em termos de DBO, num corpo d’água, são provocados por despejos de origem predominantemente orgânica. A presença de um alto teor de matéria orgânica pode induzir ao completo esgotamento do oxigênio na água, provocando o desaparecimento de peixes e outras formas de vida aquática.
Um elevado valor da DBO pode indicar um incremento da microflora presente e interferir no equilíbrio da vida aquática, além de produzir sabores e odores desagradáveis e, ainda, pode obstruir os filtros de areia utilizados nas estações de tratamento de água.
A carga de DBO expressa em kg/dia, e é um parâmetro fundamental no projeto das estações de tratamento biológico de esgotos. Dela resultam as principais características do sistema de tratamento, como áreas e volumes de tanques, potências de aeradores e etc.
A carga de DBO é produto da vazão do efluente pela concentração de DBO. No caso de esgotos sanitários, é tradicional no Brasil a adoção de uma contribuição per capita de DBO5,20 de 54 gramas por habitante por dia.
Assim sendo, apresentam-se na Tabela 50 as cargas orgânicas – DBO, previstas para o período de vigência deste Plano Municipal de Saneamento Básico, caso o serviço ofertado pelo município de coleta e tratamento coletivo de esgoto, continue atendendo um patamar de 69% de sua população.
Tabela 50 – Valores de cargas orgânicas de DBO.
| Ano | População Urbana Atendida com Coleta e Tratamento de Esgoto | Carga Orgânica (Kg de DBO/dia) |
| 2024 | 17.162 | 926,75 |
| 2025 | 17.308 | 934,63 |
| 2026 | 17.454 | 942,52 |
| 2027 | 17.600 | 950,40 |
| 2028 | 17.746 | 958,28 |
| 2029 | 17.892 | 966,17 |
| 2030 | 18.039 | 974,11 |
| 2031 | 18.185 | 981,99 |
| 2032 | 18.331 | 989,87 |
| 2033 | 18.477 | 997,76 |
| 2034 | 18.623 | 1005,64 |
| 2035 | 18.769 | 1013,53 |
| 2036 | 18.915 | 1021,41 |
| 2037 | 19.061 | 1029,29 |
| 2038 | 19.207 | 1037,18 |
| 2039 | 19.353 | 1045,06 |
| 2040 | 19.499 | 1052,95 |
| 2041 | 19.646 | 1060,88 |
| 2042 | 19.792 | 1068,77 |
| 2043 | 19.938 | 1076,65 |
| 2044 | 20.084 | 1084,54 |
b) Coliformes Termotolerantes
Para o parâmetro de concentração de Coliformes Termotolerantes, é importante destacar que esses coliformes estão amplamente presentes nas fezes humanas, com cada indivíduo eliminando uma média de 109 a 1.012 células por dia (VON SPER- LING, 2005). O critério adotado para o cálculo foi estabelecido em 1.011 células por dia por pessoa.
O tratamento realizado por um reator anaeróbio de fluxo ascendente de alta eficiência (UASB) geralmente resulta em uma remoção média de 1 a 2 unidades log de coliformes. Desta forma, a estimativa de concentração de coliformes sem tratamento está apresentada na Tabela 51.
Tabela 51 – Valores de Coliformes Termotolerantes.
| Ano | População Urbana Atendida com Coleta de Esgoto | Termotolerantes2 (org./dia) |
| 2024 | 17.162 | 1,72 |
| 2025 | 17.308 | 1,73 |
| 2026 | 17.454 | 1,75 |
| 2027 | 17.600 | 1,76 |
| 2028 | 17.746 | 1,77 |
| 2029 | 17.892 | 1,79 |
| 2030 | 18.039 | 1,80 |
| 2031 | 18.185 | 1,82 |
| 2032 | 18.331 | 1,83 |
| 2033 | 18.477 | 1,85 |
| 2034 | 18.623 | 1,86 |
| 2035 | 18.769 | 1,88 |
| 2036 | 18.915 | 1,89 |
| 2037 | 19.061 | 1,91 |
| 2038 | 19.207 | 1,92 |
| 2039 | 19.353 | 1,94 |
| 2040 | 19.499 | 1,95 |
| 2041 | 19.646 | 1,96 |
| 2042 | 19.792 | 1,98 |
| 2043 | 19.938 | 1,99 |
| 2044 | 20.084 | 2,01 |
8.2.4 Comparação de alternativas de Tratamento de Esgoto
Há dois métodos de se implementar um sistema de esgotamento sanitário, o primeiro é uma medida de sistema descentralizado, onde se implanta diversas estações de tratamento, normalmente uma para cada sub-bacia de esgotamento. Enquanto, o segundo modelo é o centralizado ou sistema convencional, onde se implanta apenas uma estação de tratamento para receber todo o efluente produzido. Desta forma, a Figura 85, Figura 86 e Figura 87 mostram estes modelos.

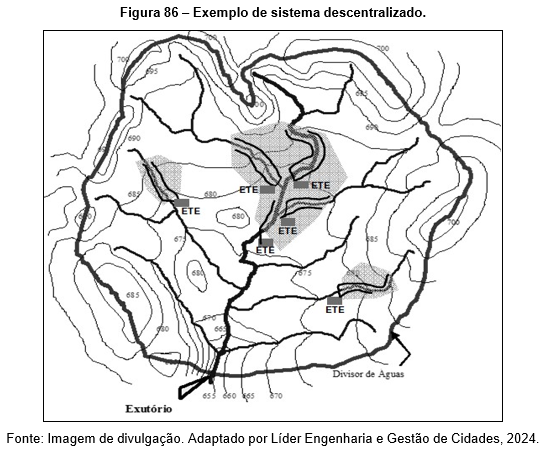
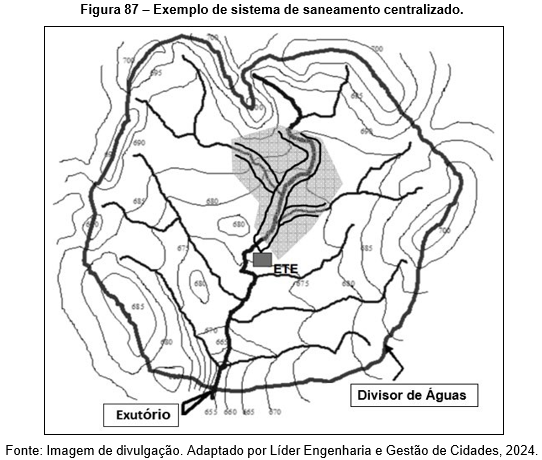
É necessário expandir a rede de coleta de esgoto de acordo com a demanda presente e futura. Isso implica na ampliação dos sistemas de coleta para abranger áreas atualmente desatendidas, assim como na adaptação da infraestrutura existente para garantir a cobertura total do município.
8.2.5 Definição de alternativas técnicas de Engenharia para o atendimento da demanda calculada
Nos projetos básicos deverão ser estudadas alternativas de tratamento, que atendam à legislação vigente quanto à classe dos mananciais que receberão os efluentes sanitários tratados.
a) Sistemas Individuais
Os sistemas individuais ou descentralizados, atendem residências unifamiliares ou um pequeno número de contribuintes, recomendado para áreas com baixa densidade populacional.
É evidente que o despejo de esgoto sanitário sem tratamento nos mananciais piora a qualidade da água, sendo de extrema importância tratar e dispor adequadamente o esgoto. Em algumas áreas, esta questão complica-se devido ao afastamento em relação às estações de tratamento de esgoto, à geografia do local, ou mesmo, à falta de infraestrutura.
Neste contexto, uma solução é a descentralização do tratamento do esgoto doméstico, com a implantação, por exemplo, de fossas sépticas, filtros e sumidouros. Desenvolvidos para atender as comunidades mais isoladas, os sistemas individuais, quando bem executados e operados, se tornam uma opção efetiva como solução sanitária para o tratamento dos efluentes domésticos. É um dos mais simples, porém eficientes, sistemas de tratamento de esgoto doméstico previsto nas Normas NBR nº 7.229 e nº 13.969, indicado para residências ou instalações localizadas em áreas não providas de rede de coleta.
Dentro desta abordagem são destacados os seguintes sistemas individuais de tratamento de esgotos, que quando operado em conjunto, atingem os níveis de tratamento exigido:
· Fossas Sépticas;
· Valas de Infiltração/Filtros;
· Sumidouro.
As fossas sépticas ou tanques sépticos, são unidades de forma cilíndrica ou prismática retangular, de fluxo horizontal, destinadas principalmente ao tratamento primário de esgotos de residências unifamiliares e de pequenas áreas não servidas por redes coletoras. No tratamento, cumprem basicamente as seguintes funções:
· Separação gravitacional dos sólidos em relação ao líquido afluente, vindo os sólidos a se constituir em lodo;
· Digestão anaeróbia e liquefação parcial do lodo;
· Armazenamento do lodo.
É de fundamental importância para o bom funcionamento dos tanques sépticos, a retirada do lodo em períodos pré-determinados pelo projeto. A falta de retirada do lodo leva a sua acumulação excessiva e à redução do volume reacional do tanque, prejudicando sensivelmente as condições operacionais do reator.
As fossas sépticas devem se distanciar da moradia em pelo menos quatro metros, a fim de evitar o mau odor, e nem muito longe para evitar tubulações muito longas.
Estruturas construídas próximas ao sanitário também tendem a evitar curvas nas canalizações, o que beneficia o bom funcionamento. Também, sugere-se a instalação em um nível mais baixo em relação ao terreno, favorecendo o escoamento.
Uma exigência importante é que este tipo de sistema seja construído longe de poços ou de qualquer outra fonte de captação de água, pelo menos trinta metros de distância, para evitar contaminações, no caso de um eventual vazamento. A Figura 88 ilustra um sistema de fossa séptica.
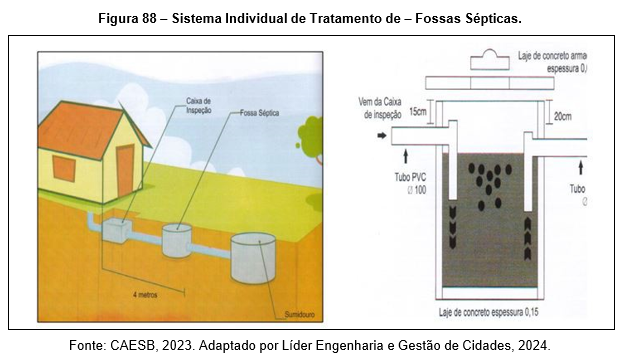
As valas de infiltração e os filtros apresentam o mesmo princípio no tratamento dos esgotos. Caracterizado como tratamento secundário, este sistema permite uma eficiência na redução da carga orgânica acima de 80%. Através da retenção das partículas de lodo formadas e arrastadas da fossa séptica, as bactérias anaeróbias se formam e se fixam na superfície do meio filtrante.
As valas de infiltração consistem na escavação de uma ou mais valas, nas quais são colocados tubos de dreno com brita ou bambu que permite ao longo do seu comprimento o escoamento do efluente proveniente da fossa séptica para dentro do solo.
O comprimento total das valas depende do tipo de solo e quantidade de efluentes a ser tratado. Em terrenos arenosos é proposto oito metros de valas por pessoa. Entretanto, para um bom funcionamento do sistema, cada linha de tubos não deve ter mais de trinta metros de comprimento. Portanto, dependendo do número de pessoas e do tipo de terreno, pode ser necessária mais de uma linha de tubos ou valas.
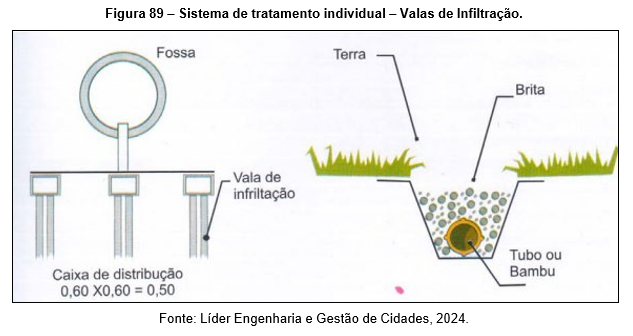
O sumidouro é um poço sem laje de fundo que permite a penetração do efluente tratado da fossa séptica no solo. O diâmetro e a profundidade dos sumidouros dependem da quantidade de efluentes e do tipo de solo. Mas não devem ter menos de um metro de diâmetro e mais de três metros de profundidade para simplificar a construção.
Os sumidouros podem ser construídos de tijolo maciço ou blocos de concreto ou ainda com anéis pré-moldados de concreto. A construção de um sumidouro começa pela sua escavação, a cerca de três metros da fossa séptica e em um nível um pouco mais abaixo, para facilitar o escoamento dos efluentes por gravidade.
A profundidade do sumidouro deve ser setenta centímetros maior que a altura final do sumidouro. Isso permite a colocação de uma camada de pedra, no fundo do dispositivo, para a infiltração mais rápida no solo e de uma camada de terra, de vinte centímetros, sobre a tampa do sumidouro.
Os tijolos ou blocos só devem ser assentados com argamassa de cimento e areia nas juntas horizontais. As juntas verticais devem ter espaçamentos (no caso de tijolo maciço) e não devem receber argamassa de assentamento, para facilitar o escoamento dos efluentes. Se as paredes forem de anéis pré-moldados, eles devem ser apenas colocados uns sobre os outros, sem nenhum rejuntamento, para permitir o escoamento dos efluentes.
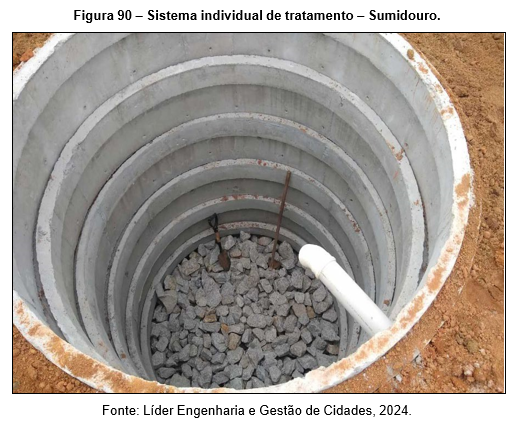
Outra possibilidade que deve ser listada para implantação nas comunidades mais afastadas é a instalação de Estações Compactas de Tratamento de Esgotos. Neste sentido, estas estações apresentam ótima eficiência do tratamento, além de apresentar as seguintes vantagens:
· Operação simples e de baixo custo;
· Alta flexibilidade operacional e de tratabilidade;
· Permite automatização rápida, simples e com baixo investimento;
· Totalmente pré-montada;
· Volume de lodo gerado inferior aos sistemas convencionais;
· Necessita apenas de uma base de concreto para apoio dos tanques;
· Área de implantação até 50% inferior aos sistemas convencionais.

Assim, a construção de programas que incentivem as comunidades mais distantes a implantarem estes sistemas, se mostra importante para as regiões que ainda não são atendidas, visto que muitas destas áreas têm os esgotos domésticos lançados a céu aberto, diretamente nos mananciais ou através de fossas rudimentares.
A implantação de sistemas de tratamento descentralizado nas residências traz melhorias significativas para a população em termos de saneamento e saúde, e diminui impactos causados ao ambiente. Esta prática deve ser incentivada e monitorada pelos órgãos municipais, prestadora de serviço de saneamento e/ou órgão fiscalizador.
Para as comunidades rurais de Iúna, recomenda-se que seja verificada a viabilidade de implementação de alternativas de baixo custo, como mostrado nos parágrafos anteriores.
a) Descrição de Tecnologias Sociais de Saneamento Básico
As Tecnologias Sociais (TS) apresentam-se como um conjunto de técnicas e metodologias que são aplicadas em determinada localidade ou região em que é evidenciada a participação ativa da comunidade com vista à solução de problemas que os afetam direta e indiretamente.
Portanto, as Tecnologias Sociais aplicadas ao saneamento básico, podem ser utilizadas por comunidades rurais, situadas em regiões com baixa oferta de infraestrutura sanitária, como por exemplo, fossa biodigestora, zona de raízes, círculo de bananeiras e bacias de evaporação para ajudar no tratamento de águas cinzas.
As águas cinzas são águas geradas a partir de processos domésticos, como, torneiras, chuveiros, lavanderias, lavatórios, que estão separados do esgoto sanitário. As águas cinzas podem representar até 80% do efluente gerado em uma edificação. A captação em redes hidráulicas separadas das águas cinzas e seu tratamento, possibilita o reuso em atividades como irrigação de áreas verdes, descargas sanitárias, lavagem de pisos entre outras atividades menos nobres.
Por outro lado, a água negra é o termo utilizado para descrever a água descar- tada que possui matéria fecal e urina. Essa classificação é devido à sua composição e a presença de contaminantes biológicos, tornando-a mais desafiadora com relação a seu tratamento.
b) Fossa Séptica Biodigestora (FSB)
A Fossa Séptica Biodigestora, desenvolvida pela Embrapa Instrumentação em 2001, representa uma tecnologia eficaz para o tratamento de água proveniente de vasos sanitários. Composta por três caixas d’água interconectadas, essa inovação promove a degradação da matéria orgânica do esgoto, convertendo-o em um
biofertilizante aplicável em certas culturas. Embora projetada para atender a uma residência com até cinco moradores, ajustes podem ser implementados para acomodar um número maior de habitantes.
O princípio fundamental da Fossa Séptica Biodigestora é a fermentação anaeróbia, conduzida por uma variedade de microrganismos presentes no próprio esgoto. Sob condições ideais de temperatura, tempo de retenção no sistema e nutrientes, esses microrganismos consomem a matéria orgânica, transformando o esgoto bruto em um efluente tratado apropriado para uso no solo como fertilizante. Esse procedimento, seguindo critérios específicos, contribui para o tratamento complementar do esgoto (tratamento terciário), envolvendo a absorção de nutrientes pelas plantas e a eliminação de microrganismos.
Todo o processo ocorre de maneira natural, sem a necessidade de energia elétrica. No início, aplica-se uma mistura mensal de cinco litros de esterco bovino fresco e cinco litros de água. O esterco bovino, contendo uma variedade de bactérias, otimiza a eficiência do tratamento, reduz odores indesejados e contribui para a qualidade do efluente produzido pelo sistema.
As duas primeiras caixas do sistema, denominadas módulos de fermentação, são os locais onde ocorre intensamente a biodigestão anaeróbia realizada pelas bactérias. A última caixa, conhecida como caixa coletora, destina-se ao armazenamento do efluente já estabilizado, pronto para ser utilizado conforme necessário. Dada a natureza modular do sistema, o número de caixas pode ser aumentado proporcionalmente ao número de moradores da residência, mantendo-se um volume mínimo de 1.000 litros para cada caixa.
Estudos indicam que é necessário adicionar uma caixa de mil litros (módulo de fermentação) para cada 2,5 pessoas adicionais na residência, a fim de preservar a eficiência do sistema. Residências rurais com menos de cinco habitantes devem utilizar no mínimo três caixas de mil litros cada. Adaptações ou volumes inferiores a mil litros não são recomendados. A Figura 92 ilustra um exemplo de Fossa Séptica Biodigestora.
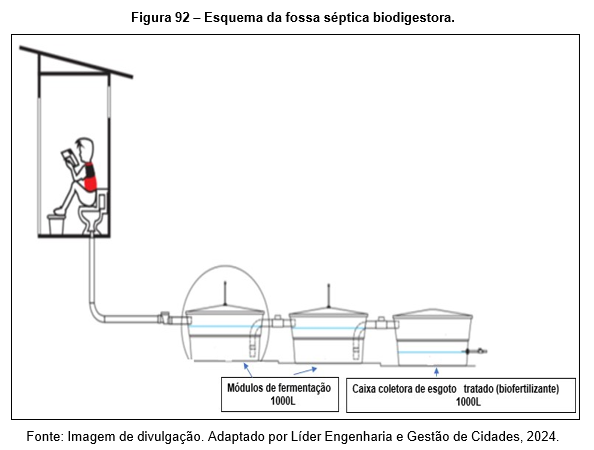
Os aspectos construtivos e de funcionamento do sistema são simples. Deve-se ter três caixas de 1.000L e tubulações de 100 mm, instrumentos para a vedação e conexões. A Figura 93 mostra um exemplo de fossa biodigestora.


d) Sistema de Zona de Raízes
O sistema de tratamento por zona de raízes utiliza plantas para o tratamento de águas residuais, promovendo a degradação das substâncias poluentes presentes na água por meio da simbiose entre as plantas, o solo e/ou substrato artificial, e microrganismos. O papel essencial das plantas é fornecer oxigênio ao solo/substrato por meio de rizomas, possibilitando o desenvolvimento de uma população densa de microrganismos responsáveis pela remoção dos poluentes da água.
Conforme observado por Tonetti et al. (2018), as unidades de tratamento por zona de raízes são aplicáveis tanto para águas cinzas quanto para esgoto doméstico previamente tratado. Os Sistemas Alagados Construídos (SAC), conhecidos internacionalmente como zonas de raízes ou wetlands, consistem em valas com paredes e fundo impermeabilizados, permitindo o alagamento com o esgoto a ser tratado. Essas valas são pouco profundas, geralmente com menos de 1,0 metro, e apresentam plantas aquáticas ou macrófitas que desempenham um papel crucial na remoção de poluentes, ao mesmo tempo em que proporcionam a fixação de microrganismos respon- sáveis pela degradação da matéria orgânica.
Os SAC comumente contêm material particulado em seu interior, como areia, brita ou seixo rolado, que serve como meio de suporte para o crescimento das plantas e dos microrganismos. A Figura 94 ilustra esquematicamente um SAC.
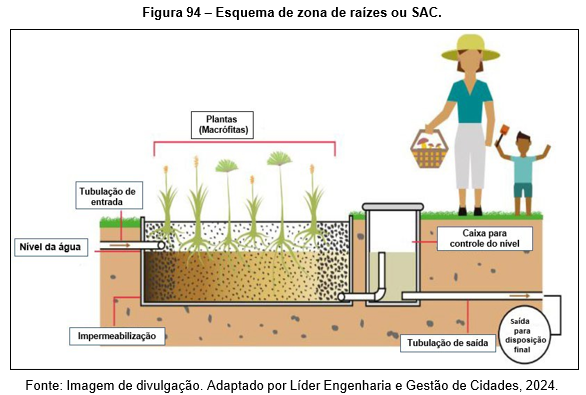
Os aspectos construtivos e operacionais do sistema são descomplicados; a zona de raízes adota uma configuração retangular, podendo ser escavada no próprio solo, manualmente ou com o auxílio de máquinas. Para garantir a impermeabilização, as paredes e o fundo devem ser revestidos com alvenaria ou mantas sintéticas. O dimensionamento das zonas de raízes é principalmente orientado pelo volume diário de esgoto a ser tratado e pela qualidade do esgoto, recomendando-se uma área média de 2 m² por pessoa e uma profundidade entre 0,6 e 1,0 m.
O fluxo do esgoto geralmente é subsuperficial, ocorrendo abaixo da superfície do material utilizado como suporte e de maneira horizontal. Nesse cenário, o esgoto é distribuído por tubos de PVC perfurados na entrada, podendo o trecho inicial ser preenchido com brita nº 3 ou 4 para prevenir obstruções.
O trecho com plantas é onde acontece a maior parte da transformação do esgoto (remoção de nutrientes e matéria orgânica). Essa zona pode ser preenchida com brita nº 1 ou 2, mas há experiências que fazem uso de areia. Por fim, o líquido tratado é coletado no extremo oposto à entrada de esgoto. Para isso, deve-se utilizar tubos de PVC perfurados localizados no fundo da vala do sistema. Esse trecho, pode ser preenchido com brita nº 3 ou 4. A Figura 95 exemplifica esse procedimento.
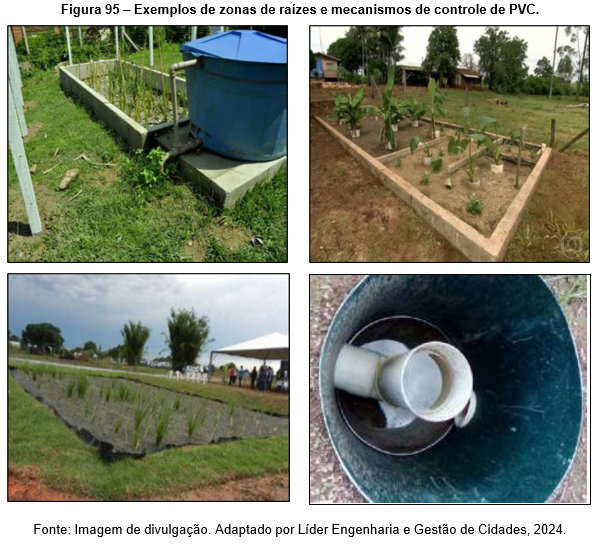
e) Círculo de Bananeiras
Unidade de tratamento destinada a águas cinzas ou como complemento ao tratamento de esgoto doméstico ou águas provenientes de vasos sanitários. Consiste em uma vala de formato circular, preenchida com galhos e palhada, por onde a tubulação direciona o fluxo. Em seu entorno, são plantadas bananeiras ou outras espécies vegetais que se adaptam a solos úmidos e ricos em nutrientes, possuindo uma significativa capacidade de evapotranspiração, promovendo a transferência da água do solo para a atmosfera. O esquema do círculo de bananeira é ilustrado na Figura 96.
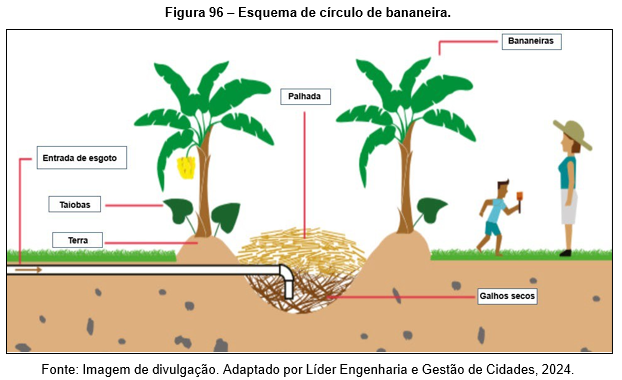
Alguns aspectos construtivos e operacionais são considerados no sistema, começando pela escavação do solo, que pode ser realizada manualmente ou com auxí- lio de máquinas. O buraco resultante não deve ser impermeabilizado ou compactado, adotando a forma de um prato fundo com uma profundidade de aproximadamente 0,5 a 1,0 m e um diâmetro interno variando entre 1,4 e 2,0 m.
No fundo do buraco, uma camada de pequenos galhos e palhada, como capim seco ou folhas secas de bananeira, é disposta para criar um ambiente arejado e espaçoso, propício para receber a água cinza a ser tratada. A entrada dessa água no buraco pode ser realizada por meio da fixação de um joelho na extremidade da tubulação, direcionando o líquido para penetrar no centro da camada de palha seca e, assim, evitando a exposição direta da água cinza. Nesse ambiente, as bananeiras absorvem a água e os nutrientes provenientes do esgoto, enquanto os resíduos orgânicos, como restos de alimentos e sabão, são decompostos pelos micro-organismos presentes no solo da vala. Exemplos adicionais de círculos de bananeira são ilustrados na Figura 97.
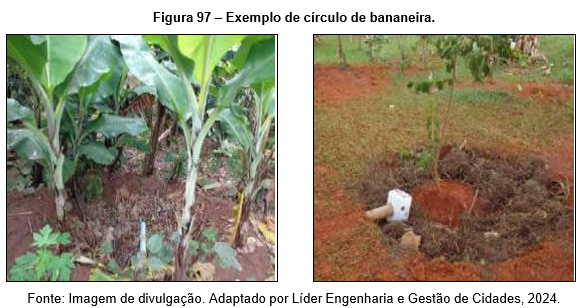
f) Bacias de Evapotranspiração ou Fossas Verdes
A Bacia de Evapotranspiração (BET), também conhecida como Fossas Verdes, representa um sistema de tratamento destinado às águas provenientes de vasos sanitários, visando a recuperação da água e dos nutrientes presentes no esgoto. A BET compreende três componentes distintos: um compartimento central destinado ao recebimento e à digestão inicial do esgoto, uma camada filtrante e uma área plantada com bananeiras.
Diversos termos são empregados para se referir a esse sistema, tais como tanque de evapotranspiração (Tevap), ecofossa, fossa biosséptica, biorremediação vegetal, fossa de bananeira e canteiro biosséptico. A Figura 98 ilustra um exemplo de bacia de evapotranspiração ou fossa verde.
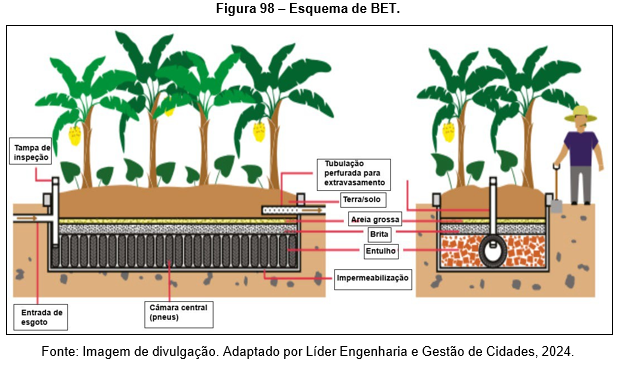
A implementação e o funcionamento do sistema iniciam-se com a escavação do solo, podendo ser realizada manualmente ou com auxílio de máquinas. O segundo passo compreende a construção de uma ampla caixa ou reservatório enterrado, onde ocorre o tratamento do esgoto. Essa caixa deve ser integralmente impermeabilizada, sem apresentar vazamentos ou permitir a entrada de água subterrânea. Diferentes métodos construtivos podem ser empregados, como alvenaria convencional, técnicas alternativas como ferro-cimento ou superadobe, e o uso de mantas de PVC ou lonas.
A entrada do esgoto no sistema ocorre por meio de uma tubulação de 100 mm que desemboca na câmara central, localizada no fundo da caixa. Essa câmara, a primeira etapa do tratamento, promove a sedimentação dos sólidos e o início da digestão do esgoto. Pneus velhos ou blocos cerâmicos vazados são materiais comumente utilizados na sua construção.
O esgoto, então, percorre as camadas filtrantes compostas por entulho, brita e areia. Nessas camadas, microrganismos anaeróbicos crescem e se desenvolvem, degradando o esgoto. Acima da camada filtrante, uma camada de terra é estabelecida, onde bananeiras, taiobas e lírios do brejo são plantados. As plantas utilizam os nutrientes presentes no esgoto para produzir novas folhas e frutos, desempenhando a função de adubos naturais. Parte da água que adentra o sistema evapora pelo solo. Outros exemplos de BET ou fossa verde são apresentados na Figura 99.

8.2.6 Ações de Emergência e Contingência para o Sistema de Esgotamento Sanitário.
Abaixo seguem as ações de emergência e contingência para este sistema.Ressalta-se que algumas das ações são exclusivas para a rede coletora.
Desta maneira, quando há um extravasamento de esgoto nas unidades do sistema e anormalidades no funcionamento das estações de tratamento de esgoto, causando prejuízos à eficiência, esses problemas colocam em risco a qualidade ambiental do município, podendo contaminar os recursos hídricos e o solo.
Diante dessas situações, tanto para interrupção da coleta de esgoto por motivos diversos quanto por rompimento de coletores, é crucial prever medidas de emergência e contingência. Assim sendo, o Quadro 19, Quadro 20, Quadro 21 e Quadro 22 apresentam as principais alternativas para ações de emergência e contingência para o sistema de esgotamento sanitário.
Quadro 19 – Ações de emergência e contingência para o extravasamento de esgoto em estações elevatórias.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 2 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO |
| EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS |
| OCORRÊNCIA | ORIGEM | AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA |
| Interrupção no fornecimento de energia elé trica nas instalações de bombeamento. | Comunicar companhia de energia elétrica. | |
| Acionar gerador alternativo de energia. | ||
| Comunicar a prestadora. | ||
| Instalar tanques de acumulação do esgoto extravasado com o objetivo de evitar contaminação do solo e água. | ||
| Extravasamento de esgoto nas lagoas aeradas e facultativas. | Danificação de equipamentos eletromecânicos ou estruturas. | Comunicar a Prefeitura sobe os problemas com os equipamentos e a possibilidade de ineficiência e paralisação das unidades de tratamento. |
| Comunicar a prestadora. | ||
| Instalar equipamentos reserva. | ||
| Ações de vandalismo. | Comunicar o ato de vandalismo à Polícia local. | |
| Comunicar a prestadora. | ||
| Executar reparo das instalações danificadas com urgência. |
Quadro 20 – Ações de emergência e contingência para o rompimento de linhas de recalque, coletores, interceptores e emissários.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 2 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO |
| EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS |
| OCORRÊNCIA | ORIGEM | AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA |
| Desmoronamento de taludes ou paredes de canais. | Executar reparo da área danificada com urgência. | |
| Comunicar a prestadora. | ||
| Sinalizar e isolar a área como meio de evitar acidentes. | ||
| Rompimento de linhas de recalque, coletores, interceptores e emissários. | Erosões de fundo de vale. | Comunicar a prestadora. |
| Executar reparo da área danificada com urgência. | ||
| Rompimento de pontos para travessia de veículos. | Comunicar aos órgãos de controle ambiental sobre o rompimento em alguma parte do sistema de coleta de esgoto. | |
| Comunicar as autoridades de trânsito sobre o rompimento da travessia. | ||
| Sinalizar e isolar a área como meio de evitar acidentes. | ||
| Comunicar a prestadora. | ||
| Executar reparo da área danificada com urgência. |
Quadro 21 – Ações de emergência e contingência para ocorrências de retorno de esgoto em imóveis.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 2 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO |
| EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS |
| OCORRÊNCIA | ORIGEM | AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA |
| Obstrução em coletores de esgoto. | Comunicar a prestadora. | |
| Isolar o trecho danificado do restante da rede com o objetivo de manter o atendimento de áreas não afetadas pelo rompimento. | ||
| Executar reparo das instalações danificadas com urgência. | ||
| Ocorrência de retorno de esgoto nos imóveis. | Lançamento indevido de águas pluviais na rede coletora de esgoto. | Executar trabalhos de limpeza e desobstrução. |
| Executar reparo das instalações danificadas. | ||
| Comunicar à Vigilância Sanitária e à Secretaria Municipal de Obras. | ||
| Comunicar a prestadora. | ||
| Ampliar a fiscalização e o monitoramento das redes de esgoto e de captação de águas pluviais com o objetivo de identificar ligações clandestinas, regularizar a situação e implantar sistema de cobrança de multa e punição para reincidentes. |
Quadro 22 – Ações de emergência e contingência para vazamentos e contaminação de solo, curso hídrico ou lençol freático por fossas.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 2 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO |
| EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS |
| OCORRÊNCIA | ORIGEM | AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA |
| Rompimento, extravasamento, vaza- mento e/ou infiltração de esgoto bruto por ineficiência de fossas. | Comunicar a prestadora e a Prefeitura Municipal. | |
| Promover o isolamento da área e contenção do resíduo com objetivo de reduzir a contaminação. | ||
| Vazamentos e contaminação de solo, curso hídrico ou lençol freático por fossas. | Conter vazamento e promover a limpeza da área com caminhão limpa fossa, encaminhando o resíduo para a estação de tratamento de esgoto. | |
| Exigir a substituição das fossas negras por fossas sépticas e sumidouros ou ligação do esgoto residencial à rede pública nas áreas onde existe esse sistema. | ||
| Construção de fossas inadequadas e ineficientes. | Implantar programa de orientação da comunidade em parceria com a prestadora quanto à necessidade de adoção de fossas sépticas em substituição às fossas negras e fiscalizar se a substituição e/ou desativação está acontecendo nos padrões e prazos exigidos. | |
| Inexistência ou ineficiência do monitoramento. | Ampliar o monitoramento e fiscalização destes equipamentos na área urbana e na zona rural, em parceria com a prestadora, principalmente das fossas localizadas próximas aos cursos hídricos e pontos de captação subterrânea de água para consumo humano. |
8.2.7 Objetivos, Metas, Programas, Projetos e Ações para o SAA
Os objetivos visando a universalização e melhoria na qualidade dos serviços relacionados ao sistema de tratamento de esgoto em Iúna foram organizados em tabelas sínteses. Essas tabelas apresentam, de forma setorial e por objetivo, os programas, projetos e ações delineados para alcançar esses propósitos.
Nestas tabelas, as propostas são dispostas de maneira a permitir análises tanto em escala macro quanto micro. A estrutura segue uma sequência lógica, começando pela fundamentação dos objetivos, seguida das metas estabelecidas para diferentes prazos de projeto, os programas, projetos e ações necessários para atingir essas metas, e, por fim, os métodos de acompanhamento que servirão como indicadores de sucesso nas tarefas. Dessa forma, apresentam-se a seguir os objetivos delineados para o Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Iúna.
Insta salientar que os valores estimados para as obras supracitadas devem ser corrigidos de acordo com a inflação dado o lapso temporal desde sua elaboração até a conclusão dos processos de licitação e execução propriamente dita dos projetos.
Diante do exposto é racionalmente mais lógico que o planejamento de novos projetos de esgotamento sanitário tenha como escopo a população urbana, almejando assim a universalização da coleta e tratamento até 2044.
· Objetivo 1 – Implementação do Programa de Educação Ambiental;
· Objetivo 2 – Ampliar e Aprimorar o Sistema Urbano de Esgotamento Sanitário;
· Objetivo 3 – Ampliar e Aprimorar os Sistemas Rurais de Esgotamento Sanitário.
Tabela 52 – Síntese do objetivo 1.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 2 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO |
| OBJETIVO | 1 | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL |
| FUNDAMENTAÇÃO | A base para qualquer projeto na área de saneamento é a Educação Ambiental, quanto mais consciente o cidadão melhor será o local onde ele vive. Isto independe de sua condição financeira, da sua cor, da sua raça ou do seu credo. População bem educada evita o desperdício, reutiliza a água, não polui mananciais e principalmente, cobra uns dos outros e do Poder Público para garantir a qualidade da água para as futuras gerações. Sendo assim, pouco foi informado de Programas de Educação Ambiental para crianças, jovens ou adultos em Iúna relacionado as questões do esgotamento sanitário do município. Se faz necessário então, a adoção de práticas que estabeleçam programas como este voltado para toda a população, atendendo aos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei nº 9.433/1997. |
| MÉTODO DE ACOMPANHAMENTO (INDICADOR) | Número de ações realizadas, número de pessoas impactadas, histórico do macromedidor, histórico do consumo de energia elétrica no sistema do SES e qualidade da água de rios e córregos da região. |
| METAS |
| IMEDIATO - ATÉ 3 ANOS | CURTO - 4 A 8 ANOS | MÉDIO PRAZO - 9 A 12 ANOS | LONGO PRAZO - 13 A 20 ANOS |
| - Programa de Educação Ambiental voltado para a importância sanitária da coleta e tratamento de esgoto para a preservação de rios, córregos e nascentes. | -Manter o programa de Educação Ambiental | -Manter o programa de Educação Ambiental | -Manter o programa de Educação Ambiental. |
| PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES (R$) |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PRAZOS | POSSÍVEIS FONTES | MEMÓRIA DE CÁLCULO |
| IMEDIATO | CURTO | MÉDIO | LONGO | ||||
| 2.1.1 | Implementar projeto de educação ambiental com a temática da importância sanitária da coleta e tratamento dos esgotos. | R$ 40.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 80.000,00 | RP - FPU - FPR | 1º ano 20.000 + 10mil/ano até o 20º ano. |
| 2.1.2 | Implementar projeto de educação ambiental com a temática de aplicação de tecnologias sociais do saneamento rural. | R$ 40.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 80.000,00 | RP - FPU | 1º ano 20.000 + 10mil/ano até o 20º ano. |
| TOTAIS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES | R$ 80.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 160.000,00 | TOTAL DO OBJETIVO | R$ 420.000,00 |
Tabela 53 – Síntese do objetivo 2.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 2 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO |
| OBJETIVO | 2 | AMPLIAR E APRIMORAR O SISTEMA URBANO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |
| FUNDAMENTAÇÃO | De acordo com o SNIS/SINISA (2016), o Sistema de Esgotamento Sanitário de Iúna atende 100% da população urbana. No entanto, é necessário um planejamento contínuo para garantir novas ligações e ampliações, acompanhando o crescimento urbano. Além disso, a manutenção preventiva da rede coletora e sua extensão para áreas ainda não atendidas são essenciais para preservar a eficiência do sistema e promover a universalização dos serviços. |
| MÉTODO DE ACOMPANHAMENTO (INDICADOR) | 1. Índice de atendimento urbano com coleta e tratamento de esgoto, que corresponde ao percentual da população urbana atendida com coleta e tratamento de esgoto em relação a população urbana total. 2. Identificação da implementação da ação. |
| METAS |
| IMEDIATO - ATÉ 3 ANOS | CURTO - 4 A 8 ANOS | MÉDIO PRAZO - 9 A 12 ANOS | LONGO PRAZO - 13 A 20 ANOS |
| -Fiscalização de ligações irregulares;- Manutenção do SES;-Ampliar o SES. | -Fiscalização de ligações irregulares;- Manutenção do SES;-Ampliar o SES. | -Fiscalização de ligações irregulares;-Ampliar o SES.-Manutenção do SES; | -Manutenção do SES; -Ampliar o SES. |
| PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES (R$) |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PRAZOS | POSSÍVEIS FONTES | MEMÓRIA DE CÁLCULO |
| IMEDIATO | CURTO | MÉDIO | LONGO | ||||
| 2.1.1 | Implantar programa de combate a ligações irregulares na rede de esgoto, utilizando a Vigilância Sanitária. | R$103.500,00 | R$172.500,00 | R$138.000,00 | R$276.000,00 | AA - RP | R$ 34.500,00/ Ano |
| 2.1.2 | Ampliar a rede de distribuição de esgoto em 9,49 km (imediato: 1,11 km; curto prazo: 2,23 km; médio: 1,67 km; longo: 4,47 km) | R$66.600,00 | R$133.800,00 | R$100.200,00 | R$268.200,00 | RP - FPU | Distância (m)*R$60,00/m |
| 2.1.3 | Realizar 641 novas ligações (imediato: 75; curto prazo: 151; médio:113; longo: 301) | R$ 12.450,00 | R$ 25.066,00 | R$ 18.758,00 | R$ 49.966,00 | RP - FPU | nº de novas liga- ções *R$166,00/lig |
| 2.1.4 | Planejamento municipal com o objetivo de manter a infraestrutura adequada do SES ao longo dos anos, propondo melhorias contínuas para que toda a população seja atendida com o serviço. | - | - | - | - | AA | - |
| 2.1.5 | Manutenção do SES | R$527.677,65 | R$909.157,58 | R$754.057,50 | R$1.579.364,29 | FPU - RP | (população atendida * custo global médio por habitante para o SES * taxa de manutenção de 1,25% a.a.) |
| TOTAIS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES | R$710.227,65 | R$1.240.523,58 | R$1.011.015,50 | R$2.173.530,29 | TOTAL DO OBJETIVO | R$5.135.297,01 |
Tabela 54 – Síntese do objetivo 3.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 2 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO |
| OBJETIVO | 3 | AMPLIAR E APRIMORAR O SISTEMA URBANO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |
| FUNDAMENTAÇÃO | Ações de esgotamento sanitário executadas por meio de soluções individuais não constituem serviço público de saneamento. No entanto, como uma das diretrizes da Política de Saneamento Básico, deve-se garantir meios adequados para atendimento da população rural dispersa. Dessa forma, tendo em vista a manutenção da qualidade de vida das presentes e futuras gerações e o risco de contaminação do meio ambiente devido à práticas inadequadas de destino de esgoto doméstico, o Município deve criar mecanismos de assis- tência para maior controle dos sistemas individuais de esgotamento sanitário. Além disso, devem ser fiscalizados os estabelecimentos rurais que geram efluentes não domésticos, criando diretrizes que obriguem estes a implantar soluções individuais eficazes de tratamento. |
| MÉTODO DE ACOMPANHAMENTO (INDICADOR) | Identificação da implementação do programa. |
| METAS |
| IMEDIATO - ATÉ 3 ANOS | CURTO - 4 A 8 ANOS | MÉDIO PRAZO - 9 A 12 ANOS | LONGO PRAZO - 13 A 20 ANOS |
| -Criar programa de assistência a população para construção adequada de sistemas individuais de es- gotamento sanitário. | -Implantar programa de assistência a população que utiliza de soluções individuais de esgotamento sanitário. | - Acompanhar a implantação dos siste- mas de esgotamento sanitário individuais, bem como o tratamento de seus efluentes; -Fiscalização dos estabelecimentos geradores de efluentes não domésticos. | -Acompanhar a implantação dos sistemas de esgotamento sanitário indi- viduais, bem como o tratamento de seus efluentes;-Fiscalização dos estabelecimen- tos geradores de efluentes não domésticos. |
| PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES (R$) |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PRAZOS | POSSÍVEIS FONTES | MEMÓRIA DE CÁLCULO |
| IMEDIATO | CURTO | MÉDIO | LONGO | ||||
| 2.3.1 | Criar e implantar programa de assistência aos sistemas individuais de esgotamento sanitário, adotados como solução na zona rural, a fim de orientar quanto a construção e manutenção adequada dos mesmos minimizando o risco de contaminação ambiental. | R$ 60.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 160.000,00 | AA - RP | 200 HS x R$100,00 |
| 2.3.2 | Criar exigência legal de implantação de sistemas de tratamento individual para efluentes não domésti- cos, criando sistema eficiente de fiscalização dos estabelecimentos geradores, a fim de minimizar o risco de contaminação ambiental. | R$ 24.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 32.000,00 | R$ 64.000,00 | AA - RP | 100 HS x R$80,00 |
| 2.3.3 | Implantar programa de monitoramento dos corpos receptores do efluente, para adoção de medidas preventivas e corretivas evitando a alteração das características naturais dos corpos d'água | R$ 2.307.500,00 | R$ 3.843.500,00 | R$ 3.075.500,00 | R$ 6.147.500,00 | AA - RP | R$ 350,00/análise frequência quin- zenal + 9600 HS x R$ 80,00 Técnico |
| 2.3.4 | Fiscalizar os estabelecimentos geradores de esgoto sanitário não doméstico, através da responsa- bilidade compartilhada. | R$ 30.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 80.000,00 | AA - RP | R$10.000/Ano |
| 2.3.5 | Controlar e orientar a desativação de fossas em conjunto com a ligação à rede coletora (atuais e futuras), realizando estudos sobre a viabilidade de aproveitamento da fossa para infiltração de águas pluviais. | R$ 30.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 80.000,00 | AA - RP | R$10.000/Ano |
| TOTAIS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES | R$ 2.451.500,00 | R$ 4.083.500,00 | R$ 3.267.500,00 | R$ 6.531.500,00 | TOTAL DO OBJETIVO | R$ 16.334.000,00 |
8.2.8 Análise Econômica
O Plano Municipal de Saneamento Básico de Iúna prevê um investimento total de R$ 21.889.297,01 no setor de esgotamento sanitário. Esse montante será distribuído entre ações de educação ambiental, ampliação e aprimoramento do sistema de esgoto urbano, e expansão dos sistemas rurais, com prazos de execução imediatos, de curto, médio e longo prazo, visando melhorar a cobertura e a eficiência dos serviços de saneamento no município.
O Gráfico 18 e Tabela 55 apresentam a estimativa dos investimentos necessários separados por prazo de execução para o setor de esgotamento sanitário.
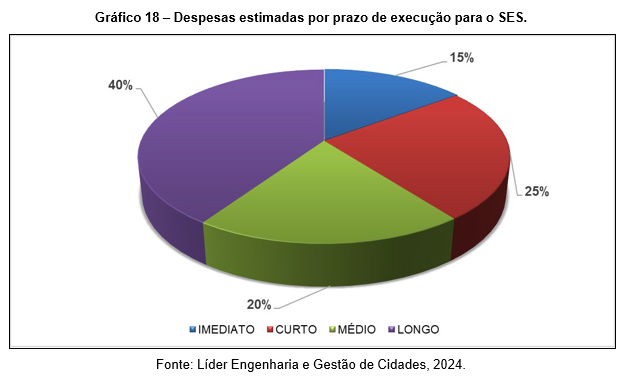
Tabela 55 – Síntese dos totais dos valores estimados para o SES.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 2 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO |
| PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES - TOTAIS DOS VALORES ESTIMADOS |
| OBJETIVOS | PRAZOS | TOTAL GERAL |
| IMEDIATO | CURTO | MÉDIO | LONGO | ||
| IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | R$ 80.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 160.000,00 | R$ 420.000,00 |
| AMPLIAR E APRIMORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | R$ 710.227,65 | R$ 1.240.523,58 | R$ 1.011.015,50 | R$ 2.173.530,29 | R$ 5.135.297,01 |
| AMPLIAR E APRIMORAR OS SISTEMAS RURAIS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | R$ 2.451.500,00 | R$ 4.083.500,00 | R$ 267.500,00 | R$ 6.531.500,00 | R$ 16.334.000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 3.241.727,65 | R$ 5.424.023,58 | R$ 4.358.515,50 | R$ 8.865.030,29 | R$ 21.889.297,01 |
9 SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - SLUMRS
9.1 DIAGNÓSTICO DO SLUMRS
O Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (SLUMRS) é uma estrutura organizacional e operacional que abrange todas as etapas do manejo dos resíduos sólidos em áreas urbanas.
Suas atividades incluem a coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos, visando à redução dos impactos ambientais e à promoção da saúde pública. A coleta pode ser realizada por meio de diferentes modalidades, como coleta porta a porta, contêineres em vias públicas ou pontos de entrega voluntária. Após a coleta, os resíduos são transportados para as unidades de tratamento ou disposição final, onde passam por processos como compostagem ou reciclagem, antes de serem destinados a aterros sanitários ou usinas de incineração.
Além das atividades operacionais, o SLUMRS também envolve ações de educação ambiental e conscientização da população sobre a importância da separação dos resíduos e prática da reciclagem. Políticas públicas são implementadas para promover a gestão sustentável dos resíduos sólidos e garantir o cumprimento de normas técnicas e ambientais.
O diagnóstico da situação dos Resíduos Sólidos (RS) gerados em Iúna teve como objetivo identificar e analisar os principais fluxos de resíduos no município, assim como seus impactos socioeconômicos e ambientais. Para isso, foi essencial compreender os resíduos gerados em termos de origem, volume, características e formas de destinação e disposição final adotadas na região.
O trabalho foi realizado por meio da obtenção de dados secundários, complementados por informações primárias coletadas em visitas técnicas ao município e consultas com as partes envolvidas no processo de gerenciamento de resíduos. Os dados foram compilados e analisados juntamente com informações de diversas fontes, como instituições governamentais, de pesquisa, acadêmicas, entidades representativas do setor, prefeituras, geradores e empresas envolvidas no gerenciamento dos resíduos.
Para subsidiar o desenvolvimento de ações específicas para o gerenciamento e a gestão dos resíduos, foi importante identificar as tipologias de resíduos gerados no município, seguindo a classificação segundo a origem definida na Lei nº 12.305/2010. Conforme estabelecido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), é prioritário promover a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, além da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
O propósito central desse levantamento é fornecer uma visão sólida e orientada para a tomada de decisões, fundamentando estratégias futuras para o sistema de gestão de resíduos sólidos em Iúna, que será apresentada posteriormente neste trabalho, contribuindo para uma abordagem mais eficaz e sustentável.
9.1.1 Classificação dos resíduos sólidos
A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, em seu Artigo 3º, define resíduos sólidos da seguinte forma:
“Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (PNRS nº 12.305/ 2010)”.
Os resíduos sólidos podem ser classificados de acordo com a sua origem, tipo, composição química e periculosidade. Enquanto que a sua caracterização tem por objetivo determinar a sua composição físico/química. A classificação dos resíduos é necessária para a obtenção de informações sobre seus potenciais riscos ambientais e de saúde pública (PNRS nº 12.305/ 2010).
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), na NBR 10.004, define como Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.
A NBR nº 10.004/04 estabelece ainda a metodologia de classificação dos resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública. Sendo assim, o Resíduo Classe I, ou Resíduo Perigoso, é o resíduo que apresenta característica de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade.
No que se refere ao Resíduo Classe II, considerado Não-Perigoso, estão inseridos os Resíduos Não-Inertes (II A) e Inertes (II B). Os resíduos Não-Inertes são aqueles que podem apresentar propriedades como combustibilidade, biodegradabilidade e solubilidade em água, geralmente são os resíduos úmidos, orgânicos. Os resíduos Inertes, por outro lado, são aqueles que não se enquadram em nenhuma das classificações anteriores, sendo fortemente representados pelos resíduos recicláveis.
A PNRS (BRASIL, 2010) em seu Art. 13º apresenta uma relação com as definições para as diferentes tipologias de resíduos sólidos considerando critérios de origem e periculosidade. Já a ABNT NBR nº 10.004:2004 (ABNT, 2004) segrega os resíduos segundo suas características físicas, químicas e riscos. O quadro a seguir resume essa classificação exposta anteriormente.
Quadro 23 – Definições acerca das diferentes tipologias de resíduos sólidos envolvidos no diagnóstico.
| Definição | Critério | Classe | Descrição |
| PNRS | Origem | Resíduos domiciliares - a | Os originários de atividades domésticas em residências urbanas |
| Resíduos de limpeza urbana - b | Os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana | ||
| Resíduos sólidos urbanos - c | Os englobados nas alíneas “a” e “b” | ||
| Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços - d | Os gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j” | ||
| Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico - e | Os gerados nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “c” | ||
| Resíduos industriais - f | Os gerados nos processos produtivos e instalações industriais | ||
| Resíduos de serviços de saúde - g | Os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS | ||
| Resíduos da construção civil - h | Os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis | ||
| Resíduos agrossilvopastoris - i | Os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades | ||
| Resíduos de serviços de transportes - j | Os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira | ||
| Resíduos de mineração - k | Os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios | ||
| Periculosidade | Resíduos perigosos - a | Aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica | |
| Resíduos não perigosos - b | Aqueles não enquadrados na alínea “a” | ||
| ABNT | Riscos | Resíduos Classe I (perigosos) | São aqueles cujas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas podendo acarretar em riscos à saúde pública e/ou riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada.São representados por aqueles contidos nos Anexos A e B da ANBT NBR 10.004:2004 ou apresentar uma ou mais das seguintes características: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxidade e patogenicidade |
| Resíduos Classe II-A (não inertes) | Aqueles que não se enquadram nas classificações de resíduos de Classe I ou resíduos de Classe II-B. Podem ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água | ||
| Resíduos Classe II-B (inertes) | Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma representativa, segundo a ABNT/NBR 10.007:2004, e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou desionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT/NBR 10.006:2004, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspec- tos, cor, turbidez, dureza e sabor, conforme Anexo G |
Resíduos Domésticos (RDO), também conhecidos como resíduos sólidos urbanos, são os materiais descartados que têm origem nas atividades cotidianas realizadas em residências, além de atividades de limpeza pública, como varrição. Esses resíduos podem ser bastante variados e abranger uma ampla gama de materiais, desde restos de comida e resíduos orgânicos até embalagens, papel, plástico, vidro, metais e até mesmo produtos eletrônicos obsoletos.
Os Resíduos Domésticos podem ser segregados em diferentes categorias para facilitar o seu manejo e tratamento, incluindo resíduos orgânicos, recicláveis e não recicláveis. No Brasil, a gestão dos Resíduos Domésticos é regulada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/2010, que estabelece diretrizes e instrumentos para o manejo adequado dos resíduos sólidos em todo o país.
Os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) apresentam uma diversidade de características físicas e químicas que influenciam diretamente em seu tratamento e destinação adequados. Os resíduos secos, que compreendem uma parcela significativa desses materiais, são passíveis de reciclagem devido à sua composição, que inclui plásticos, papéis, metais, vidros, entre outros materiais passíveis de reaproveitamento. Por outro lado, os resíduos úmidos consistem principalmente em materiais orgânicos não recicláveis, como restos de alimentos e outros resíduos de origem biológica. Quanto às características químicas, os resíduos orgânicos são compostos por restos de animais ou vegetais descartados de atividades humanas, enquanto os resíduos inorgânicos englobam materiais sem origem biológica, como a fração seca dos resíduos urbanos produzidos por atividades antrópicas.
Resíduos de serviço de saúde (RSS), também chamado de resíduos médicos ou resíduos biológicos, são materiais que tem potencial de causar riscos à saúde humana e meio ambiente, devido ao seu caráter infeccioso, tóxico ou perigoso. Esses resíduos são produzidos principalmente em instalações de assistência à saúde, como hospitais, clínicas médicas, laboratórios, consultórios odontológicos e farmácias, e incluem uma variedade de materiais, desde agulhas e luvas até produtos químicos e produtos farmacêuticos vencidos.
No Brasil, a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 306/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é a principal norma que regula o gerencia- mento dos resíduos de serviços de saúde. Esta resolução estabelece diretrizes e procedimentos para o manejo seguro dos RSS, incluindo a classificação, segregação, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final.
O RSS é dividido em cinco grupos distintos. O Grupo A abrange componentes com possível presença de agentes biológicos altamente virulentos, apresentando risco de infecção, como placas de laboratório e bolsas transfusionais. O Grupo B con- siste em substâncias químicas que podem representar riscos à saúde pública ou ao meio ambiente, como medicamentos e resíduos com metais pesados. Por fim, o Grupo C engloba materiais com radionuclídeos em quantidades que excedem os limites de eliminação estabelecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, como resíduos de medicina nuclear e radioterapia. O Grupo D consiste em resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, sendo equiparados aos resíduos domiciliares. Exemplos incluem sobras de alimentos, resíduos das áreas administrativas, entre outros. Por fim, o Grupo E engloba materiais perfurocortantes ou escarificantes, como lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, espátulas e itens similares.
Os Resíduos Sólidos Industriais (RSI), também chamados de resíduos industriais, são materiais que resultam das atividades de fabricação, processamento, manutenção ou operação de instalações industriais. Esses resíduos podem incluir uma ampla variedade de substâncias, como sobras de matérias-primas, produtos químicos utilizados nos processos de produção, materiais de embalagem, resíduos de manutenção e limpeza, entre outros.
A Resolução que trata dos Resíduos Sólidos Industriais (RSI) é a Resolução CONAMA nº 313/2002. Esta norma estabelece critérios e diretrizes para o licencia- mento ambiental de estabelecimentos destinados ao gerenciamento de resíduos sóli- dos industriais, incluindo sua coleta, transporte, armazenamento, tratamento, aprovei- tamento e disposição final.
Além disso, a Resolução CONAMA nº 313/2002 define procedimentos para o licenciamento de empresas que realizam atividades relacionadas à gestão de RSI, visando a proteção do meio ambiente e da saúde pública.
A composição e as características dos RSI podem variar significativamente de acordo com o tipo de indústria e os processos específicos envolvidos. Por exemplo, na indústria química, os resíduos podem conter substâncias tóxicas ou perigosas, enquanto na indústria alimentícia, os resíduos podem consistir principalmente em restos de alimentos e embalagens.
As resoluções do CONAMA n. 307, 348, 431 e 448, respectivamente dos anos 2002, 2004, 2011 e 2012, estabelecem as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Segundo a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), os resíduos da construção civil (RCC), também denominados resíduos de construção e demolição (RCD), são definidos como os resíduos gerados em construções, reformas, reparos e demolições de obras civis, incluindo a preparação de terrenos.
A Resolução CONAMA nº 307/2002 classifica os RCC em quatro classes distintas. A Classe A abrange resíduos reutilizáveis ou recicláveis, como agregados, enquanto a Classe B inclui materiais recicláveis, como plásticos, papel, metais e gesso. Os resíduos para os quais não existem tecnologias ou aplicações viáveis para reciclagem ou recuperação são classificados como Classe C, enquanto os resíduos perigosos oriundos do processo de construção são categorizados como Classe D. Essa distinção permite destacar a importância da segregação e triagem dos resíduos nos locais de geração, bem como apresentar formas de acondicionamento e manejo diferenciadas nos canteiros de obras para valorização desses materiais.
9.1.2 Caracterização Operacional do SLUMRS
A legislação municipal determina que o gerenciamento de resíduos sólidos pode ser realizado diretamente pela Prefeitura ou por meio de concessão a empresas privadas. Essa legislação também aborda a fiscalização, as sanções e as penalidades para os cidadãos que não seguem as normas relacionadas à coleta seletiva e à preservação do ambiente limpo.
O Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (SLUMRS) em Iúna é caracterizado por uma divisão de responsabilidades entre a municipalidade e empresas privadas contratadas para a prestação de serviços específicos.
A coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD) é realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, em conjunto com a ASCOMRI - Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do Município de Iúna.
O transbordo dos resíduos sólidos é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública, enquanto o transporte e a destinação final dos resíduos sólidos domiciliares são realizados pela Secretaria Municipal de Infraes- trutura e Serviços Urbanos e, em parceria com a ASCOMRI.
A Figura 100 mostra como é feito o manejo dos serviços de limpeza pública em Iúna, por parte da Secretaria de Meio Ambiente e Limpeza Pública.
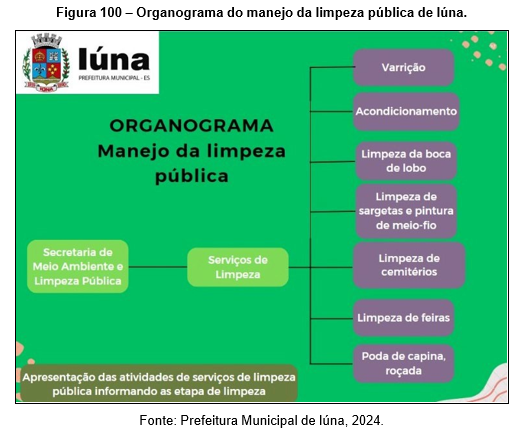
Para os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), a coleta é feita pela empresa Florestal Coletas e Prestação de Serviços LTDA., que também é responsável pelo transporte e destinação final desses resíduos. Não há atividades de transbordo de resíduos de serviços de saúde.
A Figura 101 mostra como é feita a coleta e destinação e/ou disposição final dos resíduos em Iúna.
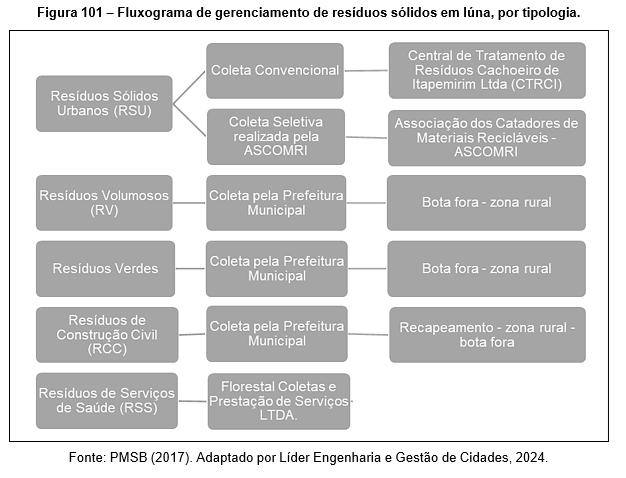
Essa divisão de responsabilidades entre a municipalidade e empresas privadas visa garantir uma gestão eficiente e adequada dos resíduos sólidos, abrangendo desde a coleta até a destinação final, de forma a atender às necessidades da população e promover a preservação do meio ambiente.
Nos próximos subcapítulos, serão abordados mais detalhadamente os processos e procedimentos envolvidos em cada etapa do SLUMRS em Iúna.
9.1.3 Principais Indicadores
O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) é um instrumento do Governo Federal do Brasil utilizado para coletar, organizar e disponibilizar informações relacionadas aos serviços de saneamento básico no país. Foi criado em 1995 pelo Governo Federal, no âmbito do Programa de Modernização do Setor de Saneamento (PMSS). O SNIS abrange dados sobre abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
Os indicadores do SNIS são essenciais para monitorar a eficiência e a qualidade dos serviços de saneamento básico em diferentes localidades. Eles incluem métricas como a cobertura dos serviços, a quantidade de água tratada e distribuída, a proporção de esgoto tratado, o volume de resíduos sólidos coletados, entre outros. Esses indicadores permitem avaliar o desempenho dos municípios, estados e do país como um todo em termos de saneamento.
Na Tabela 56, estão alguns indicadores que foram utilizados para resíduos sólidos nesta fase do diagnóstico de Iúna, seguidos de suas respectivas descrições e valores para os anos de 2021 e 2022.
Tabela 56 – Breve descritivo dos principais indicadores do SNIS relacionados com a gestão de resíduos sólidos.
| Código | Descrição do Indicador | Valor | Unidade de Medida |
| CO050 - População urbana atendida no município, abrangendo o distrito-sede e localidades. | Valor declarado pelo órgão responsável da população urbana efetivamente beneficiada com o serviço regular de coleta de RDO no município, no final do ano de referência. Inclui populações da sede e de localidades (distritos e povoados) efetivamente atendidas de forma regular.No SNIS é adotado o valor declarado pelo agente responsável pelo serviço. Entende-se como regular o serviço com frequência mínima de 1 (uma) vez por semana. Para auxílio da estimativa desta população são fornecidos neste aplicativo, os valores de população total fornecido pelo IBGE e da projeção da população urbana feita pelo SNIS a partir dos dados do IBGE, relativos ao ano de referência. | 16.741 - 2021 | Habitantes |
| CO119 - Quantidade total de RDO e RPU coletada por todos os agentes | Valor anual da soma das quantidades totais de RDO e RPU coletadas por todos os agentes mencionados, públicos, privados e outros agentes, exceto cooperativas de catadores. As quantidades coletadas por cooperativas ou associações de catadores deverão ser preenchidas em campo específico no item Coleta Seletiva. Não inclui quantidades coletadas de resíduos dos serviços de saúde (RSS) e resíduos da construção civil (RCC). | 4.141 - 202 24.027- 2021 | Tonelada/ano |
| CO134 - Percentual da população atendida com frequência diária | Valor da relação entre a população atendida com frequência diária pelo serviço de coleta de RDO e a população total atendida, no final do ano de referência. No SNIS é adotado o valor declarado pelo agente responsável pelo serviço. | 90 - 2021 | % |
| CO164 - População total atendida no município com coleta regular de pelo menos uma vez por semana | Valor declarado, pelo órgão responsável, da população total (urbana + rural) efetivamente be- neficiada com o serviço de coleta regular de resíduos domiciliares no município, no final do ano de referência. Inclui população urbana (CO050) e população da zona rural - dispersa ou não - residente na sede e nos demais distritos e localidades. Entende-se como regular o serviço com frequência mínima de 1 (uma) vez por semana. | 27.840 - 2021 16.741 - 2021 | Habitantes |
| CO165 - População urbana atendida pelo serviço de coleta domiciliar direta, ou seja, porta a porta | População urbana atendida pelo serviço de coleta domiciliar direta, ou seja, coleta de resíduos sólidos domiciliares (RDO) ou equiparáveis, disponibilizados em calçada, testada ou via pública, em frente ao(s) domicílio(s), próximos a este(s) ou em ponto(s) de coleta de condomínio multifamiliar (vertical ou horizontal). Exclui a população que é atendida por coleta indireta, ou seja, por sistemas estáticos de coleta por contêineres, caçambas ou contentores. | 16.741 - 2021 | Habitantes |
| CS026 - Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados | Valor anual do resultado da soma das quantidades de resíduos sólidos recolhidos, por meio do serviço de coleta seletiva por todos os agentes - público, privado, associações de catadores eoutros que detenham parceria com a Prefeitura - no final do ano de referência. Excluem-se quantidades de matéria orgânica quando coletadas de forma exclusiva | 190 - 2022 76 - 2021 | Tonelada/ano |
| CS050 - População urbana do município atendida com a coleta seletiva do tipo porta a porta executada pela Prefeitura (ou SLU) | População urbana do município atendida com a coleta seletiva do tipo porta-a-porta executada pela Prefeitura (ou SLU), por empresas contratadas pela Prefeitura, por associações ou coo- perativas de catadores com parceria/apoio da Prefeitura ou por outros agentes que detenham parceria com a Prefeitura. | 16.668 - 2019 | Habitantes |
| FN207 - Despesa com agentes privados para execução do serviço de coleta de RDO e RPU (Antigo campo CO011) | Valor anual das despesas dos agentes públicos realizadas com agentes privados contratados exclusivamente para execução de serviço de coleta de RDO e RPU, locação de veículo, mão de obra e equipamentos afins. Ver também outros detalhes no respectivo item do Manual de Fornecimento de Informações. | 112.263,85 - 2021 | R$/ano |
| FN210 - Despesa com empresas contratadas para coleta de RSS (Antigo campo RS033) | Valor anual das despesas dos agentes públicos realizadas com agentes privados contrata- dos exclusivamente para execução de serviço de coleta diferenciada de resíduos de saúde (RSS). | 104.916,24 - 2022 70.488,91 - 2021 | R$/ano |
| FN220 - Despesa total com serviços de manejo de RSU (Antigo campo GE007) | Valor anual da soma das despesas com serviços de manejo de RSU realizadas por agentes privado e público. | 2.912.223,2 – 2021 2.391.950,86 - 2022 | R$/ano |
| IN014 - Taxa de cobertura do serviço de coleta domiciliar direta (porta-a-porta) da população urbana do município |
𝐶𝐶𝐶𝐶165 𝑥𝑥 100 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃_𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 |
99,57 - 2021 | % |
| IN015 - Taxa de cobertura regular do serviço de coleta de RDO em relação à população total do município |
𝐶𝐶𝐶𝐶164 𝑥𝑥 100 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃_𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇 |
97,38 - 2022 56,91 - 2021 | % |
| RS044 – Quantidade total de RSS coletada pelos agentes executores | Valor anual coletado somente de RSS executadas pela Prefeitura, próprio gerador ou empresa contratada por ela. | 16,8 - 2022 9,9 - 2021 | Tonelada/ano |
Os dados analisados refletem a situação da gestão de resíduos sólidos no município ao longo dos anos de 2021 e 2022. A população urbana atendida pela coleta regular de resíduos domiciliares (RDO) em 2021 foi de 16.741 habitantes, destacando a abrangência do serviço na área urbana. A quantidade total de RDO e resíduos de pontos de coleta (RPU) coletada aumentou de 4.027 toneladas em 2021 para 4.141 toneladas em 2022.
A população total atendida pelo serviço de coleta regular, que inclui áreas urbanas e rurais, foi de 27.840 habitantes em 2021. Além disso, a população urbana atendida pelo serviço de coleta domiciliar direta, também em 2021, foi de 16.741 habitantes.
A coleta seletiva de resíduos sólidos demonstrou um avanço significativo, com a quantidade total coletada passando de 76 toneladas em 2021 para 190 toneladas em 2022. Em 2019, a população urbana atendida pela coleta seletiva porta-a-porta foi de 16.668 habitantes. A taxa de cobertura do serviço de coleta domiciliar direta para a população urbana atingiu 99,57% em 2021, indicando uma quase total abrangência do serviço.
A taxa de cobertura regular do serviço de coleta de RDO em relação à população total do município aumentou de 56,91% em 2021 para 97,38% em 2022. A quantidade total de resíduos de serviços de saúde (RSS) coletada pelos agentes executores aumentou de 9,9 toneladas em 2021 para 16,8 toneladas em 2022.
Em síntese, os dados indicam uma evolução positiva na gestão de resíduos sólidos no município. O aumento na quantidade de resíduos coletados, a expansão da cobertura dos serviços de coleta e os avanços na coleta seletiva são evidências de melhorias significativas no manejo dos resíduos. Estes avanços refletem um compromisso crescente com a sustentabilidade e a saúde pública, proporcionando benefícios ambientais e uma melhor qualidade de vida para a população local.
9.1.4 Panorama da Situação Atual do SLUMRS
Neste subcapítulo, são apresentados os diferentes aspectos técnicos, institucionais, administrativos, sociais e econômicos das diversas tipologias de resíduos gerados dentro do território municipal de Iúna, incluindo os serviços de limpeza pública, resíduos domiciliares, orgânicos, coleta seletiva, resíduos da construção civil, resíduos dos serviços de saúde, logística reversa obrigatória, resíduos agrossilvopastoris, resíduos de serviços de saneamento, entre outros.
Para cada tipo de resíduo gerado em Iúna, foi fornecido um panorama detalhado, visando tanto à compreensão da dinâmica do sistema de limpeza urbana pela população quanto à visão geral das rotas percorridas por esses resíduos, desde sua geração até sua destinação ou disposição final, para os gestores municipais.
a) Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei 12.305/2010, estabelece diretrizes importantes para a gestão dos resíduos sólidos no Brasil. No seu Art. 13, parágrafo I, alínea “c”, a lei define os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) como aqueles que incluem resíduos domiciliares, originários de atividades domésticas em residências urbanas, e resíduos de limpeza urbana, que abrangem a varrição e a limpeza de vias públicas e logradouros, além de outros serviços relacionados à limpeza urbana.
A gestão dos RSU é uma tarefa complexa que demanda recursos significativos por parte dos governos locais. As despesas relacionadas à gestão desses resíduos podem variar amplamente, dependendo de diversos fatores, tais como: as características do município (tamanho, relevo, distância até o local de disposição final) e a qualidade do serviço prestado (coleta seletiva de materiais recicláveis, coleta de resíduos volumosos, frequência da coleta e da varrição etc.) (IPEA, 2012).
Os Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD) são os gerados nas atividades do- mésticas em residências urbanas (BRASIL, 2010) sendo constituídos por três frações: resíduos recicláveis secos, resíduos orgânicos e rejeitos.
Os resíduos sólidos domiciliares secos (RSD) constituem uma parcela significativa da massa total de resíduos gerados pelas atividades humanas. Conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), esses resíduos são classificados como recicláveis ou reutilizáveis. Os RSD são compostos por materiais como papel, papelão, vidro, metais (ferrosos e não ferrosos) e plásticos (moles e duros). Além disso, incluem produtos industrializados que atingiram o fim de sua vida útil. Embora não sejam a maior fração dos resíduos sólidos domiciliares, os resíduos secos representam aproximadamente um terço da massa total coletada nas residências (SÃO PAULO, 2014).
Os resíduos secos recicláveis são aqueles que podem ser submetidos a processos de reaproveitamento. Exemplos desses materiais incluem:
· Papel e Papelão: revistas, jornais, caixas de papelão;
· Vidro: garrafas, frascos e potes de vidro;
· Metais: latas de alumínio, ferro, cobre, entre outros;
· Plásticos: garrafas PET, embalagens plásticas, sacos plásticos.
A fração de rejeitos é composta por materiais não recicláveis, geralmente associados a resíduos de banheiros e materiais de limpeza. Exemplos incluem:
· Fraldas descartáveis;
· Absorventes higiênicos;
· Cotonetes;
· Resíduos de limpeza, como esponjas usadas.
Os resíduos orgânicos são compostos principalmente por restos de alimentos e resíduos de jardim. Esses materiais são essenciais para processos de reciclagem orgânica, como a compostagem, que permite a transformação segura dos resíduos em adubo. Exemplos de resíduos orgânicos incluem:
· Restos de alimentos: cascas de frutas e legumes, restos de comida;
· Resíduos de jardim: folhas secas, podas de árvores e grama.
Já os resíduos comerciais são aqueles gerados em diferentes empreendimentos comerciais e de serviços dentro das cidades, tais como supermercados, estabelecimentos bancários, lojas, bares, restaurantes, entre outros. Os resíduos oriundos dessas atividades têm grande quantidade de papel, plásticos, embalagens diversas e resíduos de asseio dos funcionários, tais como papel-toalha, papel higiênico, e podem ou não também conter grande parcela de matéria orgânica, dependendo da atividade desenvolvida (CEMPRE, 2018; IBAM, 2001).
De acordo com o Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil realizado pela ABRELPE - Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, em 2022, foram gerados, ao todo, a quantidade de aproximadamente 40 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos – RSU na região Sudeste do Brasil, conforme Tabela 57.
Tabela 57 – Geração de resíduos sólidos urbanos per capita e total coletado nas diferentes re- giões do país em 2022.
| Macrorregião | Geração Per Capita kg/hab./dia | Quantidade de RSU Coletado Toneladas/ano |
| Norte | 0,884 | 5.110.575 |
| Nordeste | 0,955 | 16.705.718 |
| Centro-Oeste | 0,993 | 5.821.043 |
| Sul | 0,776 | 8.408.791 |
| Sudeste | 1,234 | 40.072.190 |
| Brasil | 1,043 | 76.118.317 |
A taxa de geração por habitante, ou "geração per capita", refere-se à quantidade de lixo gerada por habitante num período de tempo especificado, calculada sobre os volumes efetivamente coletados e a população atendida (CEMPRE, 2018). É expressa na unidade de quilogramas por habitante dia (Kg/hab./dia). Na região Sudeste, que engloba 1668 municípios, com uma população urbana de aproximadamente 85 milhões, a geração per capita média de 1,234 kg/hab./dia.
Ainda de acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil de 2022, realizado pela ABRELPE, cerca de 98,6% de todo o resíduo gerado na Região Sudeste foi coletado no ano de 2022. Destes, apenas 74,3% foram encaminhados para uma destinação adequada.
Os dados existentes para o município de Iúna compreendem a série histórica dos anos de 2016, 2017, 2019, 2020 e 2021, sendo possível obter-se a média anual de resíduos coletados na cidade, a população atendida nesses anos e, então, calcular a geração per capita nos referidos períodos, mostrados na Tabela 58. No SNIS, já se encontra disponível alguns dados para 2022 no Município de Iúna, no entanto, não consta o dado de população e população atendida, o que impossibilita o cálculo da geração per capita, e por isso não foi considerado nesta análise.
Tabela 58 – Série histórica da população atendida e quantidade de resíduos coletados (RDO+RPU), em Iúna.
| Ano | População urbana atendida no município, abrangendo o distrito- sede e localidades (habitantes) | Quantidade total de RDO e RPU coletada por todos os agentes (ton) | Geração Per Capita (Kg/hab.dia) |
| 2016 | 17.000,00 | 1.800,00 | 0,29 |
| 2017 | 17.088,00 | 5.661,60 | 0,91 |
| 2019 | 16.668,00 | 4.964,00 | 0,82 |
| 2020 | 16.741,00 | 4.432,30 | 0,73 |
| 2021 | 16.741,00 | 4.027,00 | 0,66 |
Segundo a tabela acima, Iúna coletou 4,027 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos em 2021, com uma geração per capita média de 0,66 kg/hab./ano, atendendo a um número de 16.741 habitantes. O Gráfico 19 mostra a evolução da geração per capita em relação à população atendida e total de RDO e RSU coletados do ano de 2016 a 2021.
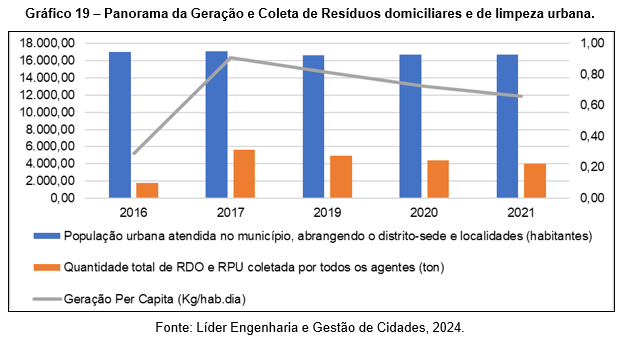
Os dados foram coletados no website do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). O cálculo para estimativa da geração per capita é fundamentado pelos seguintes indicadores disponibilizados no SNIS:
· CO050: população urbana atendida no município abrangendo o distrito-sede e localidades e;
· CO119: quantidade total de RDO e RPU coletada por todos os agentes.
b) Composição gravimétrica
A análise da composição gravimétrica, por meio de técnicas metodologicamente padronizadas, permite avaliar a proporção de cada componente em relação ao peso total da amostra de resíduos sólidos urbanos (IBAM, 2001). Ter conhecimento das médias das frações de cada constituinte dos resíduos em um município é essencial para um planejamento, gestão e manejo adequados dos sistemas relacionados a eles.
A partir deste estudo, torna-se possível estabelecer as bases para calcular a dimensão da frota de coleta, centrais de triagem, iniciativas de compostagem e, ainda, monitorar a eficácia dos programas de gerenciamento diferenciado para as diferentes tipologias de resíduos em operação.
A Tabela 59 mostra um estudo da composição média dos resíduos sólidos gerados nos continentes, divididos entre orgânicos e resíduos recicláveis. Enquanto que, o Gráfico 20 mostra a média da composição gravimétrica dos resíduos sólidos no Brasil.
Tabela 59 – Composição média dos resíduos sólidos nos continentes, em porcentagem.
| Região | Orgânicos | Papéis | Plásticos | Vidros | Metais | Outros |
| África Centro Meridional | 57 | 9 | 13 | 4 | 4 | 13 |
| Ásia Oriental e Pacífico | 62 | 10 | 13 | 3 | 2 | 10 |
| Europa e Ásia Central | 47 | 14 | 8 | 7 | 5 | 19 |
| América Latina e Caribe | 54 | 16 | 12 | 4 | 2 | 12 |
| Oriente Médio e África Setentrional | 61 | 14 | 9 | 3 | 3 | 10 |
| OCDE – Europa Ocidental, América do Norte, Oceania, Japão/Korea | 27 | 32 | 11 | 7 | 6 | 17 |
| Ásia Meridional | 50 | 4 | 7 | 1 | 1 | 37 |
| GLOBAL | 46 | 17 | 10 | 5 | 4 | 18 |
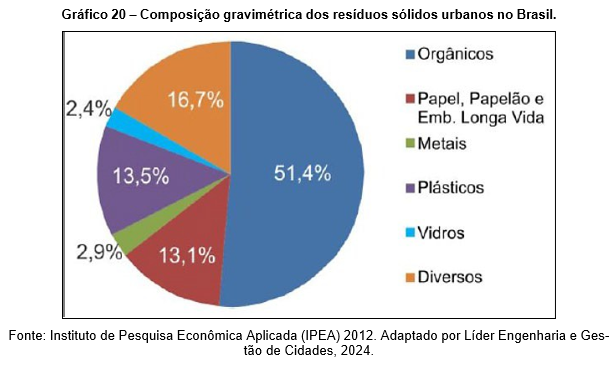
Percebe-se, através dos dados expostos no Gráfico 20, que o tipo de resíduo sólido com a maior geração, tanto no mundo, 46%, quanto no Brasil, 51,4% é o resíduo orgânico. Motivo este por haver inúmeras campanhas, principalmente no Brasil para reduzir o desperdício de alimentos. Apesar de os resíduos de poda, capina e roçagem também se enquadrarem como orgânicos. Logo após o resíduo orgânico a maior geração ocorre com os resíduos considerados outros ou diversos, com 18% em todo o mundo e 16,7% no Brasil.
Este resíduo pode ser considerado como resíduo não reciclável, como, resíduo proveniente de higiene pessoal ou até mesmo resíduo reciclável, como restos de tecidos ou resíduos da construção civil (RCC). Em seguida, de acordo ainda com os dados acima encontram-se com maior geração os plásticos e os papeis, sendo 10% e 17% respectivamente no mundo e 13,5% e 13,1% respectivamente no Brasil.
Uma proporção significativa de materiais recicláveis destinados ao aterro pode indicar deficiências nos processos de segregação na fonte ou subdimensionamento de ecopontos, evidenciando a necessidade de programas e ações de educação ambiental. Da mesma forma, a presença de materiais perigosos ou com logística reversa obrigatória aponta falhas nas rotas tecnológicas adequadas para esses resíduos.
c) Acondicionamento
O acondicionamento temporário dos resíduos domiciliares e comerciais deve ser realizado de maneira sanitariamente adequada e compatível com suas características. Devem ser apresentados para coleta no dia e horário determinados pelo órgão responsável pela limpeza urbana e manejo dos resíduos no município, em recipientes seguros, com o objetivo de (IBAM, 2001):
· Evitar acidentes para os coletadores e a população em geral;
· Evitar a proliferação de vetores e o acesso de animais domésticos aos resíduos;
· Minimizar o impacto visual e olfativo dos resíduos acondicionados;
· Facilitar a coleta deixando-a mais eficiente e menos impactante para o funcionamento da cidade.
Em Iúna, como em outras cidades de mesmo porte, diversas são as formas de acondicionamento e apresentação para coleta, estando estas muito mais condicionadas ao grau de conscientização e educação ambiental dos geradores do que a própria localização ou “classe social” dos bairros analisados.
Os resíduos domiciliares, em sua maioria, são acondicionados em sacos plásticos pretos específicos (sacos de lixo) ou em sacolinhas plásticas de supermercado, os quais são armazenados temporariamente diretamente no chão, ou em lixeiras específicas para pequenos volumes, como mostrado na Figura 102.

Os resíduos de maior volume são depositados em contêineres ou bombonas, como na Figura 103.

Os contêineres azuis destinam-se exclusivamente ao depósito de resíduos secos, como papelão, garrafas PET, embalagens plásticas e de vidro, isopor, latas, sucatas, papéis e jornais. Por outro lado, os contêineres pretos são reservados para resíduos úmidos, incluindo restos de alimentos, materiais de higiene pessoal, lâmpadas, pó de varrição e fotografias, todos devidamente acondicionados em sacolas plásticas.
Além disso, os moradores têm a opção de depositar seus resíduos secos em um dos Pontos de Entrega Voluntária (PEVS) (Figura 104), que estão estrategicamente localizados em diversos pontos da cidade: na Prefeitura Municipal, na Praça Coronel João Osório, na Praça do Ginásio de Esportes, na Praça Saudável, na Praça da Rodoviária, na Praça Ferreira Vale, bem como nas escolas Deolinda Amorim de Oliveira e Henrique Coutinho e no CRAS.

No distrito de Nossa Senhora das Graças, a Associação de Gestão Comunitária de Tratamento e Abastecimento de Água adquiriu latões de coleta para a comunidade, apresentados na Figura 105.

d) Coleta Convencional
Em Iúna, a coleta convencional dos resíduos sólidos urbanos fica sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos. A coleta de resíduos em Iúna é uma operação bem organizada, com cobertura diária na área urbana e atendimento regular nos distritos rurais. A periodicidade da coleta nos diferentes distritos é ajustada conforme a demanda, o que otimiza os recursos e garante um serviço de qualidade para todas as áreas do município.
Na Sede de Iúna, a coleta é feita de segunda a sábado, abrangendo todos os bairros. Nos distritos de Pequiá, Nossa Senhora das Graças, Uberaba e Santíssima Trindade a coleta é realizada semanalmente, e em Laranja da Terra, Santa Clara, São João do Príncipe, Rio Claro, São José das Três Pontes, Tinguaciba, Fazenda Alegria, Bonsucesso e Barro Branco a coleta é realizada quinzenalmente.
A Figura 106 mostra os locais do município que são abrangidos pela coleta convencional, assim como sua frequência.
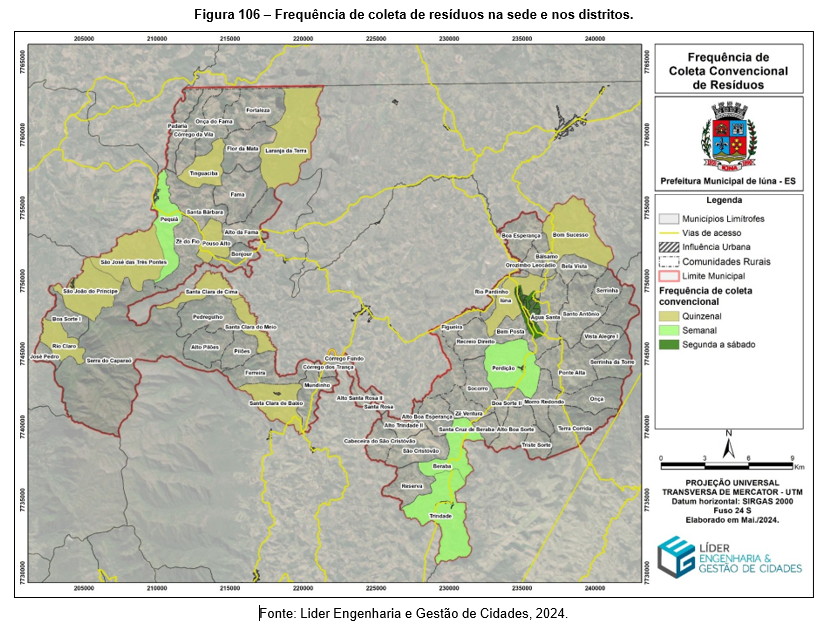
A coleta é realizada em três turnos ao longo do dia:
· Turno Matutino: das 05:30 às 11:00 horas;
· Turno Vespertino: das 13:00 às 16:00 horas;
· Turno Noturno: das 16:00 às 22:00 horas.
O serviço conta com 8 (oito) servidores, com um custo mensal, incluindo vencimento base, complemento salarial do salário-mínimo, adicional de insalubridade, proporcional de férias, proporcional de décimo terceiro, INSS patronal e alíquota RAT, de R$ 36.437,84.
O município utiliza 3 (três) caminhões para a coleta de resíduos, conforme especificações apresentadas no Quadro 24 e na Figura 107.
Quadro 24 – Veículos utilizados na coleta convencional de resíduos.
| Placa | Ano de Fabricação | Ano Modelo | Marca | Modelo | Versão | Capacidade (toneladas) |
| OVH-6254 | 2014 | 2014 | Mercedes- Benz | Atego | 1726 | 10.88 |
| OVH-6255 | 2014 | 2014 | Mercedes- Benz | Atego | 1726 | 10.88 |
| RBE-1C92 | 2020 | 2021 | Volkswagen | 14.190 | CRM 4X2 | 9.15 |


e) Coleta Seletiva
A coleta seletiva é um sistema de recolhimento de resíduos sólidos que tem como objetivo separar e destinar adequadamente diferentes tipos de materiais para reciclagem. Esse processo visa reduzir a quantidade de resíduos que são encaminhados para aterros sanitários ou lixões, promovendo a reutilização de materiais e a preservação do meio ambiente.
Na coleta seletiva, os materiais são separados em categorias específicas, como papel, vidro, plástico, metal e orgânicos. Cada tipo de material é destinado a processos de reciclagem distintos, contribuindo para a economia de recursos naturais, a redução da poluição e a diminuição dos impactos ambientais causados pelo descarte inadequado de resíduos.
Em Iúna, a coleta seletiva é realizada pela Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do município de Iúna – ASCOMRI, com uma equipe de 1 motorista e 2 coletadores.
Quanto a quantidade de material coletado pela associação, a ASCOMRI passou as seguintes informações sobre o peso médio de cada tipo de material, para o ano de 2023:
Tabela 60 – Relação de material coletado pela ASCOMRI - mensal, em 2023.
| Material | Kg/mês |
| Filme branco | 665 |
| Filme colorido | 330 |
| Polipropileno Branco | 150 |
| Polipropileno Colorido | 170 |
| Polipropileno Preto | 60 |
| Caixa preto | 0 |
| PEAD caixa | 0 |
| PET | 109 |
| PET verde | 78 |
| Tetra pak | 0 |
| Papel para chova | 106 |
| F- Aparas papel Misto | 0 |
| F- Sucata plástico ráfia | 0 |
| F-Aparas papelão ondulado II | 9.071 |
| F- Aparas cartão fibra | 0 |
| F- Sucata PET óleo | 0 |
| Papelão | 354 |
| Jornal | 0 |
| Papel misto | 400 |
| TOTAL | 11.493 |
Entre os materiais coletados, destacaram-se o filme branco, com uma média mensal de 665 kg, e o filme colorido, com 330 kg. O papel branco foi coletado em uma quantidade de 150 kg por mês, enquanto o papel colorido totalizou 170 kg mensais. O polipropileno preto (Pp. Preto) foi registrado com 60 kg por mês, e nenhuma quan- tidade foi coletada de caixas pretas e caixas de PEAD (Polietileno de Alta Densidade).
A coleta de PET (Polietileno Tereftalato) somou 109 kg mensais, sendo 78 kg provenientes de PET verde. Materiais como Tetra Pak, aparas de papel misto, sucata de plástico ráfia, aparas de cartão fibra e sucata de PET óleo não apresentaram coleta durante o ano.
O papel para chova, uma variedade específica de papel, teve uma coleta mensal de 106 kg. O material com maior volume de coleta foi identificado como aparas de papelão ondulado II, com uma média mensal significativa de 9.071 kg. O papelão re- gistrou uma coleta de 354 kg por mês, enquanto o papel misto somou 400 kg mensais. Não foram registradas coletas de jornais durante o período analisado.
O total de materiais coletados mensalmente pela Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do município de Iúna alcançou uma média de 11.493 kg/mês, somando 137,916 toneladas /ano. A coleta de materiais como filme branco, aparas de papelão ondulado II e papel misto destacou-se, sugerindo uma prática ativa de reciclagem desses itens. Por outro lado, a ausência de coleta de determinados materiais pode refletir a falta de demanda ou de iniciativas específicas para esses tipos de resíduos.
Segundo dados do SNIS, a quantidade de material coletado por meio de coleta seletiva em Iúna, apresenta os seguintes valores:
Tabela 61 – Quantidade de material coletado por ano, por meio de coleta seletiva, em Iúna.
| Ano | Material recolhido pela coleta seletiva (indicador CS026) | Unidade |
| 2016 | 1.800 | |
| 2017 | 261 | |
| 2019 | 228 | Tonelada/Ano |
| 2020 | 114,3 | |
| 2021 | 76 | |
| 2022 | 190 |
f) Resíduos de Limpeza Urbana (RLU)
Os serviços de limpeza urbana englobam um conjunto de atividades e ações realizadas para garantir a higiene, a saúde pública e o bem-estar da população em ambientes urbanos. É caracterizada pela composição dos serviços de varrição, capina, roçagem, poda, corte de árvores, coleta de resíduos volumosos/entulhos e a manutenção das bocas de lobo e galerias pluviais.
Este conjunto de serviços tem crescido consideravelmente nos últimos anos no país, principalmente pela implantação da nova Política Nacional de Resíduos Sólidos. Sendo assim, o Quadro 25 traz a definição dos principais tipos de serviço de limpeza pública presente nos municípios brasileiros.
Quadro 25 – Definição e tipos de serviços que caracterizam a limpeza pública.
| Serviço | Definição | Formas de Execução |
| Varrição | A varrição pode ser considerada como uma das principais atividades de limpeza pública. Ela se estende para todos os tipos de vias públicas, como vias pavimentadas ou não, calçadas, praças, túneis, sarjetas, escadarias e qualquer outro tipo de logradouros públicos em geral. | A varrição pode ser realizada de forma manual ou mecanizada. No Brasil, a varrição manual é realizada por garis; podendo ser de empresas privadas contratadas para a execução dos serviços ou da própria Prefeitura. |
| Roçagem | Conjunto de procedimentos concernentes ao corte, manual ou mecanizado, da cobertura vegetal arbustiva considerada prejudicial e que se desenvolve em vias e logradouros públicos, bem como em áreas não edifica- das, públicas ou privadas, abrangendo a coleta dos resíduos resultantes. | A roçada pode ser realizada de forma manual ou mecanizada. Na forma mecanizada são utilizadas roçadeiras e na forma manual, são utilizadas enxadas ou enxadinhas. |
| Capina | Executada antes da roçada, a capina também consiste em um conjunto de procedimentos concernentes ao corte, manual ou mecanizado, ou à supressão por agentes químicos da cobertura vegetal rasteira, considerada prejudicial e que se desenvolve em vias públicas, bem como em áreas não edificadas, públicas ou privadas, abrangendo, eventualmente, a remoção de suas raízes e incluindo a coleta dos re- síduos resultantes. | A capina é realizada de forma ma- nual, utilizando enxada ou enxadinha, e quando autorizado, utiliza- se produtos químicos. |
| Poda | Utilizada na jardinagem para retirar folhas, ramos e galhos, com o objetivo de modificar a sua aparência e estética, para que os galhos cresçam de forma ordenada, evitando a danificação da rede elétrica ou a queda de galhos podres. | Geralmente executada de forma mecânica, com o auxílio de motosserras. |
| Limpeza das bocas de lobo e valas de drenagem | Conjunto de procedimentos para retirar os resíduos das galerias pluviais e redes de drenagem urbana, evitando desta forma as enchentes e acúmulo de resíduos nos rios e córregos. | A limpeza das bocas-de-lobo e valas de drenagem são realizadas de forma manual com pás, porém, quando há a presença de resíduos mais pesados, utiliza-se tratores ou caminhões munk. |
A limpeza urbana no município é realizada com frequência diária, garantindo a manutenção da higiene e da estética das áreas públicas.
Para a execução das atividades de limpeza, a equipe é distribuída em três turnos distintos. No período matutino, trabalham 22 pessoas, responsáveis pela maior parte das atividades devido ao volume de resíduos acumulados durante a noite. No turno vespertino, a equipe é composta por 12 pessoas, que dão continuidade às atividades de limpeza, mantendo a cidade em boas condições até o final da tarde. Por fim, no turno noturno, uma equipe reduzida de 3 pessoas realiza tarefas de menor intensidade, preparando a cidade para o início das operações no dia seguinte.
A eficiência da limpeza urbana é garantida pelo uso de diversos equipamentos especializados. Entre eles, o caminhão compactador, que coleta e compacta os resíduos sólidos, otimizando o transporte até o local de destinação final. O caminhão carroceria é utilizado para o transporte de resíduos volumosos que não podem ser compactados. A picape serve para o transporte de pequenos volumes de resíduos e apoio logístico. A retroescavadeira é fundamental para a remoção de resíduos volumosos e detritos, além de auxiliar em operações de manutenção das vias públicas. O caminhão caçamba é empregado no transporte de grandes volumes de resíduos, especialmente durante a limpeza de áreas específicas ou remoção de entulhos.
Em média, a limpeza urbana resulta na coleta de 22 toneladas de resíduos por mês, que são destinados a um bota fora na área rural. Dentre esses resíduos, estão os volumosos, que, segundo dados da prefeitura, estima-se uma coleta de 22 toneladas/mês.
Bocas de lobo do município possuem um cronograma de limpeza anual, resultando em 3 toneladas/ano, que também são destinados para um bota-fora.
g) Resíduos Verdes
Essa tipologia é composta por todos os resíduos resultantes dos processos de remoção ou poda da vegetação, especialmente de plantas e árvores. O conceito descreve os restos da arborização e engloba sobretudo os troncos, galhos e cascas de árvores, bem como folhas secas ou verdes e flores. Em outras palavras, trata-se do material orgânico originário da flora.
Esses resíduos vegetais, após o tratamento em ambientes naturais equilibrados, se degradam naturalmente, contribuindo para o meio ambiente e reciclando seus próprios nutrientes nos processos da natureza. Por exemplo, restos de cascas, folhagens e capim seco (resíduos vegetais impróprios ao consumo humano e animal) podem ser destinados à produção de fertilizantes agrícolas, por meio da compostagem.
O resultado é um adubo orgânico rico em nutrientes, que substitui os fertilizantes minerais, aumentando a produtividade do solo e reduzindo custos extras. Quando descartado irregularmente, especialmente em ambientes urbanos, o “Lixo Verde” pode se tornar um sério problema ambiental devido ao grande volume gerado e aos locais inadequados em que são armazenados ou descartados. A disposição inadequada desses resíduos orgânicos, favorecem a proliferação de vetores de doenças.
Assim, faz-se necessária a adoção de métodos adequados de gestão e trata- mento dos volumes de resíduos, para que a matéria orgânica presente seja estabilizada e possa cumprir seu papel natural de fertilizar os solos.
Em Iúna, a realização dos serviços de corte e poda de árvores é feita diretamente pela prefeitura de Iúna, por meio da Secretaria Meio Ambiente e Limpeza Pública, e os resíduos dessa categoria vão para um local “bota-fora”.
h) Resíduos Orgânicos
Segundo os dados disponibilizados pelo CEMPRE (2018) em seu Manual de Gerenciamento, 52,5% da composição dos resíduos domiciliares no Brasil corresponde a matéria orgânica. Sendo assim, é visível as vantagens de se coletar e tratar essa fração separadamente das outras que compõe os RDO.
Além de diminuir os custos com a disposição final e aumentar a vida útil dos aterros sanitários, a gestão dos resíduos orgânicos de forma separada também contribui com a continuidade dos ciclos biogeoquímicos planetários e, quando instituída por meio da compostagem, transforma o que antes era resíduo em um composto de considerável valor agregado. A Figura 108 ilustra a composição média dos resíduos domiciliares no país.
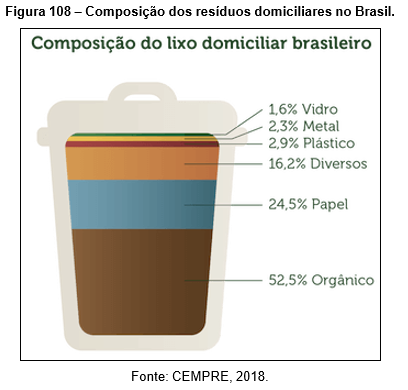
Em Iúna, não há coleta e destinação para este tipo de resíduos.
i) Resíduos de Construção Civil
De maneira geral, os resíduos de construção civil (RCCs) são vistos como resíduos de baixa periculosidade, tendo como principal impacto o grande volume gerado. Contudo, nesses resíduos também são encontrados materiais orgânicos, produtos perigosos e embalagens diversas que podem acumular água e favorecer a proliferação de insetos e de outros vetores de doenças.
De acordo com o Art. 13 da Lei nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010), os RCCs são aqueles gerados nas construções, em reformas, em reparos e em demolições de obras de construção civil, bem como os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis. São definidos e classificados em quatro classes pela Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 307/2002 (CONAMA, 2002), em função do seu potencial para serem reciclados ou reutilizados.
A classificação dos rejeitos provenientes de obras, conforme estabelecido pela Resolução CONAMA nº 307/2002, categoriza esses materiais em diferentes classes, considerando sua natureza e potencial de reaproveitamento. Seguem as principais categorias:
· Classe A: esta classe abrange rejeitos reutilizáveis ou recicláveis, sendo destinados a agregados. Exemplos incluem resíduos de construção, demolição, reformas, pavimentação e infraestrutura. Componentes cerâmicos, como tijolos, blocos, telhas, argamassa e concreto, fazem parte dessa categoria;
· Classe B: os rejeitos da Classe B são aqueles passíveis de reciclagem para outros destinos. Incluem embalagens vazias de tintas imobiliárias, gesso, plásticos, papel/papelão, madeiras, metais e vidros;
· Classe C: nesta classe estão os rejeitos para os quais ainda não existem tecnologias ou aplicações economicamente viáveis para reciclagem ou recuperação. Esses materiais não encontram destinos sustentáveis até o momento;
· Classe D: engloba rejeitos perigosos derivados do processo de construção, como tintas, solventes, óleos, ou outros que possam representar riscos à saúde ou ao meio ambiente. Originam-se de reformas, reparos em clínicas radiológicas, instalações industriais e demolições. Materiais com amianto ou substâncias prejudiciais à saúde também se enquadram nessa categoria;
· Rejeito: refere-se aos rejeitos vegetais provenientes da manutenção de áreas verdes, tanto públicas quanto privadas. Inclui outros itens popularmente denominados “bagulhos” que não se caracterizam como resíduos sólidos da construção civil.
A correta identificação e segregação dessas classes são essenciais para um gerenciamento adequado dos resíduos da construção civil, promovendo práticas sustentáveis e contribuindo para a preservação ambiental.
É fruto desta resolução também, a obrigação dos municípios quanto à elaboração do Plano Integrado de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil, que deverá estabelecer as diretrizes e técnicas para que os grandes geradores preparem o Plano de Gerenciamento de RCC – PGRCC, o qual deve ser obrigatoriamente entregue antes do início das obras. Além disto, no referido Plano é necessário contemplar o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, com procedimentos para o exercício das responsabilidades dos pequenos geradores, em conformidade com os critérios técnicos do sistema de limpeza urbana local e código de posturas do Município.
As Normas Brasileiras Regulamentadoras entram neste contexto com a deliberação das NBR 15.112 a 15.116, que estabelecem as diretrizes técnicas desde a construção até a implementação e operação de áreas de transbordo e triagem, reciclagem e reutilização de agregados. Sendo assim, o Gráfico 21 mostra a composição média dos resíduos da construção civil.
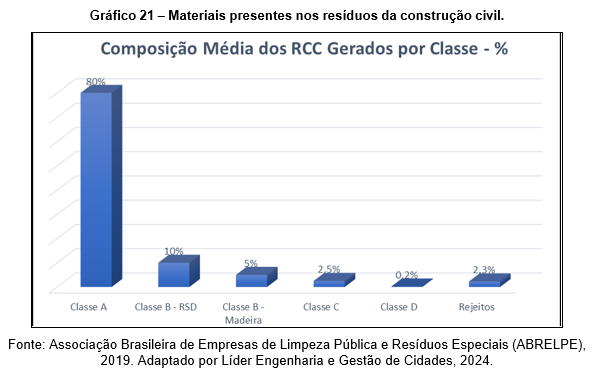
Conforme ilustrado no Gráfico 21, pode-se observar que a maior porcentagem da composição dos RCC refere-se aos resíduos de classe A. Estes resíduos são reutilizáveis ou recicláveis, tais como agregados da construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem, componentes cerâmicos como tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, argamassa e concreto.
Já a menor composição percentual refere-se aos resíduos de classe D classificados como perigosos e oriundos do processo de construção, tais como: tintas, sol- ventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros.
Os resíduos de construção civil (RCC), se tornam um problema grave dentro dos centros urbanos, pois quando não existem programas específicos, estrutura ou falta de informações para este tipo de resíduo, a população acaba fazendo a disposição inadequada, acarretando diversas complicações, dentre elas, a contaminação do solo e da água, afetando todo o ecossistema existente no local.
Na grande maioria dos municípios, a maior parte dos RCCs é depositada em bota-foras clandestinos, nas margens de rios e córregos ou em terrenos baldios. A deposição irregular de entulho ocasiona proliferação de vetores de doenças, entupimento de galerias e bueiros, assoreamento de córregos e rios, contaminação de águas superficiais e poluição visual.
A Resolução CONAMA 307 (CONAMA, 2002) preconiza que a responsabilidade quanto à destinação final dessa tipologia de resíduo é dos geradores. Os grandes geradores devem elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, PGRCC das obras, como parte do processo de licenciamento ambiental.
Em Iúna, a gestão de coleta de Resíduos da Construção Civil (RCC) é realizada pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. Atualmente, o município não dispõe de uma área específica destinada ao recebimento de RCC, encaminhando esses resíduos para utilização nas estradas vicinais da zona rural. Existem empresas de caçamba no município e região que fazem o aluguel e recolhimento deste tipo de resíduo.
O Art. 88 da Lei nº 2.264, de 30 de novembro de 2009, que institui o código de posturas e de atividades urbanas do município, estabelece que as empresas que operam na locação de caixas estacionárias ou na remoção de entulho devem cumprir uma série de exigências para manterem suas atividades. Essas empresas precisam estar cadastradas no setor técnico competente do município e possuir a devida licença para operar. Além disso, é obrigatório que forneçam mensalmente um Plano de Gerenciamento dos Resíduos ao órgão competente da administração municipal. Também devem obedecer a todas as exigências específicas regulamentadas pela administração. O parágrafo único do artigo determina que o não cumprimento dessas exigências resultará na aplicação de penalidades previstas na lei. Entre essas penalidades, o município de Iúna tem a autoridade para recolher as caixas estacionárias das empresas infratoras ao depósito municipal. Essas medidas visam garantir que as atividades de locação e remoção de entulho sejam realizadas de maneira ordenada e dentro das normas estabelecidas, contribuindo para a manutenção da limpeza pública e a gestão adequada dos resíduos.
j) Resíduos de Serviços de Saúde
Os resíduos de serviços de saúde (RSS), são aqueles provenientes de qualquer atividade de natureza médico-assistencial humano ou animal, clínicas odontológicas, veterinárias, farmácias, centros de pesquisa - farmacologia e saúde, medicamentos vencidos, necrotérios, funerárias, medicina legal e barreiras sanitárias.
Segundo o Art. 13 da Política Nacional do Meio Ambiente (PNRS) nº 12.305/ 2010, os resíduos de serviços de saúde estão inclusos na classificação dos resíduos sólidos, sendo sua gestão de responsabilidade do gerador obedecendo as normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA.
Um importante marco na área de resíduos de serviços de saúde – RSS, ocorreu na década de noventa com a Resolução CONAMA nº 006/1991, que desobrigou a incineração dos resíduos provenientes deste tipo de atividade, passando a competência para os órgãos estaduais estabelecerem as normas de destinação final desses resíduos, portanto, os procedimentos técnicos de licenciamento, como acondicionamento, transporte e disposição final, realizados nos municípios que não optaram pela incineração são feitos por órgãos estaduais.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, através da Resolução RDC nº 222/2018, dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Esta resolução já atribuía aos geradores dos resíduos a obrigatoriedade e responsabilidade de elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS).
Conforme a Resolução CONAMA nº 358/2005, que dispõe sobre o tratamento e a disposição dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências, é de responsabilidade dos geradores de resíduos de serviço de saúde, o gerenciamento dos resíduos, desde a geração até a disposição final, de forma a atender aos requisitos ambientais e de saúde pública e ocupacional.
Quanto à classificação, segundo as resoluções RDC ANVISA nº. 222/2018 e CONAMA 358/2005 os RSS são classificados em 5 grupos: A, B, C, D e E, sendo:
· Grupo A: engloba os componentes com possível presença de agentes biológi- cos que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. Exemplos: placas e lâminas de laboratório, carcaças, peças anatômicas (membros), tecidos, bolsas transfusionais contendo sangue, dentre ou- tras;
· Grupo B: contém substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Exemplos: medicamentos, reagentes de laboratório, resíduos contendo metais pesados, dentre outros;
· Grupo C: quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) como, por exemplo, serviços de medicina nuclear e radioterapia etc.;
· Grupo D: não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. Exemplos: sobras de alimentos e do preparo de alimentos, resíduos das áreas administrativas etc.;
· Grupo E: materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, espátulas e outros similares.
Os resíduos de serviços de saúde grupos A, B, C e E são caracterizados pela Norma ABNT NBR 10004/2004 como Resíduos de Classe I – Perigosos, tendo em vista suas características de patogenicidade, toxicidade, reatividade, corrosividade e inflamabilidade.
Ainda de acordo com a RDC ANVISA nº. 222/2018 e CONAMA 358/2005, todo gerador deve elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. O PGRSS deve ser documentado, apontando e descrevendo as ações relativas ao manejo dos resíduos, abrangendo as etapas de geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como as ações desenvolvidas visando a proteção da saúde pública e do meio ambiente.
A observação de estabelecimentos de serviços de saúde tem demonstrado que os resíduos dos Grupos A, B, C e E são, em conjunto, 25% do volume total. Os do Grupo D (resíduos comuns e passíveis de reciclagem, como as embalagens) respon- dem por 75% do volume.
Os resíduos de serviços de saúde (RSS) no município de Iúna são gerados por diversas fontes, incluindo unidades de saúde, ambulatórios, farmácias básicas, consultórios médicos e odontológicos municipais, além do hospital de Iúna e similares. A gestão desses resíduos é essencial para garantir a segurança sanitária e ambiental da região.
De acordo com dados fornecidos pela Prefeitura de Iúna, a quantidade de resíduos gerados mensalmente gira em torno de 1,25 ton. Estes resíduos são armazenados em locais adequados, conforme exigido pela legislação vigente, sendo acondicionados em containers apropriados, conhecidos como bombonas. Esse armazenamento adequado é essencial para prevenir riscos de contaminação e garantir a segurança dos trabalhadores e da população.
O período de armazenamento dos resíduos varia conforme a localidade. Na sede do município e nos distritos de Pequiá, Santíssima Trindade e Nossa Senhora das Graças, os resíduos são armazenados por 15 dias. Nas demais localidades rurais, como Santa Clara do Urbano, Rio Claro, São João do Príncipe, Laranja da Terra e Terra Corrida, onde a demanda é menor, o armazenamento ocorre por 30 dias. Essa variação no período de armazenamento é ajustada de acordo com a geração de resíduos em cada área, otimizando a logística de coleta.
A Figura 109, Figura 110, Figura 111, Figura 112 e Figura 113 apresentam os locais de armazenamento de RSS no município de Iúna.

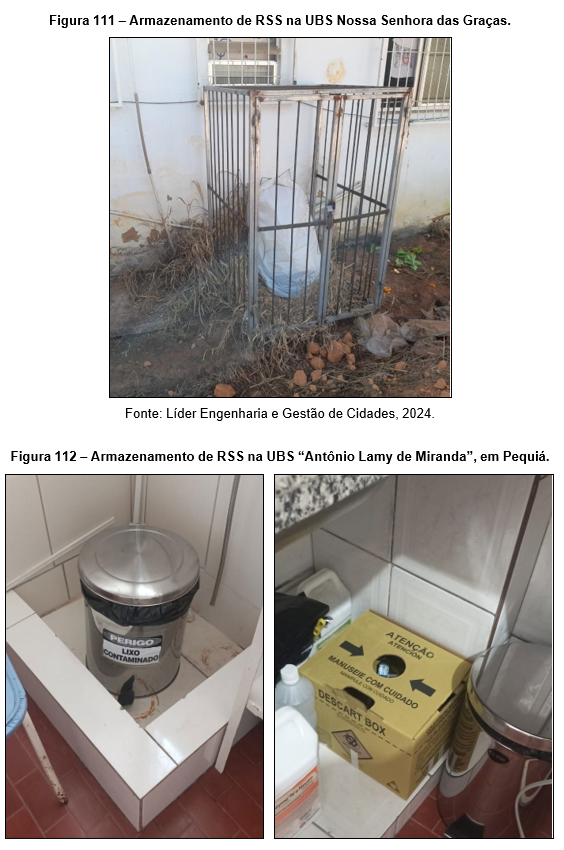
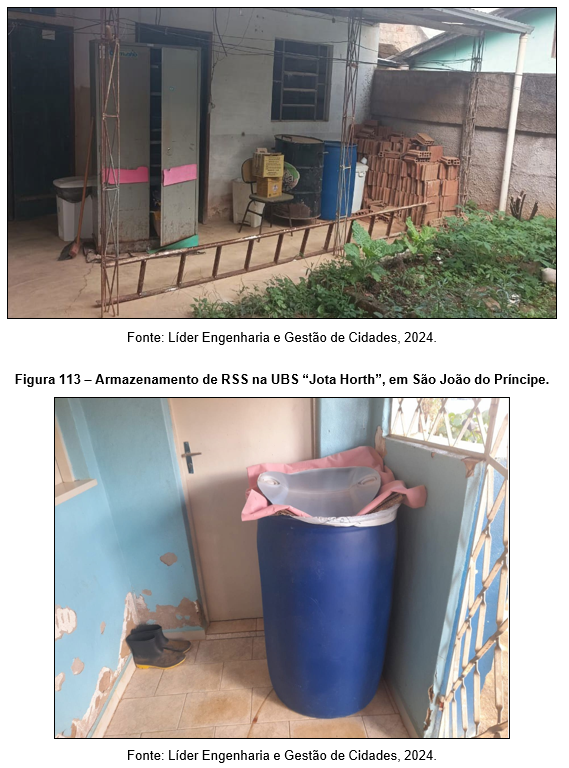
Foi observada uma deficiência em alguns locais de armazenamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), comprometendo a segurança e o cumprimento das normas sanitárias. No distrito de Pequiá, foi relatada uma infestação de pulgas no local de armazenamento, o que representa um risco à saúde pública, devido à possível disseminação de vetores e patógenos, além de comprometer a integridade dos resíduos até sua destinação final.
No distrito de Nossa Senhora das Graças, o local de armazenamento não atende às especificações da Resolução RDC nº 222/2018 da ANVISA, que estabelece as boas práticas de gestão de resíduos de serviços de saúde. Entre as exigências não atendidas, destaca-se a necessidade de uma área exclusiva e ventilada para o armazenamento temporário de resíduos, impermeabilizada e sinalizada adequadamente, além do controle de vetores e condições de segurança para evitar riscos à saúde dos trabalhadores e da comunidade. A ausência de conformidade com essas especificações reforça a necessidade de adequação dos locais de armazenamento de RSS conforme as normativas vigentes.
A coleta dos resíduos é realizada duas vezes por mês pela empresa contratada pela Prefeitura de Iúna (Florestal Coletas e Prestação de Serviços LTDA), utilizando um caminhão baú modelo Ford 815, como mostrado na figura abaixo.

A coleta é realizada no turno matutino e conta com a participação de dois funcionários da empresa contratada. Este modelo de coleta assegura que os resíduos sejam removidos de maneira eficiente e segura, reduzindo o risco de exposição e contaminação.
O transbordo dos resíduos também é realizado pela empresa contratada, que é responsável por transportar os resíduos para locais apropriados para tratamento e disposição final. Esse processo é fundamental para a gestão segura dos RSS, garantindo que eles não representem risco à saúde pública ou ao meio ambiente.
k) Resíduos de Serviços de Saneamento
Os resíduos do saneamento são caracterizados como aqueles gerados a partir dos serviços prestados através do abastecimento de água ou esgotamento sanitário. O processo de tratamento de água ou esgoto, em sua grande maioria e técnicas comumente utilizadas, possui a geração de lodos como um subproduto. A geração de lodos representa um problema ambiental em virtude de possuir uma série de produtos químicos que traz o desequilíbrio da fauna e flora onde são despejados sem nenhum tipo de controle.
A operação de uma estação de tratamento de água para sua potabilização, dada a necessidade de remoção de sólidos e outros poluentes, produz um tipo de lodo que é considerado um resíduo durante o processo. A disposição final do lodo de ETA no Brasil é quase sempre um corpo hídrico.
Pode-se citar como impactos no corpo d’água que recebe o lodo de ETA como destino final o aumento da quantidade de sólidos, aumento de cor e turbidez, redução da penetração de luz e, consequentemente, diminuição da atividade fotossintética e concentração de oxigênio dissolvido, assoreamento, aumento da concentração de alumínio e ferro na água, dependendo do coagulante utilizado no tratamento da água bruta, entre outros. Portanto, o lodo caracteriza um passivo ambiental da indústria do saneamento.
Em Iúna, o lodo da ETE é armazenado em caçamba específica, conforme Figura 115, e a prestadora de serviços é responsável pela coleta, tratamento e disposição final.

i) Resíduos Sujeitos a Logística Reversa
De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos - SINIR, a Logística Reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. O Artigo 3º da Política Nacional dos Resíduos Sólidos define a logística reversa da seguinte forma:
“Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada”.
Ainda, como preconizado na Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305/2010, e regulamentado pelo recente Decreto 10.240/2020, são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso; pilhas e baterias; pneus; óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista e produtos eletroeletrônicos e seus componentes.
Desta forma, classificam-se como resíduos com logística reversa obrigatória todos os resíduos que demandam tratamento especial, como, as pilhas e baterias, os equipamentos eletrônicos, as lâmpadas fluorescentes, os pneus, os óleos lubrificantes e as suas embalagens e as embalagens de agrotóxicos. A Figura 116 ilustra melhor os resíduos com logística reversa obrigatória.
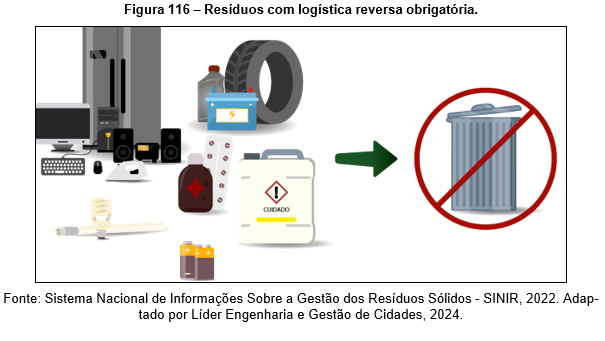
O Artigo 33 da Lei Federal nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), estabelece a responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes na estruturação e implementação da logística reversa. Essa obrigatoriedade é independente do serviço público de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. Entretanto, apesar dessa determinação legal, ainda não foram estabelecidas práticas efetivas pelo Poder Público que incentivem e regulamentem a realização da logística reversa por parte dos responsáveis.
A PNRS, representando um marco para a sociedade brasileira em termos de sustentabilidade, vai além da introdução da Logística Reversa. Ela promove o princípio da Responsabilidade Compartilhada pelo Ciclo de Vida dos Produtos. Nesse contexto, o cidadão, enquanto consumidor, desempenha o papel de responsável por entregar os resíduos nas condições e nos locais definidos pelos sistemas de logística reversa. Por sua vez, o setor privado assume a responsabilidade pelo gerenciamento ambientalmente correto dos resíduos, sua reintegração na cadeia produtiva, inovações nos produtos para benefícios socioambientais, uso racional dos materiais e prevenção da poluição.
A fiscalização desse processo e a conscientização do cidadão são atribuições do Poder Público, que atua de forma compartilhada com os demais responsáveis pelo sistema. A colaboração entre consumidores, importadores, fabricantes, distribuidores e comerciantes é essencial para assegurar que esses resíduos sejam efetivamente reaproveitados, reciclados e tenham uma destinação ambientalmente adequada.
Sendo assim, a Figura 117 mostra de forma resumida como ocorre o sistema da logística reversa.
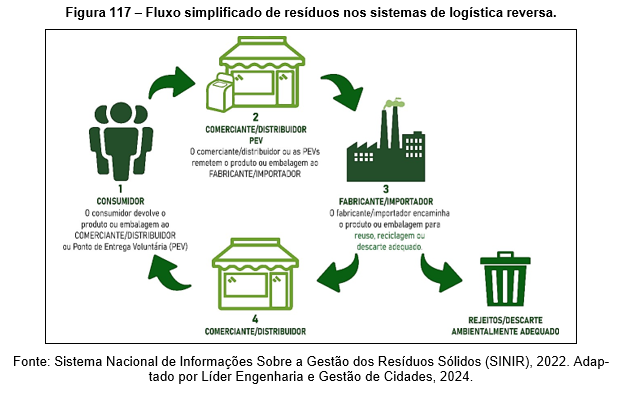
Os resíduos que possuem a logística reversa obrigatória podem ser considerados resíduos de grande dificuldade para a sua gestão, pois são resíduos considerados perigosos em sua grande maioria e de grande geração por parte da população. São resíduos que também possuem um alto custo para a sua reutilização ou reciclagem.
Desta forma, é comum a população, de maneira geral, descartar estes resíduos juntos aos resíduos sólidos domiciliares ou, descartá-los de forma inadequada no ambiente. Em Iúna, existe um Incentivo para o descarte correto de resíduos de logística reversa, através de aquisição de mudas nativas.
· Resíduos Eletrônicos, pilhas e baterias
Dentre os resíduos com logística reversa obrigatória, tem-se os resíduos eletroeletrônicos, que são aqueles cujo funcionamento se dá por meio de correntes elétricas com tensão nominal não superior a 240 volts, podendo ser de grande porte ou não, tais como refrigeradores, microondas, fogões, máquinas de lavar, ar-condicionado (“produtos de linha branca”), assim como computadores, telefones, televisores, celulares, drones, cartuchos e toners, por exemplo (ABRELPE, 2021).
De acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, elaborado pela Abrelpe em 2022, no país existem duas entidades gestoras responsáveis pela logística reversa de resíduos eletroeletrônicos, a Abree - Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos e a Green Eletron - Gestora para Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos Nacional.
A Abree informou que até o presente momento da elaboração do panorama, existiam naquele ano um total de 3.417 pontos de recebimento espalhados entre 1.224 municípios. (ABRELPE, 2022). Ainda de acordo com a Abree, a quantidade de resíduos eletroeletrônicos e eletrodomésticos coletada e destinada de forma ambientalmente correta para reciclagem em 2021 foi de 1.245 toneladas.
Para o sistema Green Eletron (Gestora para Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos Nacional), em 2021 foram coletados e destinados de forma ambientalmente adequada 715,83 toneladas de resíduos eletroeletrônicos. (ABRELPE, 2022).
No caso das pilhas e baterias, estes, são equipamentos eletroquímicos que funcionam como miniusinas portáteis e possuem a habilidade de converter a energia química em energia elétrica. As pilhas e baterias podem ser classificadas de diversas formas, dependendo do formato, composição e sua finalidade. Para o recolhimento de resíduos eletroeletrônicos, pilhas e baterias os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes destes produtos devem disponibilizar aos consumidores, pontos de entrega para o recebimento destes materiais ao se tornarem inservíveis e o consumidor, deve descartar seus resíduos eletroeletrônico, pilhas e baterias no ponto de entrega mais próximo.
Dos pontos de entrega o material é transportado até o local de triagem e posteriormente, é transportado para empresas de reciclagem. Desta forma, a Figura 118 e a Figura 119 ilustram, resumidamente, o ciclo da logística reversa dos eletroeletrônicos e seus componentes e o ciclo da logística reversa das pilhas e baterias.
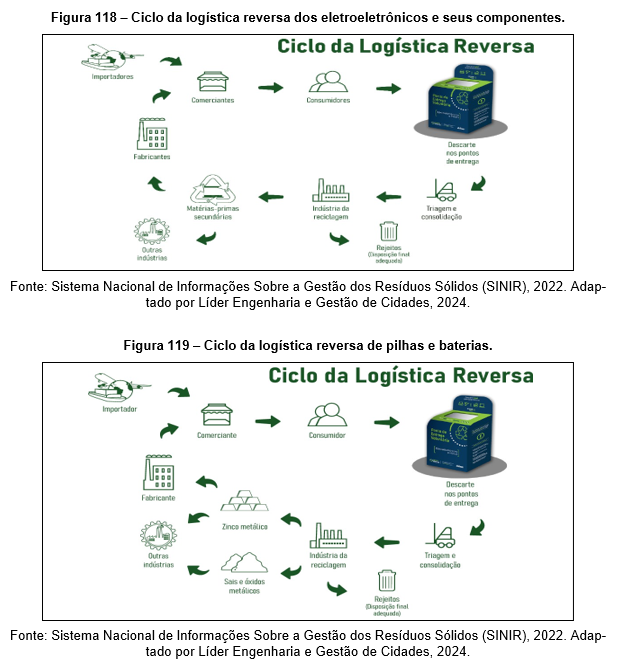
De acordo ainda com a ABRELPE (2021), do momento da implantação, sendo o ano de 2016, até o ano de 2020, foram destinados corretamente mais de 528 tone- ladas de resíduos eletrônicos e 1.793 toneladas de pilhas e baterias. Sendo assim, é muito importante que se estabeleçam mais destes mecanismos para que o consumidor possa efetuar a devolução destes produtos, para que o setor empresarial se encarregue de sua destinação final ambientalmente adequada, através de inciativas promovidas pela ABREE e pela Green Eletron.
Em Iúna, não existem pontos de coleta deste tipo de resíduo, segundo informação pesquisada diretamente no site da Green Eletron. Porém, é feita uma campanha anual de coleta de eletrônicos, de iniciativa pública, conforme mostra a figura a seguir.
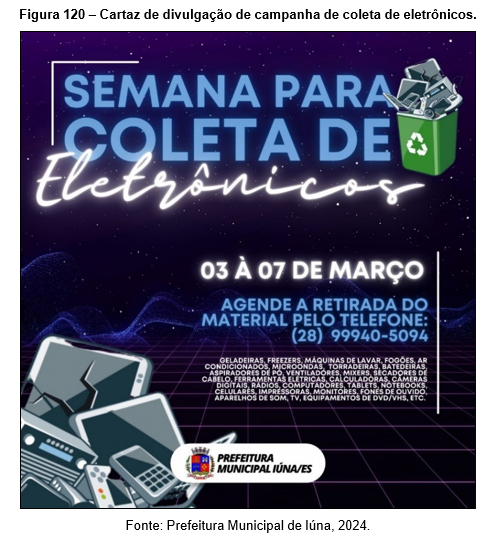
· Lâmpadas Fluorescentes, de Vapor de Sódio, Mercúrio e Luz Mista
A produção brasileira de lâmpadas é ínfima comparada à atual importação, a grande quantidade de lâmpadas no mercado brasileiro é oriunda de importações principalmente da China. Não existem pesquisas conclusivas sobre a quantidade de lâmpadas comercializadas, portanto, os dados podem apresentar diferenças a partir de cada fonte. Segundo ABRELPE - 2021, no ano de 2019 foram destinadas 4.412.067
lâmpadas de forma ambientalmente adequada, destas, 1.791.161 são lâmpadas compactas fluorescentes e 2.620.906 de lâmpadas tubulares, o que equivale a 261.509,5 kg e 382.652,3 Kg, respectivamente.
Estas lâmpadas foram recolhidas por noventa e uma empresas associadas, em 1.930 pontos de coleta instalados em 429 municípios brasileiros, localizados em vinte e seis estados mais o Distrito Federal, atendendo a 81% da população brasileira. A Figura 121 mostra os números do total coletado.
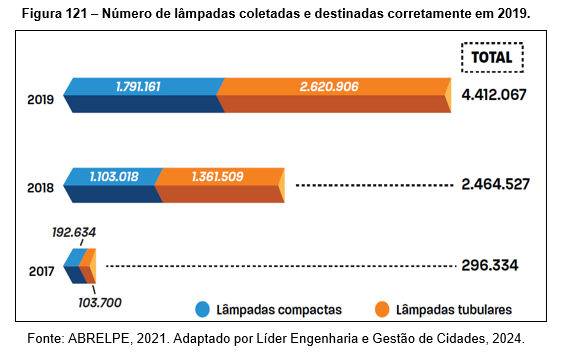
Conforme expõe a Associação Brasileira para a Gestão da Logística Reversa de Produtos de Iluminação (Reciclus), de acordo com o último relatório anual disponível (2020) haviam 2.124 pontos de coletas instalados por 465 municípios, e também associação com 99 empresas colaboradoras, promovendo então a coleta e destinação adequada de 6.351.257 unidades de lâmpadas (ABRELPE, 2022).
Também de acordo com a Reciclus, desde o começo de suas atividades em 2017, até o ano de 2021, foram coletadas 20.138.214 unidades de lâmpadas em 3.043 pontos de coleta distribuídos no Brasil (SINIR, 2023).
Desta forma, a Figura 122 ilustra o ciclo da logística reversa das lâmpadas.
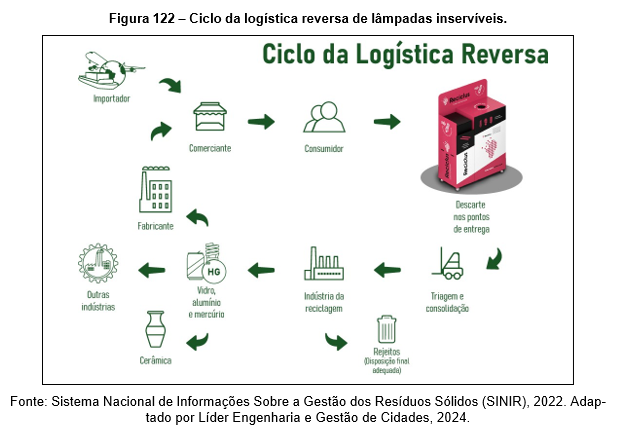
A separação de lâmpadas inservíveis tem certo nível de complexidade maior, pois a fim de evitar quebra durante o transporte, devem ser embaladas individualmente, de preferência na posição vertical, identificadas e encaminhadas para empresas licenciadas. Além de haver o cuidado de separar as quebradas das demais, em recipientes herméticos com vedação adequada (MOURÃO; SEO, 2012).
No Município de Iúna, o descarte de Lâmpadas fluorescentes inservíveis deve ser realizado nos próprios locais de compra a partir da responsabilidade compartilhada entre os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores.
· Pneus Inservíveis
Desde 1999, anterior à promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, os pneus já eram sujeitos à logística reversa no Brasil. Essa medida foi adotada devido ao impacto ambiental significativo causado pela disposição inadequada ou abandono de pneus inservíveis, que representam um passivo ambiental potencialmente prejudicial ao ecossistema. A destinação inadequada de pneus usados resulta em sérios riscos ao meio ambiente, gerando diversos problemas.
Quando descartados de maneira inadequada em ambientes abertos, os pneus podem acumular água, transformando-se em criadouros propícios para a proliferação de mosquitos transmissores de doenças como a dengue. Conforme o Sistema Nacio- nal de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR), para cada pneu novo comercializado no mercado de reposição, as empresas fabricantes ou importadoras têm a responsabilidade de garantir a destinação adequada de um pneu inservível, promovendo assim a prática da logística reversa como medida essencial para o manejo ambientalmente correto desses materiais.
Os fabricantes e os importadores de pneus novos, devem implementar pontos de coletas de pneus usados, podendo envolver os pontos de comercialização de pneus, os municípios, borracheiros e outros. O sistema de logística reversa funciona por meio de parcerias, em geral com prefeituras, que podem disponibilizar áreas de armazenamento temporário para os pneus inservíveis.
Os pneus dispostos inadequadamente constituem passivo ambiental que pode resultar em sério risco ao meio ambiente e à saúde pública. O ideal é que este resíduo seja destinado o mais próximo possível de seu local de geração, de forma ambientalmente adequada e segura.
Em Iúna, os pneus são coletados pelos catadores, ou levados até o almoxarifado central da Prefeitura (235.188 E/ 7.748.070 S). Os que possuem condições de reaproveitamento são encaminhados recauchutagem em empresas especializadas.
Não existe cadastro específico e controle para os estabelecimentos geradores dessa tipologia de resíduos em Iúna por parte da Prefeitura.
A Figura 123 ilustra o ciclo da logística reversa de pneus inservíveis.
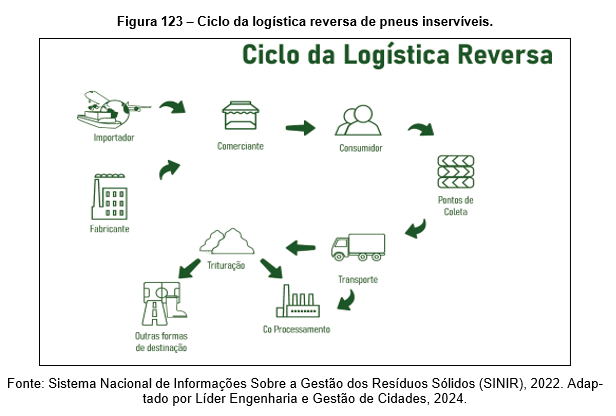
· Embalagem de agrotóxicos
A gestão de resíduos na atividade agrícola, especialmente no que se refere às embalagens de agrotóxicos, é um aspecto fundamental para a sustentabilidade ambiental. A legislação brasileira, especificamente a Lei Federal nº 9.974/2000, conhecida como Lei do Agrotóxico, estabelece diretrizes para a destinação final adequada dessas embalagens, impondo responsabilidades aos agricultores, revendedores e fabricantes.
As embalagens de agrotóxicos são consideradas resíduos que demandam tratamento especial devido aos riscos à saúde humana e ao meio ambiente associados aos produtos químicos que contêm. A logística reversa nesse contexto implica que os distribuidores e fornecedores sejam responsáveis pela correta destinação dessas embalagens.
O processo de logística reversa para embalagens de agrotóxicos inicia-se no momento da venda do produto, com o agricultor sendo informado sobre os procedimentos de lavagem, acondicionamento, armazenamento, transporte e devolução das embalagens vazias. Os usuários têm até um ano, contado da data de compra, para devolver as embalagens aos estabelecimentos comerciais.
O agricultor é responsável por realizar a lavagem das embalagens no campo, seguindo normas técnicas como a "tríplice lavagem" e a lavagem sob pressão. Os estabelecimentos comerciais, por sua vez, devem dispor de instalações adequadas para receber e armazenar temporariamente as embalagens devolvidas pelos usuários até que sejam recolhidas pelas empresas titulares do registro, produtoras e comercializadoras.
Essas empresas são responsáveis pelo recolhimento, transporte e destinação final ambientalmente adequada das embalagens vazias. No caso de produtos importados, a responsabilidade recai sobre a pessoa física ou jurídica responsável pela importação.
Desta forma, a Figura 124 ilustra resumidamente o ciclo da logística reversa das embalagens de agrotóxicos.
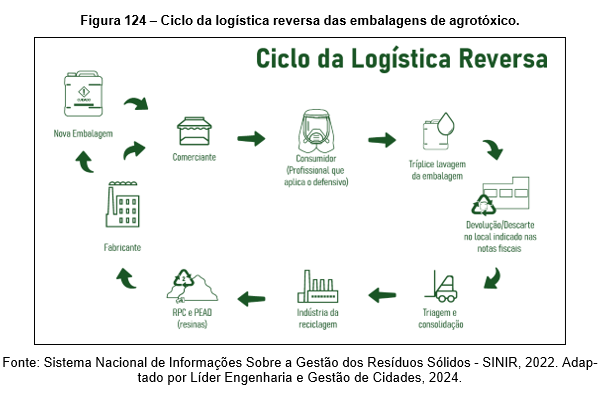
O Brasil é referência mundial na logística reversa de embalagens de agrotóxicos, com 93% de resolutividade, seguido da França (77%), Canadá (73%) e Polônia (70%). Segundo o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (in- pEV), 550 mil toneladas de embalagens vazias foram destinadas desde 2002, 45.563 apenas em 2019. Sendo assim, 94% das embalagens plásticas primárias comercializadas no Brasil têm destinação ambientalmente adequada.
Em 2019 existiam 411 unidades de recebimento no país (304 postos e 107 centrais) e, foram realizadas 4,5 mil ações de recebimento itinerantes em 2019, evitando a emissão de 752 mil toneladas de CO2.
Em Iúna, a Secretaria de Agricultura é responsável por gerir este tipo de resíduo e seus geradores.
· Resíduos de Óleos Lubrificantes
A gestão adequada de óleos lubrificantes usados ou contaminados é fundamental para prevenir impactos negativos à saúde e ao ambiente, especialmente devido à presença de metais pesados em sua composição. O governo tem implementado legislações para regulamentar o transporte, armazenamento e a destinação correta desses resíduos.
A troca de óleo lubrificante em veículos, realizada em concessionárias, postos de gasolina e oficinas, está sujeita a regulamentações que visam garantir a manipulação e armazenamento seguros desse produto. Conforme a Resolução CONAMA nº 362/2005, é essencial que o armazenamento de óleos lubrificantes usados e contaminados seja feito de maneira segura, em locais de fácil coleta, evitando vazamentos e a mistura com outros produtos.
A coleta e destinação desses óleos, de acordo com a Resolução nº 20/2009 da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), devem ser realizadas exclusivamente por empresas credenciadas junto ao órgão responsável. Es- sas empresas têm obrigações específicas, como a emissão do certificado de coleta, notas fiscais, armazenagem adequada e destinação correta dos resíduos. Esse processo assegura que os óleos lubrificantes usados sejam tratados de forma ambientalmente responsável, contribuindo para a preservação do meio ambiente e prevenção de danos à saúde pública.
A Figura 125 ilustra como ocorre o ciclo da logística reversa dos óleos lubrificantes.
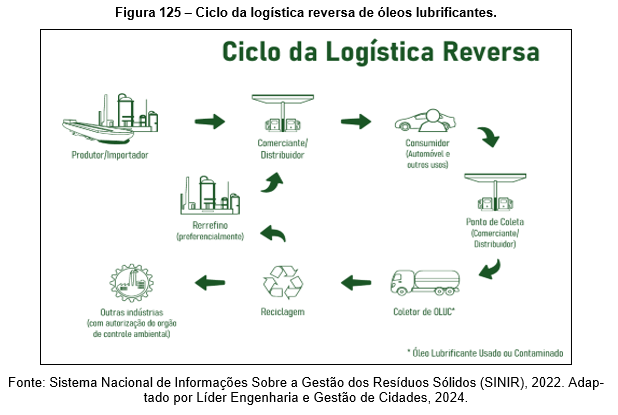
Segundo dados da ABRELPE, 2017, o instituto Jogue Limpo, criado pelo Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom), é a entidade responsável pelo cumprimento do primeiro Acordo Setorial assinado com o ministério do Meio Ambiente, ao final do ano de 2012.
Atualmente, o programa está presente em quinze estados e no Distrito Federal, cobrindo 4.153 municípios com 41.755 geradores cadastrados e 25.780 geradores ativos. No ano de 2017, o programa recebeu 4.742 toneladas de embalagens plásticas, e enviou 4.551 toneladas para reciclagem. O número de óleos lubrificantes pós- uso coletadas entre 2010 e 2017 registrou uma queda de 1,1% na quantidade de unidades processadas de 2016 para 2017.
Não existe cadastro específico para os estabelecimentos geradores dessa tipologia de resíduos em Iúna por parte da Prefeitura. Os postos de combustíveis que operam na cidade realizam a destinação de resíduos de óleos lubrificantes para empresas terceirizadas credenciadas às redes em qual operam, assim como oficinas.
m) Gestão de resíduos de responsabilidade dos geradores
De forma resumida, o Quadro 26 apresenta como são geridos os resíduos de responsabilidade dos geradores.
Quadro 26 – Síntese sobre a gestão dos resíduos de responsabilidade dos geradores.
| Tipologia | Gestão Atual |
| Resíduos Industriais (RI) | A prefeitura não apresentou nenhum estudo com informações sobre os resíduos industriais gerados no município. |
| Resíduos dos Serviços de Transporte (RST) | Não há, por parte do município, a exigência quanto à gestão diferenciada deste tipo de resíduo por parte do gerador. |
| Resíduos de Mineração (RM) | O município não realiza gestão sobre os resíduos de mineração. |
| Resíduos Agrossilvopastoris (RASP) | O município não realiza gestão sobre os resíduos agrossilvopastoris. |
| Resíduos de Óleos de Cozinha (ROC) | Não foi identificado no município programas de coleta seletiva de resíduos de óleos de cozinha. |
No que se refere aos resíduos industriais (RI), a prefeitura não disponibilizou nenhum estudo ou informação sobre a quantidade ou a natureza desses resíduos gerados no município, indicando uma falta de monitoramento e controle nessa área. Em relação aos resíduos dos serviços de transporte (RST), não há exigência municipal para uma gestão diferenciada por parte dos geradores, resultando em uma possível ausência de controle sobre o destino final desses resíduos.
Para os resíduos de mineração (RM), o município também não realiza qualquer tipo de gestão, deixando um potencial área de impacto ambiental sem regulamentação. Da mesma forma, não há gestão sobre os resíduos agrossilvopastoris (RASP), o que pode afetar a sustentabilidade das atividades agropecuárias e florestais locais. Além disso, não foram identificados programas de coleta seletiva para resíduos de óleos de cozinha (ROC), mostrando uma oportunidade perdida para reciclagem e redução de impactos ambientais negativos desses resíduos no sistema de esgoto e nos corpos d'água.
9.1.5 Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do município de Iúna (ASCOMRI)
A Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do Município de Iúna (ASCOMRI) é uma entidade sem fins lucrativos, formalmente estabelecida em 12 de novembro de 2014, com o CNPJ 21.486.823/0001-49. Localizada no Córrego do Bálsamo, s/n, Zona Rural, Iúna, Espírito Santo, CEP 29390-000, a ASCOMRI desempenha um papel importante na gestão de resíduos sólidos no município, promovendo a inclusão social e econômica dos catadores e contribuindo para a sustentabilidade ambiental. A Figura 126 traz imagens das dependências da Associação. A localização do galpão compreende as seguintes coordenadas:
Quadro 27 – Coordenadas (UTM) do galpão da ASCOMRI em Iúna.
| X | Y |
| 236.321,71 | 7.747.585,64 |
| 236.319,52 | 7.747.571,20 |
| 236.337,35 | 7.747,567,17 |
| 236.338,80 | 7.747.583,63 |


A associação foi criada em resposta à necessidade de organização dos cata- dores de materiais recicláveis de Iúna, que, anteriormente, operavam de forma isolada e sem apoio institucional. A formalização da associação permitiu uma melhor coordenação das atividades de coleta, triagem e comercialização dos materiais recicláveis, além de assegurar melhores condições de trabalho para os catadores. Desde sua fundação, a ASCOMRI vem consolidando suas atividades, estabelecendo parcerias e buscando melhorias contínuas para seus associados.
A ASCOMRI é composta por 6 membros associados que desempenham a maior parte das atividades operacionais, não havendo catadores independentes. Em períodos de maior demanda, são contratados trabalhadores adicionais para suprir as necessidades operacionais. A estrutura organizacional inclui uma diretoria responsável pela administração e gestão das atividades da associação, cujas principais funções envolvem a coordenação das operações de coleta e triagem, gestão financeira, estabelecimento de parcerias e promoção de programas de capacitação para os catadores.
A ASCOMRI realiza a coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos, que são encaminhados para um centro de triagem, onde os materiais são separados, classificados e preparados para a comercialização. A infraestrutura da associação inclui uma prensa hidráulica, que atualmente encontra-se em estado ruim de conservação, e uma mesa de triagem em condições normais, construída pela própria ASCOMRI.
Os rejeitos que não podem ser reciclados são destinados a uma área de transbordo municipal, de onde são enviados para uma unidade de aterro licenciada. Esse processo garante a destinação ambientalmente adequada dos resíduos, contribuindo para a redução dos impactos ambientais associados ao descarte inadequado.
A associação elabora anualmente um plano de ação para a coleta seletiva, que é submetido à Prefeitura Municipal de Iúna para aprovação. Este plano é construído de forma participativa, envolvendo os associados, representantes do comércio, asso- ciações de bairro e o poder público. A participação comunitária é essencial para o sucesso das iniciativas de coleta seletiva e para a promoção de práticas sustentáveis no município.
A Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do Município de Iúna (ASCOMRI) é um exemplo de organização comunitária que alia sustentabilidade ambiental à inclusão social e econômica. Seu papel é vital na gestão de resíduos sólidos do município, promovendo práticas sustentáveis e contribuindo para a conscientização ambiental da população. Com o fortalecimento de suas atividades e parcerias, a ASCOMRI tem o potencial de expandir ainda mais suas contribuições para a comunidade de Iúna e para o meio ambiente como um todo.
9.1.6 Estação de Transbordo
A Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos do município de Iúna está localizada na Rodovia Coronel Leoncio V. Resende, ES-185, Niterói, Iúna, com coordenadas UTM 235.403 mE / 7.745.884 mN. A operação da estação é regulamentada pela Licença Municipal de Operação (LMO) Nº 006/2023, vinculada ao Processo Nº 0001221/2021, com validade de 1460 dias a partir da data de expedição, em 06 de abril de 2023.
A estação de transbordo desempenha um papel essencial na gestão de resíduos sólidos do município, transferindo os resíduos de caminhões coletores para veículos de maior capacidade, que então transportam os resíduos até a central de tratamento em Cachoeiro de Itapemirim.
O local conta com sistema de iluminação, tanto na estrada de acesso quanto no pátio de operação, cobertura, piso de concreto impermeabilizado, canaleta de drenagem de chorume em concreto no piso inferior e superior, além de caixa coletora de chorume.
A Figura 127 apresenta o registro fotográfico efetuado nas dependências da área do transbordo de Iúna, durante visita técnica em junho de 2024.
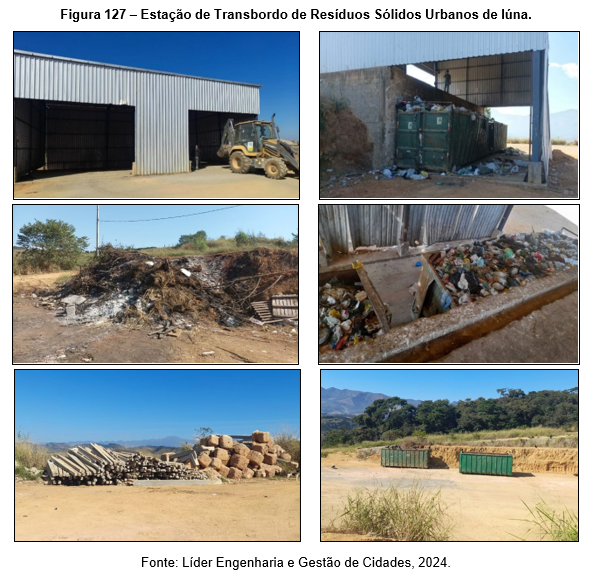
A estrutura da estação é reconhecida como referência no estado, atraindo representantes de outros municípios interessados em conhecer e implementar sistemas semelhantes em suas localidades. A área disponível na estação é suficientemente ampla, permitindo a instalação de um sistema de triagem de resíduos, o que potencializaria ainda mais a eficiência do manejo de resíduos sólidos no município.
A implementação de sistemas de triagem permitiria a separação e o encaminhamento adequado de materiais recicláveis, reduzindo a quantidade de resíduos destinados aos aterros sanitários e promovendo a sustentabilidade ambiental. A estação de transbordo de Iúna, portanto, não só melhora a eficiência operacional, mas também contribui para a gestão ambientalmente responsável dos resíduos sólidos.
9.1.7 Tratamento e Destinação final dos Resíduos Sólidos
A PNRS traz uma distinção muito importante para o correto manejo dos resíduos sólidos quanto ao conceito de destinação e disposição final. Ela parte do pressuposto da conceituação de resíduo e rejeito, sendo que o primeiro é aquele material fruto das atividades humanas descartado ao fim de seu uso e que ainda pode ter utilidade ou valor econômico agregado, quando redirecionado novamente para o processo por meio da reutilização ou reciclagem; enquanto que o rejeito é o material que, após esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada.
Ainda, segundo o inciso VII do artigo 3º da Política Nacional de Resíduos Sóli- dos (PNRS), a destinação final diz respeito “a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa”.
Já a disposição final ambientalmente adequada, segundo o inciso VIII do mesmo artigo, consiste na “distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos”.
A PNRS (BRASIL, 2010) determina que os resíduos sólidos devam ser tratados e recuperados por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, antes de sua disposição final. São exemplos de tratamentos passíveis de serem aplicados no país a compostagem, a recuperação energética, a reciclagem e a disposição em aterros sanitários (CEMPRE, 2018).
O aterro sanitário é a maneira considerada ambientalmente correta para a eliminação dos rejeitos, ou seja, uma operação que não visa, como fim, sua valorização. Já a utilização do resíduo como combustível para a produção de energia, a compostagem e a reciclagem são operações de valorização, ou seja, operações cujo resultado principal seja sua transformação, de modo a servir a um fim útil (SILVA FILHO & SOLER, 2013).
Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) (2008), as seguintes definições são consideradas:
· Lixão: vazadouro a céu aberto, sem controle ambiental e nenhum tratamento ao lixo, onde pessoas têm livre acesso para mexer nos resíduos e até montar mora- dias em cima deles. Sendo, ambientalmente e socialmente, a pior situação encontrada ao se tratar de resíduos. É o mesmo que descarga a “céu aberto”, sendo considerada inadequada e ilegal, segundo a legislação brasileira., assim como mostra a Figura 128.
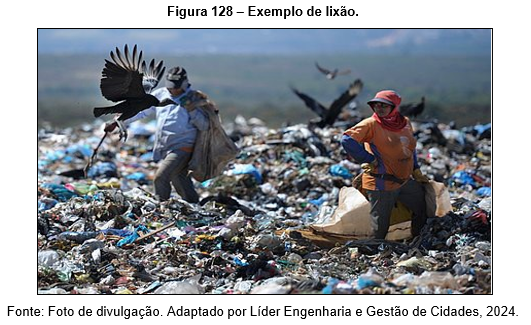
· Aterro controlado: instalação destinada à disposição de resíduos sólidos urbanos, na qual alguns ou diversos tipos e/ou modalidades objetivas de controle sejam periodicamente exercidos, quer sobre o maciço de resíduos, quer sobre seus efluentes. Admite-se, desta forma, que o aterro controlado se caracterize por um estágio intermediário entre o lixão e o aterro sanitário, conforme mostra a Figura 129.
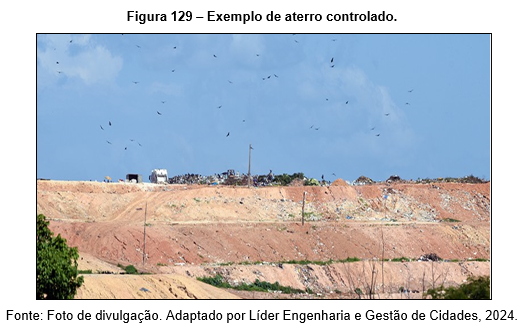
· Aterro sanitário: instalação de destinação final dos resíduos sólidos urbanos por meio de sua adequada disposição no solo, sob controle técnico e operacional permanente, de modo a que, nem os resíduos, nem seus efluentes líquidos e gasosos, venham a causar danos à saúde pública e ao ambiente, conforme mostra a Figura 130.

A Constituição Federal (CF) de 1988, Cap. VI, Art.225 estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, atribuindo ao Poder Público, e à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (CF, 1988).
A disposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos representa um grave passivo ambiental para a maioria dos municípios brasileiros, configurando-se, inclusive, como um problema ambiental e de saúde pública, contrariando assim o Art. 225. Sendo assim, a Tabela 62 apresenta a comparação entre a disposição final adequada e inadequada no Brasil, para os anos de 2019, 2021 e 2022, segundo a Abrelpe.
Tabela 62 – Disposição final de Resíduos Sólidos no Brasil.
| Ano | Tipo | Ton/Ano | % |
| 2021 | Disposição adequada | 45.802.448 | 60,5 |
| Disposição inadequada | 30.277.390 | 39,5 | |
| 2022 | Disposição adequada | 43.812.217 | 61,1 |
| Disposição inadequada | 27.917.624 | 38,9 |
Em 2022, foram coletados 93% dos resíduos sólidos gerados no Brasil, totalizando 71,7 milhões de toneladas. Deste montante, 27,9 milhões de toneladas foram destinadas aos mais de 3.000 lixões estimados no país. Adicionalmente, os 7% de resíduos não coletados, equivalentes a 5,3 milhões de toneladas, também foram descartados de forma inadequada.
Assim, estima-se que cerca de 33,3 milhões de toneladas de resíduos tiveram destinação ambientalmente inadequada no Brasil em 2022. No que se refere à dispo- sição final ambientalmente adequada, os índices mostraram pouca variação: a porcentagem de resíduos sólidos urbanos (RSU) enviados para aterros sanitários aumentou de 60,5% em 2021 para 61,1% em 2022.
O Consórcio Público para Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Sul Serrana do Estado do Espírito Santo (CONSUL) é uma iniciativa que envolve 31 municípios, sendo eles: Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.
Este consórcio tem como objetivo promover o tratamento e a destinação final adequada dos resíduos sólidos gerados nesses municípios, buscando soluções integradas e eficientes para a gestão dos resíduos, com ênfase na proteção ambiental e na sustentabilidade. A atuação conjunta dos municípios visa otimizar recursos e implementar práticas que reduzam o impacto ambiental dos resíduos sólidos na região sul serrana do Espírito Santo.
No município de Iúna, os resíduos coletados são destinados a um aterro sani- tário, devidamente licenciado para tratamento e disposição final de resíduos sólidos classe I, II-A e II-B, operado pela Central de Tratamento de Resíduos Cachoeiro de Itapemirim Ltda (CTRCI), localizado na Rua Gelson Gava, nº 335, Morro Grande, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP: 29.322-000. As coordenadas geográficas do local são Latitude: 20°47'8.17"S e Longitude: 41°10'4.31"O (Figura 131).
A licença de operação do aterro não impõe restrições à capacidade de recebimento de resíduos. A vida útil estimada do aterro é de 30 anos e possui uma área de 1.047.791,64 m². As instalações do aterro incluem uma balança, guarita e quatro poços de monitoramento para assegurar o controle ambiental.
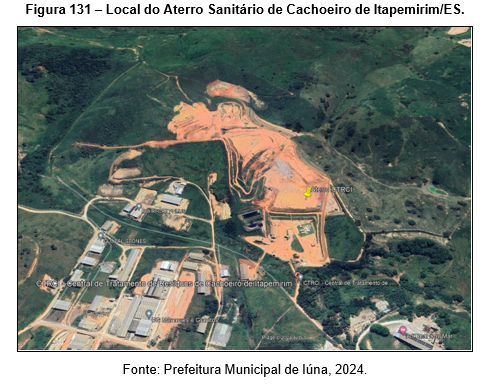
Atualmente, há duas pilhas de resíduos no aterro, denominadas Pilha A e Pilha B, conforme mostra a Figura 132. Essas pilhas serão unificadas com a verticalização da área. A Pilha A possui uma área basal de 59.285,22 m² e uma área do topo de 10.129,04 m². A cota da base é de 110,63 m, enquanto a cota do topo é de 127,18 m. A estimativa de volume para a Pilha A é de 813.534,78 m³.
A Pilha B, por sua vez, apresenta uma área basal de 30.766,82 m² e uma área do topo de 21.757,14 m². A cota da base é de 90,99 m e a cota do topo é de 99,91 m. A estimativa de volume para a Pilha B é de 234.256,86 m³.
Com a unificação das Pilhas A e B, a estimativa total de volume do aterro é de 1.047.791,64 m³.

Abaixo, seguem imagens com registros fotográficos do local.
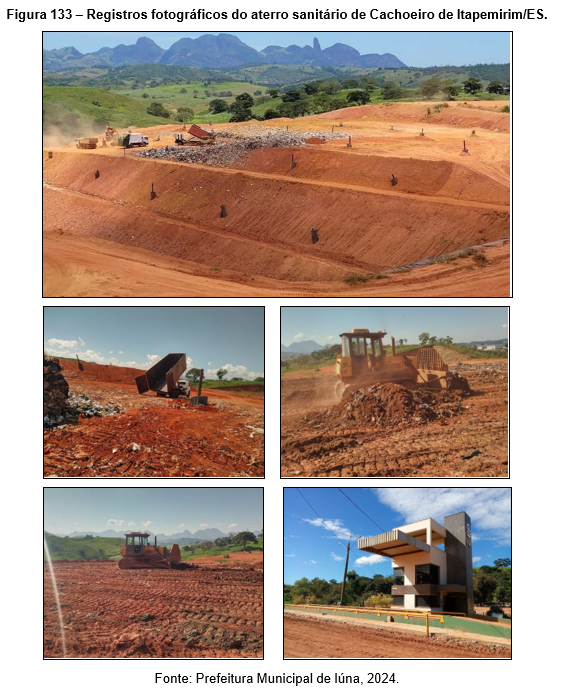
9.1.8 Identificação dos Geradores Responsáveis pela Elaboração de PGRS
A necessidade de se conhecer os tipos de resíduos gerados em um determinado município, assim como, o gerador e a sua destinação final, são imprescindíveis para que não ocorram impactos negativos na saúde dos indivíduos e danos ao ambiente, bem como para planejar e operar a sua correta gestão.
Em geral, a gestão de resíduos sólidos deve ser caracterizada por um processo que inclui implementação de soluções, procedimentos e regras para organizar a geração, a coleta, o armazenamento, o transporte e a destinação dos resíduos e, quando esgotadas as possibilidades anteriores, o tratamento e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
Segundo a PNRS, Lei nº 12.305/2010, Art. 13, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação:
“I - Quanto à origem:
a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas;
b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;
c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;
d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;
e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;
f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;
g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;
h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis;
i) resíduos agrossilvipastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;
j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;
k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios;
II - Quanto à periculosidade:
a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de in- flamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcino- genicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regula- mento ou norma técnica;
b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”.
A PNRS determina também, em seu artigo 20, quem está sujeito à elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. O Quadro 28 ilustra melhor esta determinação.
Quadro 28 – Geradores sujeitos ao plano de gerenciamento de resíduos sólidos.
| Geradores sujeitos ao plano de gerenciamento específico | Estabelecimentos | Tipos de resíduos gerados |
| Serviços públicos de saneamento básico. | ETAs e ETEs. | Lodo dos leitos de secagem e lodo de lavagem dos filtros. |
| Estabelecimentos que prestam Serviços de Saúde. | Unidades de Atendimento Básico de Saúde, Clínicas Particulares, Laboratórios de análises clínicas, veterinários, clínicas de estética, etc. | Resíduos de Serviços de Saúde – RSS. |
| Estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que geram resíduos perigosos. | Serviços de usinagem, tornearia e solda, oficinas mecânicas, serviços de lanternagem, funilaria e pintura de veículos automotores, serviços de lavagem, lubrificação e polimentos de veículos, postos de combustível. | Resíduos perigosos. |
| Estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que geram resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo Poder Público municipal. | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, supermercados, açougues e peixarias. | Restos de frutas e hortaliças, restos de carnes e ossos, restos de suprimentos, orgânicos em geral, papel e papelão. |
| Empresas de construção civil. | Incorporações de empreendimentos imobiliários, construtoras, empresas de terraplanagem, comércios de materiais de construção, empresas de caçambas de entulho. | Resíduos de Construção Civil e Demolições. |
| Serviços de transportes: portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira. | Rodoviária, terminal alfandegário e porto. | Resíduos de Transporte. |
| Atividades agrícolas. | Propriedades rurais. | Insumos utilizados nas atividades agrícolas como embalagens. |
Abaixo serão transcritos os artigos da PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tratam exclusivamente dos geradores e do Poder Público.
“Art. 25. O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento
. Art. 26. O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos é responsável pela organização e prestação direta ou indi- reta desses serviços, observados o respectivo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, a Lei nº 11.445, de 2007, e as disposições desta Lei e seu regulamento.
Art. 27. As pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 são responsáveis pela implementação e operacionalização integral do plano de gerenciamento de resíduos sólidos aprovado pelo órgão competente na forma do art. 24.
§ 1o A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos, não isenta as pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerencia- mento inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos.
§ 2o Nos casos abrangidos pelo art. 20, as etapas sob responsabilidade do gerador que forem realizadas pelo poder público serão devidamente remuneradas pelas pessoas físicas ou jurídicas responsáveis, observado o disposto no § 5o do art. 19.
Art. 28. O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua responsabilidade pelos resíduos com a disponibilização adequada para a coleta ou, nos casos abrangidos pelo art. 33, com a devolução.
Art. 29. Cabe ao poder público atuar, subsidiariamente, com vistas a minimizar ou cessar o dano, logo que tome conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde pública relacionado ao gerenciamento de resíduos sóli- dos.
Parágrafo único. Os responsáveis pelo dano ressarcirão integralmente o poder público pelos gastos decorrentes das ações empreendidas na forma do caput”.
Em relação à responsabilidade compartilhada a Lei nº. 12.305/2010 delibera que é instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoante as atribuições e procedimentos previstos. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos tem por objetivo:
“I - Compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos de gestão empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, desenvolvendo estratégias sustentáveis;
II - Promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas;
III - reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos ambientais;
IV - Incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e de maior sustentabilidade;
V - Estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis;
VI - Propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade;
VII - incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental”.
Segundo o Ministério do Meio Ambiente na responsabilidade compartilhada aos geradores domésticos caberá a segregação e o descarte adequado dos resíduos sólidos em seus domicílios; ao poder público, a limpeza pública e manejo de resíduos sólidos; e, ao setor privado, a logística reversa. Quanto ao setor privado entende-se que sejam os grandes geradores.
Com o objetivo de fortalecer a responsabilidade compartilhada, a PNRS esta- belece responsabilidade aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes que abrangem a fabricação de produtos que sejam aptos à reutilização, à reciclagem ou a outra forma de destinação ambientalmente adequada e que gerem em sua fabricação a menor quantidade de resíduos possível.
Os consumidores e munícipes também tem suas obrigações quando estabelecido o sistema de coleta seletiva pelo município, como o acondicionamento adequado e diferenciado dos resíduos sólidos gerados e a disponibilização adequada dos mesmos para coleta ou devolução.
Ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, cabe, na esfera da responsabilidade compartilhada, conforme o Art.36 da Lei nº. 12.305/10:
“I - Adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;
II - Estabelecer sistema de coleta seletiva;
III - Articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis ori- undos dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;
IV - Realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso na forma do art. 33 da Lei nº 12.305, mediante a devida remuneração pelo setor empresarial;
V - Implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido;
VI - Dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos”.
A PNRS determina que o titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos deve priorizar a organização e o funcionamento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, bem como sua contratação.
O Decreto Nº 083/2022 institui responsabilidades aos Grandes Geradores de Resíduos Sólidos no âmbito do município de Iúna, Estado do Espírito Santo, em conformidade com a Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Este decreto reconhece a responsabilidade comparti- lhada entre o Poder Público, o setor empresarial e a coletividade para a efetividade das ações voltadas à gestão de resíduos sólidos.
Segundo o decreto, são definidos como Grandes Geradores de Resíduos Sólidos em Iúna:
· Estabelecimentos com resíduos Classe 2 (ABNT NBR 10.004): volume superior a 0,2 m³ diários;
· Estabelecimentos com resíduos inertes: massa superior a 50 kg diários (média mensal);
· Condomínios de edifícios não residenciais ou de uso misto: volume médio diário igual ou superior a 1 m³ de resíduos Classe 2.
Os Grandes Geradores devem se cadastrar junto à Secretaria de Meio Ambiente e Limpeza Pública, no prazo de 30 dias a partir da publicação do decreto, fornecendo o alvará de funcionamento, comprovante de inscrição no CNPJ, certidão de regularidade fiscal municipal, plano de gerenciamento de resíduos sólidos assinado por responsável técnico, cédula de identidade e CPF do responsável legal, além do contrato de prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos.
Além disso, os Grandes Geradores são obrigados a contratar serviços privados para coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos. Eles devem promover a coleta seletiva na origem, separando os resíduos em secos e úmidos, e encaminhando materiais recicláveis às cooperativas ou associações de catadores indicadas pelo município. Devem manter registros diários de coleta e destinação dos resíduos, encaminhando relatórios mensais ao Poder Público. O transporte de resíduos deve ser acompanhado por manifesto expedido pelo órgão competente, contendo informações detalhadas sobre o transportador e os resíduos.
Para incentivar a redução da geração de resíduos, a coleta seletiva e a compostagem, o desempenho destacado dos Grandes Geradores pode resultar em reconhecimento público. Descumprimento das normas pode resultar em multas, suspensão temporária de atividade ou cassação da licença ambiental, exigindo novo licenciamento. A fiscalização é responsabilidade concorrente da SMALPT, que também aplica as sanções e orienta os Grandes Geradores e prestadores de serviços, inspecionando abrigos de armazenamento, recipientes e veículos cadastrados.
O decreto proíbe o transporte e disposição de resíduos de energia nuclear, tó- xicos ou radioativos provenientes de outros municípios, estados ou países.
9.1.9 Identificação de áreas de disposição inadequada de resíduos e áreas contaminadas
No município de Iúna, foram identificadas três áreas degradadas devido à disposição inadequada de resíduos sólidos, conforme informações do quadro a seguir.
Quadro 29 – Áreas degradadas por disposição inadequada de resíduos em Iúna.
| Área | Coordenadas UTM | Tipos de Resíduos depositados | Localização | Situação |
| Bairro Guanabara | 236.091 mE /7.746.764 mN | RSU e RCC | Próxima da área urbana | Recuperado |
| Laranja da Terra | 215.621 mE /7.760.900 mN | RSU | Área rural | Recuperado |
| São João do Príncipe | 205.052 mE /7.750.790 mN | RSU | Área urbana | Recuperado (utilizado por 10 a 20 anos) |
A Figura 134 apresenta o registro fotográfico feito durante visita técnica ao município do local do antigo lixão desativado próximo ao bairro Guanabara.
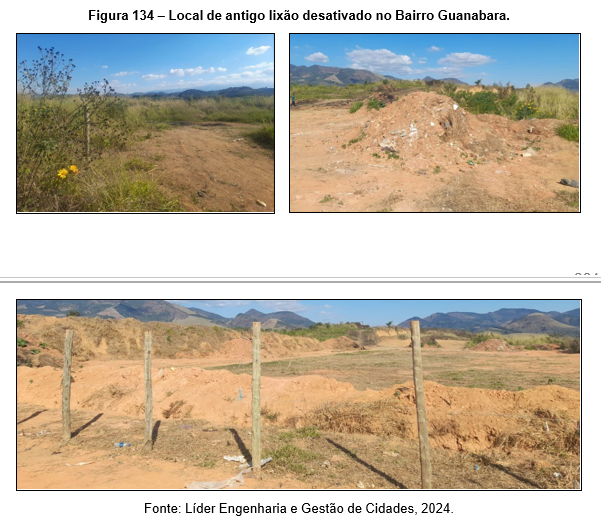
9.1.10 Estrutura de Tarifação, Receitas Operacionais, despesas de custeio e investimentos
Com base nas informações fornecidas pela Lei 11.445/2007, alterada pela Lei 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), destacam-se pontos relevantes relacionados à sustentabilidade econômico-financeira dos serviços públicos de saneamento básico. A legislação assegura a sustentabilidade por meio da remuneração dos serviços, utilizando taxas, tarifas e outros preços públicos, podendo incluir subsídios ou subvenções, conforme necessário.
Os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas podem ter suas remunerações estabelecidas por taxas, tarifas ou outros preços públicos, depen- dendo do regime de prestação do serviço. A Lei prevê a possibilidade de adotar subsídios tarifários e não tarifários para usuários sem capacidade suficiente de pagamento.
A prática da "taxa social" é comum em municípios para atender usuários com dificuldades financeiras, garantindo o acesso aos serviços básicos de saneamento. A Lei estipula um prazo de 12 meses para que os municípios iniciem a cobrança pelos serviços após a publicação da Lei 14.026/2020. O não cumprimento desse prazo pode configurar renúncia de receita, exigindo a comprovação do atendimento aos requisitos legais.
A conformidade com a Lei Complementar nº 101/2000 é essencial para evitar penalidades em caso de descumprimento do prazo de implementação da cobrança. Esses aspectos destacam a importância da sustentabilidade econômico-financeira, a
utilização de diferentes formas de remuneração, a consideração de subsídios para usuários vulneráveis e a necessidade de conformidade com prazos e regulamentações fiscais.
De acordo com o Relatório Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos, elaborado pelo SINIR em 2019, com informações atualizadas até o mês de agosto de 2021, cerca de 45% dos municípios brasileiros cobram alguma taxa ou tarifa pelos serviços de limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos.
A edição de 2022 do Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana, elaborada pela Selurb, apresentou que de acordo com dados retirados do SNIS, dos 4.589 municípios integrantes do mesmo, 1.851 apresentaram ter cobrança pelos serviços de manejo de resíduos sólidos (ISLU, 2022).
Dentre as principais formas de cobrança, 37,34% dos municípios cobram taxa específica no mesmo boleto do IPTU, 4,98% cobram taxa específica no mesmo boleto de água e 2,37% cobram taxa em boleto específico (SINIR, 2023).
Em Iúna, segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), em 2016 e 2017 havia cobrança por parte da prefeitura pelos serviços de coleta, transporte e destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), conforme o indicador FN201. Contudo, nos anos subsequentes, essa cobrança deixou de ser realizada, o que implica na ausência de dados de receita específica para esses serviços a partir de 2018. No entanto, a Prefeitura disponibilizou a informação de que em 2023 a taxa de coleta de lixo foi cobrada pelo Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).
No que se refere às despesas totais com os serviços de manejo de RSU, o indicador FN220 revela que, em 2022, a prefeitura de Iúna registrou um custo total de R$ 2.912.223,20.
Para o ano de 2023, a prefeitura forneceu dados detalhados de arrecadação e despesas, extraídos automaticamente do Sistema Tributário Municipal. As informações disponibilizadas são as seguintes:
Despesas Operacionais:
· Manutenção de limpeza pública: R$ 2.294.765,71;
· Resíduos sólidos: R$ 962.360,91.
Investimentos:
Os investimentos em andamento e realizados no ano de 2023 somaram R$ 130.000,00. Adicionalmente, estão previstos investimentos de R$ 50.000,00 para o ano de 2024. Não foram especificados os tipos de investimentos que foram e que serão feitos com esses valores.
Receitas Tributárias Relacionadas:
As receitas arrecadadas em 2023, conforme categorias tributárias específicas, foram as seguintes:
·Taxa de Coleta de Lixo: R$ 752.677,32;
· CIP (Contribuição de Iluminação Pública): R$ 24.596,08;
·Imposto Predial Urbano: R$ 1.646.608,62;
·Imposto Territorial Urbano: R$ 292.408,69.
O total de receitas arrecadadas em 2023 foi de R$ 2.716.290,71.
9.1.1 Análise Crítica
A seguir, são listados pontos fortes e pontos fracos identificados durante o diagnóstico do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos.
Pontos Fortes:
· Cobertura Abrangente de Coleta Domiciliar: o SLUMRS de Iúna alcança uma alta cobertura na coleta de resíduos sólidos domiciliares (RSD), atingindo 97,38% da população urbana em 2022. Isso demonstra um compromisso efetivo em proporci- onar serviços essenciais à maioria dos habitantes da área urbana;
·Avanços na Coleta Seletiva: houve um significativo aumento na quantidade de materiais coletados pela coleta seletiva, passando de 76 toneladas em 2021 para 190 toneladas em 2022. Isso indica uma conscientização crescente da população e uma maior eficiência na separação de materiais recicláveis;
· Parceria com Associação de Catadores: a ASCOMRI desempenha um papel importante na coleta seletiva e na gestão de materiais recicláveis, colaborando com a prefeitura para aumentar a eficiência na reciclagem e promover a inclusão social através do trabalho com catadores;
·Divisão de Responsabilidades Claras: a divisão entre a municipalidade e empresas privadas para diferentes aspectos do gerenciamento de resíduos sólidos, como coleta, transbordo e destinação final, pode promover uma gestão mais eficiente e especializada de cada etapa do processo;
·Investimento em Equipamentos e Logística: o uso de equipamentos especializados, como caminhões compactadores e carrocerias, indica um esforço contínuo para melhorar a eficiência operacional e reduzir os impactos ambientais da coleta e transporte de resíduos.
Pontos Fracos:
· Gestão de Resíduos de Saúde (RSS): apesar do aumento na quantidade de RSS coletados, a falta de fiscalização das condições de armazenamento desses resí- duos nas unidades de saúde pode representar um risco de contaminação. A respon- sabilidade exclusiva da empresa privada na coleta e transporte dos RSS sem fiscalização municipal adequada é um ponto negativo, sugerindo a necessidade de inspeções regulares e exigência de planos de RSS nas unidades de saúde;
·Infraestrutura de Destinação Final: a dependência de bota-foras para destinação de resíduos volumosos e de construção civil pode limitar as opções de disposição ambientalmente adequada, necessitando de investimentos em infraestrutura para tratamento e reciclagem desses materiais;
· Falta de Coleta de Resíduos Orgânicos: a ausência de um sistema estruturado de coleta e destinação para resíduos orgânicos pode representar uma oportunidade perdida em termos de compostagem e redução do volume de resíduos enviados para aterros sanitários;
· Necessidade de Ampliação da Coleta Seletiva: apesar do avanço na coleta seletiva, ainda há materiais importantes que não são regularmente coletados, como eletrônicos e certos tipos de plásticos. Isso pode ser melhorado com campanhas educativas e estratégias de ampliação dos pontos de entrega voluntária;
·Legislação e Fiscalização: a legislação que regula o manejo de resíduos só- lidos e as penalidades para o não cumprimento das normas precisam ser rigorosamente aplicadas para garantir a conformidade e evitar práticas inadequadas de disposição de resíduos.
Em resumo, enquanto o SLUMRS de Iúna demonstra avanços significativos na gestão de resíduos sólidos, especialmente na coleta domiciliar e seletiva, há áreas que necessitam de atenção para melhorar a eficiência operacional, garantir a segurança sanitária e ambiental, e promover uma gestão sustentável a longo prazo.
9.2 PROGNÓSTICO DO SLUMRS
O planejamento apresentado tem como objetivo principal atender às diretrizes estabelecidas pela Lei nº 12.305/2010 – PNRS (BRASIL, 2010), buscando viabilizar a ampliação e aprimoramento da qualidade dos serviços, ao mesmo tempo em que visa à redução dos custos. Conforme preconiza a referida lei, a gestão dos resíduos deve ser realizada de maneira economicamente sustentável, representando um desafio significativo para os municípios brasileiros.
A formulação de ações e programas, alinhados com uma Política Nacional, tem o propósito não apenas de atender requisitos legais, mas também de contribuir para a melhoria da gestão municipal e a construção de uma política de preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Isso se dá por meio da implementação das etapas preconizadas na Política Nacional de Resíduos: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (BRASIL, 2010).
O planejamento estratégico adota uma abordagem prospectiva, visando uma análise e antecipação coletiva por meio de instrumentos que consideram informações obtidas durante o diagnóstico do cenário atual do Município de Iúna.
A análise estratégica enfrenta problemas diversos, buscando estruturá-los, definir população envolvida, expectativas, relações de causa e efeito, identificar objetivos, agentes, opções e sequência de ações. A prospectiva estratégica utiliza técnicas para resolver questões em um ambiente caracterizado por complexidade, incerteza, riscos e conflitos.
Este capítulo procura identificar possibilidades que auxiliem os gestores, ante- cipando situações que possam comprometer ou facilitar a realização dos objetivos para viabilizar um cenário futuro (universalização). O objetivo é orientar as ações no presente e transformar as incertezas do ambiente em condições racionais para a tomada de decisão.
9.2.1 Projeção da geração de resíduos com base no estudo populacional
Atualmente, em Iúna, a média de geração per capita de resíduos sólidos domésticos (RDO + RPU) em relação à população urbana é de 0,66 kg/hab./dia, conforme dados do SNIS/SINISA/SINISA, ano de 2021. Conforme o diagnóstico realizado, todos os habitantes da área urbana são abrangidos pelo sistema de coleta, alcançando 100% de cobertura. Na projeção para os próximos 20 anos (de 2024 a 2044), espera-se manter esse percentual de cobertura, pressupondo a continuidade e melhoria dos serviços para atender à crescente demanda da população.
Observa-se na Tabela 63 que a população urbana de Iúna terá um acréscimo de 17% em 20 anos, passando a ter 20.084 habitantes. Concomitantemente ao aumento da população, a quantidade de resíduos gerados também será maior no final do período avaliado, sendo 48,5% maior em 2044, considerando um incremento anual de geração per capita também, de 1,2% a.a.
Tabela 63 – Projeção da produção de lixo e percentuais de atendimento pelo sistema de lim- peza pública no Município de Iúna.
| Ano | População urbana (habitantes) | Percentual de atendimento pelo SLU (%) | Quantidade total de RDO e RPU coletada por todos os agentes (ton.) | Geração Per Capita (kg/hab./dia) |
| 2024 | 17.162 | 100 | 4285 | 0,68 |
| 2025 | 17.308 | 100 | 4373 | 0,69 |
| 2026 | 17.454 | 100 | 4463 | 0,70 |
| 2027 | 17.600 | 100 | 4554 | 0,71 |
| 2028 | 17.746 | 100 | 4647 | 0,72 |
| 2029 | 17.892 | 100 | 4742 | 0,73 |
| 2030 | 18.039 | 100 | 4838 | 0,73 |
| 2031 | 18.185 | 100 | 4936 | 0,74 |
| 2032 | 18.331 | 100 | 5035 | 0,75 |
| 2033 | 18.477 | 100 | 5136 | 0,76 |
| 2034 | 18.623 | 100 | 5239 | 0,77 |
| 2035 | 18.769 | 100 | 5343 | 0,78 |
| 2036 | 18.915 | 100 | 5449 | 0,79 |
| 2037 | 19.061 | 100 | 5557 | 0,80 |
| 2038 | 19.207 | 100 | 5667 | 0,81 |
| 2039 | 19.353 | 100 | 5779 | 0,82 |
| 2040 | 19.499 | 100 | 5892 | 0,83 |
| 2041 | 19.646 | 100 | 6008 | 0,84 |
| 2042 | 19.792 | 100 | 6125 | 0,85 |
| 2043 | 19.938 | 100 | 6244 | 0,86 |
| 2044 | 20.084 | 100 | 6366 | 0,87 |
No estudo gravimétrico apresentado no diagnóstico, 51,4% dos resíduos são compostos de material orgânico, 31,9% matérias recicláveis e o restante, 16,7% ma- teriais aterráveis. A Tabela 64 mostra a quantidade de resíduos de cada tipo para os anos de abrangência do plano.
Tabela 64 – Estimava da geração dos resíduos orgânicos, recicláveis e aterráveis.
| Ano | População urbana (habitantes) | Quantidade total de RDO e RPU coletada por todos os agentes (ton.) | Orgânicos(ton./ano) | Recicláveis(ton./ano) | Aterráveis (ton./ano) |
| 2024 | 17.162 | 4285 | 2202 | 1367 | 716 |
| 2025 | 17.308 | 4373 | 2248 | 1395 | 730 |
| 2026 | 17.454 | 4463 | 2294 | 1424 | 745 |
| 2027 | 17.600 | 4554 | 2341 | 1453 | 761 |
| 2028 | 17.746 | 4647 | 2389 | 1482 | 776 |
| 2029 | 17.892 | 4742 | 2437 | 1513 | 792 |
| 2030 | 18.039 | 4838 | 2487 | 1543 | 808 |
| 2031 | 18.185 | 4936 | 2537 | 1575 | 824 |
| 2032 | 18.331 | 5035 | 2588 | 1606 | 841 |
| 2033 | 18.477 | 5136 | 2640 | 1638 | 858 |
| 2034 | 18.623 | 5239 | 2693 | 1671 | 875 |
| 2035 | 18.769 | 5343 | 2746 | 1704 | 892 |
| 2036 | 18.915 | 5449 | 2801 | 1738 | 910 |
| 2037 | 19.061 | 5557 | 2856 | 1773 | 928 |
| 2038 | 19.207 | 5667 | 2913 | 1808 | 946 |
| 2039 | 19.353 | 5779 | 2970 | 1843 | 965 |
| 2040 | 19.499 | 5892 | 3029 | 1880 | 984 |
| 2041 | 19.646 | 6008 | 3088 | 1917 | 1003 |
| 2042 | 19.792 | 6125 | 3148 | 1954 | 1023 |
| 2043 | 19.938 | 6244 | 3210 | 1992 | 1043 |
| 2044 | 20.084 | 6366 | 3272 | 2031 | 1063 |
Conforme demonstrado na Tabela 64, nos próximos 20 anos, observa-se um crescimento progressivo na geração de resíduos no Município de Iúna, decorrente do aumento da população urbana e da produção per capita. Esta projeção é apresentada na Gráfico 22.
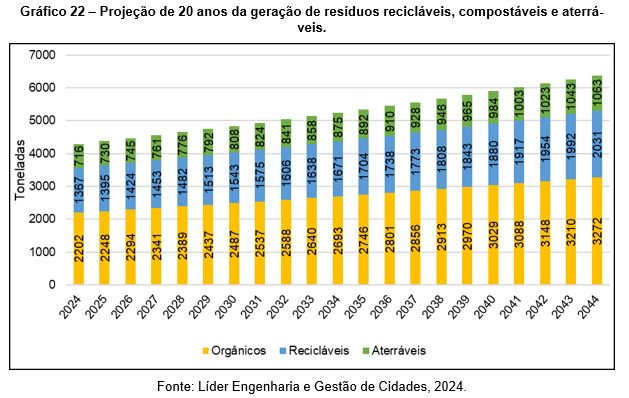
A análise da projeção evidencia claramente que a falta de gestão e destinação adequada para os resíduos orgânicos e/ou compostáveis tem impactos negativos significativos no volume de resíduos encaminhados e nos custos anuais do Município de Iúna relacionados à disposição desses resíduos. Diante desse cenário, torna-se imperativo que o município administre eficazmente o sistema de coleta seletiva para os resíduos orgânicos.
A eficiência desse sistema depende não apenas de infraestrutura apropriada, mas também do apoio ativo e conscientização da comunidade. A participação ativa dos cidadãos é crucial para o sucesso da coleta seletiva, especialmente no que diz respeito aos resíduos compostáveis. A conscientização pública sobre a importância da separação adequada dos resíduos, a valorização do processo de compostagem e o descarte responsável são elementos-chave para o êxito do sistema.
Além disso, é fundamental fortalecer o apoio à Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do Município de Iúna (ASCOMRI) ou entidades similares. Essas associações desempenham um papel crucial na coleta seletiva e na gestão de resíduos, contribuindo para a redução de custos e promovendo práticas sustentáveis.
No capítulo dedicado ao assunto, serão apresentadas alternativas técnicas específicas para cada tipo de resíduo gerado. Essas alternativas podem abranger desde métodos de coleta e transporte até tecnologias de tratamento, como a compostagem. Uma abordagem integrada, que envolva tanto a comunidade quanto entidades locais, certamente contribuirá para a eficácia do gerenciamento de resíduos compostáveis e para a redução dos custos associados nos anos subsequentes.
9.2.2 Procedimentos operacionais e especificações mínimas
Neste subcapítulo, serão abordados os procedimentos operacionais e especi- ficações mínimas destinados ao gerenciamento e manejo dos resíduos sólidos no Mu- nicípio de Iúna. É relevante destacar que o município já detém uma considerável ex- periência e excelência na oferta de alguns dos serviços aqui discutidos, superando os requisitos mínimos estabelecidos pelas normas e legislações pertinentes.
Os tópicos subsequentes têm como objetivo delinear as condições mínimas essenciais para a prestação dos serviços, sem menosprezar as práticas já implemen- tadas. Servem como diretrizes para novas operações e proporcionam uma base com- parativa para as atividades já realizadas, assegurando a manutenção da qualidade e, quando necessário, promovendo melhorias.
A eficiente gestão dos resíduos sólidos demanda a implementação de procedimentos que garantam a valorização desses materiais ao longo de toda a cadeia, desde a geração até a disposição final. Esses procedimentos visam evitar perdas e danos, assegurando que os resíduos recolhidos não sejam contaminados ou descaracterizados. O Plano oferece diretrizes embasadas na legislação pertinente para orientar os responsáveis em cada etapa, otimizando operações e aprimorando condições como segregação, acondicionamento, coleta, triagem e disposição final ambientalmente adequada.
O conhecimento detalhado da composição dos resíduos sólidos é essencial para um planejamento eficaz e para orientar o manejo adequado desses materiais. A análise gravimétrica, realizada na fase de diagnóstico do presente plano, quantifica e qualifica as diferentes frações de resíduos presentes nos Resíduos Domiciliares Orgânicos (RDO), fornecendo informações cruciais para embasar as recomendações do PMSB.
Dentro desse contexto, é fundamental reconhecer a importância da correta execução de todas as fases do fluxo de resíduos para alcançar a valorização desejada, promovendo a eficiência operacional e contribuindo para a sustentabilidade ambiental ao longo de toda a cadeia de gestão de resíduos sólidos.
a) Coleta Convencional
A coleta convencional de resíduos sólidos encontra suporte em um robusto conjunto de Leis e Normas, que permeiam os âmbitos federal, estadual e municipal. Essas regulamentações delineiam responsabilidades e organizam os serviços com base em estudos técnicos, proporcionando uma estrutura de gestão precisa para a coleta de resíduos sólidos.
No contexto brasileiro, destacam-se normativas relevantes, como a ABNT NBR nº 13.463/95, que aborda a Coleta de Resíduos Sólidos, e a ABNT NBR nº 12.980/93, que trata da Coleta, Varrição e Acondicionamento de Resíduos Sólidos Urbanos. Essas normas desempenham um papel fundamental na garantia da eficiência e conformidade dos serviços de coleta, estabelecendo padrões e diretrizes a serem seguidos no manejo adequado dos resíduos sólidos urbanos. Esta última, define coleta domiciliar da seguinte forma:
“Coleta regular dos resíduos domiciliares, formados por resíduos gerados em residências, estabelecimentos comerciais, industriais, públicos e de presta- ção de serviços, cujos volumes e características sejam compatíveis com a legislação municipal vigente.”
A eficiência na programação e dimensionamento da coleta convencional de resíduos sólidos exige uma abordagem estruturada. Inicialmente, é crucial realizar a caracterização e identificação de pontos críticos em todo o município, analisando detalhadamente os tipos de resíduos gerados e identificando áreas de alta geração e pontos de difícil acesso.
A elaboração de mapas com os roteiros de coleta se torna fundamental, permitindo a otimização das rotas para minimizar o tempo de coleta e reduzir os custos operacionais. O dimensionamento adequado da frota de veículos coletores é essencial, envolvendo o cálculo da quantidade necessária com base na tipologia e quantidade de resíduos, considerando a capacidade de carga e as distâncias a percorrer.
A precisão no cálculo da mão de obra necessária é imprescindível, levando em conta turnos de trabalho, carga horária e treinamento. Estabelecer critérios claros para o volume e tipo de resíduos em diferentes áreas fornece diretrizes essenciais. O for- necimento de estimativas das quantidades a serem coletadas em setores específicos facilita a alocação eficiente de recursos.
Para otimizar os itinerários, revisar e orientar os condutores é essencial, garantindo eficiência operacional e redução de custos. A revisão de itinerários deve incluir diretrizes claras, respeitando horários, vias e capacidade de carga dos veículos, com manutenção adequada e comunicação imediata de qualquer problema.
A otimização dos itinerários emerge como estratégia eficaz na gestão de resíduos urbanos, contribuindo para a economia de combustível e a preservação ambiental. Identificar áreas de maior geração de resíduos é crucial, assim como planejar rotas que minimizem deslocamentos desnecessários.
O respeito à capacidade máxima de carga é vital para evitar descartes inadequados. Em áreas de difícil acesso, a coleta manual pode ser necessária. A coleta deve abranger diversas situações, como resíduos espalhados, e responsabilizar os fiscais pelo cumprimento das normativas locais.
Além disso, o controle eficaz na coleta de diferentes tipos de propriedades, como residenciais, comerciais, industriais e de saúde, é fundamental. A definição de intervalos de coleta em áreas com menor produção de resíduos contribui para a redu- ção de custos. O planejamento rigoroso das rotas, respeitando horários e destinos finais, é crucial para a eficácia operacional.
Adicionalmente, o Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos sugere a redução de resíduos orgânicos na coleta convencional e a implementação de sistemas de conteinerização, práticas que contribuem para a sustentabilidade do sistema de coleta de resíduos sólidos.
Para a área rural não há o atendimento, portanto considera-se a possibilidade de estabelecer pontos de Entrega Voluntária (PEVs) e/ou ecopontos em locais estratégicos, permitindo que a população rural não atendida pela coleta convencional possa depositar seus resíduos semanal ou quinzenalmente, facilitando o subsequente recolhimento.
b) Acondicionamento e apresentação para a coleta convencional
O processo de acondicionamento temporário dos resíduos sólidos é crucial para preparar adequadamente os resíduos para a coleta, promovendo eficiência, segurança e redução da poluição visual e odores. Responsabilidade do gerador, o acondicionamento é fiscalizado pelo Poder Público, que também deve promover campanhas educacionais sobre práticas corretas. Cabe também ao Poder Público promover campanhas de conscientização ambiental entre os cidadãos, orientando-os sobre a maneira correta de acondicionar os resíduos sólidos
Um acondicionamento apropriado dos resíduos sólidos melhora significativamente a eficiência do processo de coleta e transporte, aumentando a produtividade dos colaboradores encarregados da coleta e reduzindo os riscos de acidentes, bem como a proliferação de vetores indesejados.
Uma legislação municipal específica pode estabelecer diretrizes, como:
· Acondicionamento em dispositivos resistentes e impermeáveis;
· Resíduos domiciliares e comerciais devem ser fechados em sacos plásticos, colocados em recipientes adequados;
· Volume dos sacos plásticos limitado a 100 litros para resíduos urbanos domiciliares;
· Mercados e estabelecimentos similares devem acondicionar o lixo em sacos plásticos em recipientes padronizados;
· Estabelecimentos com volume acima de 100 litros são responsáveis pelo transporte;
· Identificação dos recipientes com rótulos diferenciados;
· Usuários do sistema devem apresentar os resíduos conforme dias e horários previstos para coleta;
· Vedação ao acondicionamento de materiais infectantes, explosivos e tóxicos;
· Resíduos industriais, de transporte e obras civis devem ser acondicionados em recipientes padronizados e identificados.
· Escolha do recipiente considerando as características dos resíduos;
· Altura do recipiente de aproximadamente 1,50 m;
· Recipientes resistentes, com orifícios inferiores para evitar acúmulo de água da chuva;
· Bombonas ou contêineres devem ter alças laterais e tampas;
· Distância mínima entre contêineres na área central ou comercial do Município;
· Recipientes devem ser higienizados com frequência.
A legislação deve seguir normas técnicas, como ABNT NBR nº 9.190/1994 e ABNT NBR nº 9.191/2002, para sacos plásticos utilizados no acondicionamento. Recomenda-se ainda a criação de pontos de entrega voluntária (PEVs) para bens móveis permanentes servíveis e inservíveis, evitando a disposição incorreta pela população. A gestão municipal deve realizar a triagem, doação dos servíveis e destinação adequada dos inservíveis.
Conforme o Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) de 2001, recomenda-se que os recipientes de acondicionamento dos resíduos domiciliares não ultrapassem trinta quilos e que os sacos plásticos tenham no máximo cem litros. Sacos plásticos acima de cem litros podem representar riscos, uma vez que os coletadores podem ser obrigados a levantá-los manualmente até o caminhão de coleta, aumentando o risco de lesões e perigo de objetos cortantes dentro dos sacos plásticos. É importante que pontos de acúmulo de resíduos nas vias públicas e reclamações frequentes sejam evitados, uma vez que podem indicar irregularidades na coleta.
A Figura 135 apresenta exemplos de recipientes utilizados para o acondiciona- mento temporário de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, encontrados em frente a imóveis em diversos municípios brasileiros.

Em locais com uma significativa geração de resíduos sólidos domiciliares, como centros comerciais, condomínios, shoppings centers e hipermercados, é possível adotar contêineres de capacidade superior a cem litros. No entanto, essa modalidade de coleta requer veículos coletores específicos, como os caminhões coletores basculantes, para acomodar esses contêineres maiores.
Para a área central ou comercial do município, recomenda-se que a distância mínima entre dois contêineres não ultrapasse 250 metros, a fim de facilitar o acondicionamento dos resíduos sólidos pelos geradores. No entanto, o Poder Público tem a prerrogativa de estabelecer outras distâncias que julgar apropriadas para o dimensionamento entre os contêineres, devendo também garantir a limpeza periódica desses recipientes.
No que diz respeito aos sacos plásticos utilizados para acondicionar os resíduos, é importante observar as normas da ABNT, como a ABNT NBR nº 9.190/94, que trata da resistência, volume e cor dos sacos plásticos para o acondicionamento de resíduos sólidos. Além disso, essas normas estabelecem outras características essenciais para garantir a adequação dos sacos plásticos aos resíduos gerados nas residências.
Resumidamente, os recipientes utilizados para o acondicionamento de resíduos sólidos domiciliares devem ser dimensionados de forma a garantir funcionalidade e higiene, evitando o derramamento de resíduos nas vias públicas e a presença
de animais que possam causar danos. Além disso, o dimensionamento adequado contribui para a segurança dos coletadores durante o processo de coleta.
c) Limpeza Pública
As atividades de limpeza pública definidas na Lei nº 11.445/2007 - Lei Federal de Saneamento Básico (BRASIL, 2007), dizem respeito da varrição, podas, capina, raspagem, remoção de solo e areia em logradouros públicos, desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e galerias, limpeza dos resíduos de feiras públicas e eventos particulares ou de acesso aberto ao público, atividades correlatadas como limpeza de escadarias, sanitários, abrigos, monumentos entre outros.
Já a Lei Federal nº 14.026/2020 (BRASIL, 2020), que atualiza a lei anterior, traz a definição dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos como aqueles:
“...constituídos pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana.” (BRASIL, 2020, p. s/n).
Um dos principais desafios relacionados a esses tipos de resíduos é que eles, em sua maioria, consistem em materiais de pequenas dimensões, o que torna sua presença menos aparente e limita as opções de destino final. Devido à variação nos serviços de limpeza pública e à sua abrangência específica em cada município, as ações de planejamento estão focadas na implantação de tecnologias, especialmente na forma consorciada de aquisição.
As diretrizes apresentadas propõem a implementação da triagem obrigatória dos resíduos durante o processo de limpeza pública, coordenando o fluxo dos materiais até as áreas de triagem, transbordo e outras destinações. Essas são consideradas soluções para alcançar a gestão desejada.
É importante ressaltar que a limpeza pública tem como foco central a saúde ambiental dos municípios, prevenindo a proliferação de vetores, enchentes, assoreamento de rios e canais, acúmulo de resíduos nas galerias pluviais e bocas de lobo, além de interferências no trânsito.
Outra questão relevante relacionada à limpeza urbana é o aspecto estético do município. Quando vias públicas, praças, jardins e terrenos vazios estão limpos e bem cuidados, a população percebe os benefícios, colaborando com a manutenção desses locais ao não descartar resíduos nas vias públicas. Um município limpo e bem cuidado também proporciona uma boa impressão e imagem, especialmente para os turistas.
Varrição
A varrição é a principal atividade na limpeza urbana, variando em colaboradores e frequência conforme as dimensões e características ambientais do município, além do grau de conscientização da população e procedimentos operacionais governamentais. Em pequenos municípios brasileiros, como ocorre em Iúna, a varrição manual é comum, envolvendo mais colaboradores, enquanto em municípios maiores ou países mais desenvolvidos, é realizada de forma mecânica para maior eficiência. Os equipamentos utilizados para varrição mecânica estão ilustrados na Figura 136.

Durante a varrição, os colaboradores devem acondicionar os resíduos em sacos plásticos de até cem litros, colocando-os nos passeios para a coleta convencional. Resíduos não recicláveis são destinados da mesma forma que os demais rejeitos Classe II (não-perigosos), com possível segregação de resíduos verdes para tratamento específico.
Para varrições manuais, são recomendados vassouras, pás, carrinhos do tipo lutocar, carriolas e sacos de lixo preto. A Prefeitura de Iúna tem a opção de implementar medidas para otimizar os serviços de varrição, como, por exemplo, estabelecer que a varrição seja realizada em uma faixa de até um metro de distância das sarjetas. Nos casos de passeios particulares, a responsabilidade pela manutenção e limpeza recai sobre os proprietários, podendo tal determinação ser incorporada ao Código de Obras Municipal ou outra legislação pertinente.
Recomenda-se que a coleta dos resíduos sólidos originários dos serviços de varrição e manutenção de vias e espaços públicos seja realizada por um veículo coletor independente. Isso permitirá um controle diferenciado da pesagem e a criação de um banco de dados com informações sobre o sistema e a dinâmica do serviço de varrição pública.
A atividade de varrição, como descrito no diagnóstico, é conduzida por 25 (vinte e cinco) funcionários. Essa atividade deve sempre ser conduzida por equipes compostas por colaboradores que se revezarão entre a coleta e a varrição. Esses colabo- radores devem estar equipados com os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) fornecidos pela Prefeitura ou pela empresa terceirizada, caso essa seja a modalidade de contratação para a prestação do serviço.
A supervisão de todo o processo de varrição e manutenção de vias e áreas públicas deve ser conduzida por um supervisor designado para cada equipe. Esses supervisores também devem fornecer suporte logístico, materiais e resolver qualquer situação que possa melhorar a execução do serviço. Além disso, é aconselhável realizar pesquisas de opinião junto à população para avaliar a qualidade dos serviços prestados.
Limpeza de praças e jardins
Assim como na varrição e manutenção de vias públicas, a limpeza de praças e jardins segue procedimentos semelhantes. Esses espaços públicos, frequentados por muitas pessoas, exigem manutenção constante para garantir o seu uso pela população.
O operador do sistema de limpeza e manejo de resíduos deve destinar as podas de gramados e galhos de árvores para a compostagem municipal, se houver, enquanto os resíduos de varrição são encaminhados para a coleta convencional. A varrição deve ocorrer pelo menos a cada três dias, e as podas podem ocorrer con- forme a demanda, identificando os intervalos ideais de poda para cada local, especialmente durante períodos chuvosos.
A limpeza de praças e jardins pode ser realizada simultaneamente com a var- rição das vias adjacentes ou em dias específicos, com equipes dedicadas exclusivamente a essas áreas. As ferramentas e métodos de trabalho são os mesmos utilizados na varrição de vias públicas, incluindo o acondicionamento dos resíduos em sacos plásticos, a fiscalização por um supervisor, a coleta pelo mesmo veículo coletor da varrição e a destinação adequada dos resíduos conforme a tipologia.
Recomenda-se que o operador conduza campanhas educacionais para conscientizar a população sobre a importância da conservação de praças e jardins. Além disso, é sugerido a instalação de recipientes específicos para resíduos sólidos em pontos estratégicos desses locais para facilitar o descarte adequado pelos frequentadores.
Capina
Na prática da capina química, é crucial observar a legislação local sobre o uso de produtos químicos, considerando que alguns municípios proíbem tal prática na área urbana devido ao risco de contaminação do solo e da água.
A capina em terrenos e passeios particulares deve ser realizada pelos proprietários, com a Prefeitura responsável pela fiscalização. A frequência dessas atividades aumenta durante os períodos chuvosos, sendo possível optar por capinas mensais nos períodos mais secos, conforme a necessidade.
As ferramentas utilizadas incluem foice, roçadeira, rastelo, ceifadeira, enxada, pá e carriola. A utilização de ceifadeiras mecânicas portáteis é vantajosa, proporcionando rendimento até oito vezes superior às ceifadeiras manuais. A escolha do equipamento dependerá da disponibilidade de mão de obra no local.
Os resíduos devem ser ensacados, e a vegetação cortada pode ser aglomerada para recolhimento em até 24 horas, evitando danos causados pela chuva ou vandalismo.
Poda
A responsabilidade pelos serviços de poda, capina e roçada em vias públicas, praças, margens de canais e rios é do Poder Público. A comunicação periódica com a Companhia de Energia Elétrica é essencial para desligar a rede energizada durante a execução do serviço de poda de galhos de árvores.
A poda deve ser coordenada por técnicos capacitados, considerando o mínimo de distúrbios ao balanço fisiológico das árvores e escolhendo as melhores épocas do ano. As ferramentas necessárias incluem motosserras, machados, foices, facão, caminhão munck, escadas ou plataformas elevatórias, tesoura de poda e serra de poda. As ferramentas devem estar limpas, afiadas e equipadas com dispositivos de segurança. Os colaboradores devem usar Equipamentos de Proteção Individual, e a Prefeitura é responsável pela manutenção das ferramentas e pela segurança dos trabalhadores.
Limpeza de feiras e eventos festivos
A limpeza de feiras requer atenção especial devido à presença significativa de alimentos dispersos. A Prefeitura de Iúna deve conduzir uma campanha educacional para orientar os feirantes sobre a segregação adequada dos resíduos, facilitando sua destinação adequada.
O dimensionamento da mão de obra depende do tamanho e das características do local da feira. Pode-se adotar a limpeza antes e durante a realização das feiras para manter a salubridade local. Um cadastro com dias, locais e horários das feiras deve ser mantido para formar um cronograma de equipe, incluindo motorista, varredores e um caminhão pipa para lavagem posterior.
Os resíduos devem ser segregados e destinados conforme a tipologia. Em feiras, é crucial manter a limpeza desde o início até a desmontagem das barracas, recolhendo resíduos em sacos plásticos para posterior coleta. A lavagem do local, com ênfase nas áreas de venda de peixe, deve incluir solução desinfetante ou desodorizante.
Os resíduos orgânicos devem ser encaminhados para tratamento ou dispostos adequadamente em aterros sanitários. Orientação aos feirantes sobre a segregação na fonte e o potencial de reutilização e reciclagem é essencial.
Em eventos festivos públicos, a responsabilidade de limpeza é do organizador, que deve contratar mão de obra e pagar taxa ao operador de serviços de limpeza urbana. A organização deve disponibilizar acondicionadores de resíduos para coleta seletiva e divulgar o programa. Se o evento for público, o operador pode disponibilizar uma equipe de varrição, exigindo medidas como limpeza contínua, aumento de colaboradores e recipientes para resíduos.
Limpeza de galerias, bocas de lobo e valas de drenagem
A limpeza de bocas de lobo, galerias e valas de drenagem é vital para o sistema de drenagem urbana, prevenindo enchentes e alagamentos causados pelo acúmulo de resíduos. A limpeza pode ser realizada manualmente com pás, picaretas e ganchos, ou mecanicamente com aspirador, motor e mangueira para jateamento de água, sendo aconselhável a cada quinze dias ou após chuvas.
Para a manutenção, recomenda-se realizar a limpeza duas vezes ao mês ou após períodos chuvosos, utilizando ferramentas como pás, enxadas, picaretas, ganchos, aspiradores, sopradores e caminhão pipa para jateamento de água. Os resíduos coletados devem ser ensacados ou acondicionados em caminhões basculantes.
d) Guarnições de coleta convencional
No que diz respeito à equipe de coleta convencional de resíduos sólidos, geralmente é composta por um motorista e dois ou três coletadores. No entanto, a configuração das equipes pode variar de acordo com as particularidades de cada município, incluindo alterações nos turnos, na frequência das coletas e nas dinâmicas de trabalho. Por exemplo, em alguns municípios, a estratégia do "gari bandeira" é adotada, onde um membro da equipe sai do caminhão coletor antes dos outros para agilizar a remoção de resíduos em locais de difícil acesso.
Quanto à capacitação, a NR 24 exige que os trabalhadores envolvidos na operação, manutenção, inspeção e outras atividades em máquinas e equipamentos recebam treinamento adequado fornecido pelo empregador. Esse treinamento deve abordar os riscos a que os colaboradores estão expostos e as medidas de proteção necessárias.
No caso específico dos colaboradores que atuam no sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, é crucial que recebam treinamento específico para realizar a coleta de resíduos com segurança e eficiência, evitando ferimentos ou acidentes, especialmente com objetos cortantes, produtos químicos e garantindo que os sacos plásticos não sejam rasgados ou rompidos durante a coleta. O Quadro 30 apresenta alguns dos treinamentos essenciais para garantir a segurança, eficiência e bem- estar no ambiente de trabalho desses colaboradores.
Quadro 30 – Treinamentos para os colaboradores do serviço de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos.
| Tema | Justificativa |
| Informações sobre as condições do ambiente de trabalho | Este tema produz informações sobre o local onde o colaborador irá atuar, sendo que, basicamente, este colaborador atua em locais abertos, como: ruas, avenidas, praças, parques e margens de rios e córregos. |
| Riscos inerentes à função | Diferentemente sobre as condições do ambiente de trabalho, este tema aborda os riscos existentes nos resíduos a serem coletados, pois, se o resíduo for acondicionado de maneira errada ou indevida, pode haver ferimentos através de objetos pontiagudos, perfurocortantes ou produtos químicos, ou risco de contaminação através de resíduos hospitalares. Sendo assim, neste tipo de treinamento é essencial que o colaborador aprenda a identificar as sinalizações destinadas a resíduos perigosos (industriais e hospitalares) e que o manejo do resíduo |
| Equipamento de Proteção Individual (EPI) | O Equipamento de Proteção Individual (EPI), é item obrigatório para que o profissional, neste caso, esteja seguro diante de riscos químicos, físicos, ergonômicos e biológicos que envolvem os resíduos. O tema em questão trata da obrigatoriedade em proteger o colaborador durante a jornada de trabalho, utilizando luvas adequadas para a função, botas, calças e camisas longas, óculos de proteção, máscaras contra maus odores, capa de chuva, colete refletor para a coleta noturna, bonés e protetor solar. |
| Ergonomia | A má postura, o esforço repetitivo e o levantamento de peso são as principais causas de afastamento do trabalho. O colaborador deve realizar treinamento que seja apresentado a ele procedimentos que ao executar tarefas de varrição, manuseio de equipamentos, recolha de resíduos, transporte e entre outros, não haja risco de lesão em função da atividade que está exercendo. |
| Educação Ambiental | Como o serviço de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos é parte inerente dos problemas ambientais, é importante que o colaborador deste serviço conheça o valor de sua profissão. Pois, com a ausência dele, somado a má educação das pessoas, os ambientes urbanos apresentariam condições subumanas de vivência. |
| Plano de Emergência | A Portaria SIT nº 588/2017 – Norma Regulamentadora Referente às Atividades de Limpeza Urbana, em seu item 2.4, determina a elaboração de um Plano de Emergência para a respectiva atividade. Neste treinamento o colaborador deve conhecer os possíveis cenários de emergência relacionados a sua função e os procedimentos de resposta a emergência ocorrida. |
| O que é o Resíduo? | Tema muito importante a ser apresentado aos colaboradores, pois, é este o motivo da consolidação da profissão em questão. Este tema mostra também os problemas em não se coletar e destinar corretamente os resíduos gerados. |
| Coleta Seletiva | Desvela o significado da coleta seletiva além da mera comercialização dos materiais segregados, mostrando sua importância no aumento da vida útil dos aterros e na diminuição da exploração dos recursos naturais. |
| Bebida alcoólica e consumo de drogas | Deve-se orientar os colaboradores a não ingerir bebidas alcoólicas e drogas durante a execução do trabalho, devido aos riscos em que a pessoa se encontra na atividade de coleta convencional de resíduos. Deve-se também orientar sobre as punições legais, caso haja situações deste tipo no local de trabalho. |
| Pedidos de donativos ou gratificações | O colaborador não deve realizar qualquer pedido de donativos ou gratificações durante a jornada de trabalho. Neste tema é abordado questões salariais e benefícios da função, mostrando ao colaborador sobre a não necessidade em pedir caridade para as pessoas. |
A Portaria SIT nº 588/2017 também estabelece que os treinamentos devem ser conduzidos periodicamente, com intervalos de seis meses e uma duração mínima de quatro horas. Se um trabalhador mudar de função ou se novas tecnologias forem introduzidas em suas atividades, ele também deve passar por treinamento que corresponda às novas exigências de seu trabalho.
a) Segurança, saúde, higiene e bem-estar dos trabalhadores envolvidos em atividades relacionadas ao manejo de resíduos sólidos
No que diz respeito à segurança, saúde e higiene dos colaboradores do serviço de coleta, as diretrizes e requisitos são estabelecidos de acordo com a Norma Regulamentadora NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho, bem como pela Portaria Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) nº 588/17 – Norma Regulamentadora Referente às Atividades de Limpeza Urbana.
Tanto a NR 24 quanto a Portaria SIT nº 588/17 definem as condições essenciais para garantir a segurança, saúde, higiene e bem-estar dos trabalhadores envolvidos em atividades relacionadas à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, independentemente de sua forma de contratação.
É importante destacar que certas atividades relacionadas ao sistema de limpeza urbana podem ser classificadas como insalubres pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com o trabalho ou operações em contato constante com resíduos urbanos, hospitalares e industriais sendo considerado insalubre em grau máximo.
Tanto a Norma Regulamentadora NR 24 quanto a Portaria SIT nº 588/17 esti- pulam que os empregadores que realizam serviços externos devem fornecer um sistema de ponto de apoio em locais estratégicos. Esse ponto de apoio permite que os trabalhadores possam higienizar as mãos, se hidratar, atender às necessidades fisiológicas e se alimentar.
As regulamentações também mencionam que instalações móveis podem ser utilizadas quando não for viável instalar pontos de apoio fixos. No entanto, essas ins- talações móveis devem atender aos mesmos padrões físicos que um ponto de apoio fixo, incluindo área de ventilação e conforto térmico, lavatório com água corrente, sabonete líquido, toalhas descartáveis e sistema de descarga ou equivalente que garanta o isolamento dos resíduos.
Adicionalmente, é essencial que haja água potável disponível nos locais de trabalho, armazenada em recipientes hermeticamente fechados e livres de contaminação, sendo proibido o uso de copos compartilhados. Para os veículos de coleta de resíduos, deve haver um recipiente com água potável suficiente para atender a equipe durante todo o turno de trabalho, além de água, sabão e materiais para a higienização das mãos dos trabalhadores.
A promoção, divulgação e fiscalização do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) devem ser uma prioridade. A responsabilidade pela fiscalização é compartilhada entre a Prefeitura e os próprios trabalhadores. A Prefeitura deve fiscalizar se os trabalhadores estão utilizando corretamente o EPI apropriado e não deve permitir que o trabalho seja realizado sem a utilização adequada desses equipamentos. Por outro lado, os trabalhadores têm o direito de exigir da Prefeitura que forneça EPI em bom estado de conservação e não devem aceitar equipamentos, como botas, luvas, óculos de proteção ou outros componentes do EPI, que não estejam de acordo com os padrões de uso estabelecidos.
A Figura 137 mostra uma ilustração com os EPIs necessários para o uso dos colaboradores da coleta convencional de resíduos sólidos, determinados pela ABNT NBR nº 12.980/1993. O Quadro 31 apresenta um resumo dos EPIs necessários, bem como os EPIs de saúde.
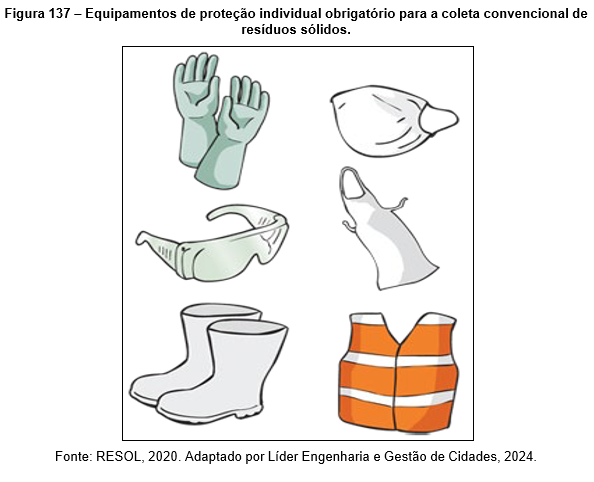
Quadro 31 – Equipamento de segurança mínimo.
| Traje adequado para o coletor de lixo formado de: |
| a) luva de raspa de couro; |
| b) calçado com solado antiderrapante, tipo tênis; |
| c) colete refletor para coleta noturna; |
| d) camisa de brim ou camiseta, nas cores amarela, laranja ou vermelha; |
| e) calça comprida de brim; |
| f) boné de brim, tipo jóquei; |
| g) capa de chuva, tipo morcego. |
| Traje adequado para o coletor de resíduos de serviços de saúde e resíduos com riscos para saúde formado de: |
| a) luva de borracha grossa branca, de punho médio; |
| b) bota de borracha de meio cano branca, antiderrapante; |
| c) camisa e calça de brim, na cor branca; |
| d) boné de brim na cor branca, tipo jóquei. |
| Traje adequado para o motorista formado de: |
| a) calçado com solado de borracha, antiderrapante; |
| b) blusa de brim; |
| c) calça comprida de brim. |
No que diz respeito à imunização, a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIM) recomenda que os colaboradores da coleta convencional de resíduos sólidos sejam vacinados contra uma série de doenças, incluindo tríplice viral (caxumba, sarampo e rubéola), hepatites A e B, tuberculose, tétano, difteria, tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (dTpa), influenza (gripe), febre amarela, raiva e febre tifoide.
A responsabilidade pelo controle das vacinas desses colaboradores recai sobre a Prefeitura, que exige de cada um deles a comprovação da imunização contra as doenças mencionadas anteriormente. Além disso, a Prefeitura promove a vacinação daqueles que ainda não foram imunizados contra essas doenças. Todos esses critérios destacados nos parágrafos anteriores contribuem para aprimorar o desempenho dos trabalhadores no serviço de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos.
a) Regularidade, Frequência e Setorização da Coleta
O planejamento estratégico da coleta convencional de resíduos sólidos em municípios brasileiros, especialmente nas regiões tropicais, requer uma abordagem cuidadosa e adaptada às condições climáticas específicas. A coleta eficiente de resíduos domiciliares, comerciais e de prestadores de serviços deve ser realizada em cada imóvel, seguindo um cronograma consistente em relação aos dias e horários estipu- lados.
Nas regiões tropicais, caracterizadas por estações quentes e chuvosas, é crucial evitar que os resíduos fiquem armazenados por longos períodos. Recomenda-se que o processo completo de coleta e destinação final dos resíduos não ultrapasse cinco dias. Isso se justifica pelo aumento da temperatura que acelera o processo de decomposição, levando à proliferação de vetores e à geração de maus odores.
Para realizar um planejamento eficaz, é necessário obter informações detalhadas sobre as características específicas do município. Isso inclui o conhecimento sobre os tipos de pavimentações existentes, o sistema viário, a intensidade do tráfego, a sazonalidade na produção de resíduos e outros fatores relevantes. Essa abordagem estratégica permite a adaptação do sistema de coleta às peculiaridades locais, otimizando a eficiência operacional.
Além disso, a consideração das condições climáticas influencia diretamente na definição dos cronogramas de coleta, garantindo que o serviço seja realizado de maneira eficaz, minimizando impactos ambientais e promovendo a saúde pública. O alinhamento do planejamento estratégico com as características específicas do município é essencial para o sucesso e a sustentabilidade do sistema de coleta de resíduos sólidos.
Outras situações a serem consideradas são o aumento populacional do Município, mudanças das características dos bairros, estações do ano e o recolhimento irregular em locais não determinados pela Prefeitura. A Figura 138 mostra o fluxo- grama das etapas básicas necessárias, segundo CEMPRE (2010), para o dimensionamento e a programação dos serviços de coleta regular de resíduos domiciliares.
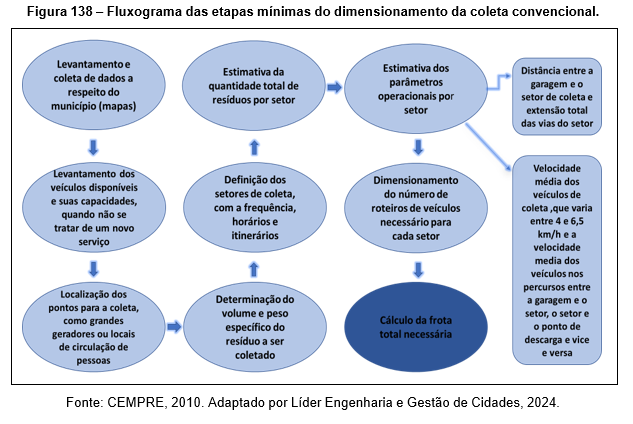
A frequência de coleta recomendada para a área urbana é de duas a três vezes na semana, podendo ser maior a frequência nas áreas de maior geração, como áreas predominantemente comerciais, e uma vez por semana na área rural, incluindo os distritos e assentamentos.
A coleta em núcleos distantes da área rural deverá ser feita, preferencialmente, por meio de Pontos de Entrega Voluntária, PEVs. Caso seja constatada inviabilidade financeira da coleta com frequência semanal na área rural, esta poderá ser quinzenal, desde que sejam adotados corretos procedimentos para o armazenamento dos resí- duos por um maior período.
Recomenda-se que a coleta no centro do município e nas demais áreas comerciais seja realizada logo pela manhã ou no período noturno, para evitar transtornos, principalmente relacionados com o tráfego. Nos bairros residenciais a coleta deve ser realizada preferencialmente durante o dia.
A coleta diurna gera menores custos com encargos sociais e trabalhistas, permite maior fiscalização do serviço e teoricamente possibilita maior segurança à equipe de coleta, contudo, nas ruas de maior fluxo de veículos, a coleta deve ser realizada no período noturno. Optando pela coleta noturna, o Quadro 32 mostra as vantagens e desvantagens deste horário.
Quadro 32 – Vantagens e desvantagens da coleta convencional noturna de resíduos sólidos.
| Vantagens | Desvantagens |
| Causa menores interferência em áreas de circulação mais intensa de veículos e pedestres. | Pode causar incômodos a população pelos ruídos produzidos na compactação dos resíduos pelo veículo coletor compactador ou pelo manuseio de recipientes metálicos. |
| Permite maior produtividade dos veículos e da coleta pela maior velocidade média em decorrência da menor interferência do tráfego em geral. | Aumenta o risco de acidentes com os veículos e com a equipe nos trajetos em ruas não pavimentadas ou mal iluminadas. |
| Permite a diminuição da frota de veículos coletores em função do melhor aproveitamento dos veículos disponíveis, proporcionada pelos dois turnos. | Aumenta os custos da etapa pelos encargos sociais e trabalhistas adicionais incidentes na folha de pessoal. |
| Aumenta o desgaste dos veículos usados também em outros turnos e diminui a disponibilidade dos veículos para a manutenção. |
Para que a coleta convencional de resíduos sólidos seja otimizada, é necessária uma avaliação constante do roteiro estabelecido, para que desta maneira, locais onde a geração de resíduos sólidos é mínima, o itinerário possa ser alterado, como já comentado em parágrafos anteriores, economizando com os custos de combustíveis e tempo de coleta.
No Quadro 33 estão indicados os locais, frequências e períodos recomendados para a realização da coleta convencional de resíduos sólidos em Iúna.
Quadro 33 – Recomendações para a coleta convencional de resíduos sólidos.
| Local | Frequência | Período |
| Áreas residenciais | Três vezes na semana | Diurno |
| Área rural | Mínimo Quinzenal | Diurno |
O sistema completo pode ser monitorado com a ajuda de softwares de gestão, que facilitam o gerenciamento de resíduos sólidos por meio de modelos matemáticos que interpretam toda a dinâmica envolvida no processo.
a) Veículos para a coleta convencional
A ABNT NBR nº 13.463/95 recomenda três tipos de veículos coletores de resí- duos sólidos municipais:
·Veículo basculante tipo standard;
·Veículo coletor compactador;
· Veículo coletor convencional.
Essa norma estabelece critérios essenciais para o dimensionamento da frota de coleta de resíduos sólidos, que incluem:
·Capacidade da coleta;
·Concentração de resíduos;
·Velocidade da coleta;
·Frequência da coleta e o período de coleta;
·Distância de transporte da coleta (tempo ocioso e efetivo);
·Tempo de transporte e tempo de viagem;
·Tempo de descarga;
·Quantidade de resíduos a serem coletados por dia.
A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 2007) propõe diferentes metodologias para o dimensionamento da frota, dependendo do porte do município. Para municípios de pequeno e médio porte, o cálculo da frota regular pode ser realizado por meio da equação representada a seguir.
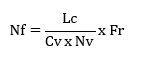
Onde:
Nf = quantidade de veículos;
Lc = quantidade de resíduos a ser coletado em m³ ou L;
Cv = capacidade do veículo em m³ ou ton (considerar 80% da capacidade); Nv = número de viagens por dia (máximo de três viagens);
Fr = Fator frequência = nº de dias na semana de produção de resíduos / nº de dias efetivamente coletados
Já para o dimensionamento da frota em municípios de grande porte, o cálculo pode ser feito por meio da equação representada a seguir.
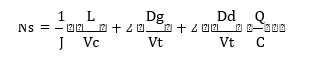
Onde:
Ns = quantidade de veículos por setor;
J = duração útil da jornada de trabalho da equipe em horas, desde a saída da garagem até o seu retorno, excluindo intervalo para refeições e outros tempos impro- dutivos;
L = extensão total das vias (ruas e avenidas) do setor de coleta, em km; Vc = velocidade média de coleta, em km/h;
Dg = distância entre a garagem e o setor de coleta, em km;
Dd = distância entre o setor de coleta e o ponto de descarga, em km;
Vt = velocidade média do veículo nos percursos de posicionamento e de trans- ferência, em km/h;
Q = quantidade total de resíduos a ser coletada no setor, em ton. ou m³;
C = capacidade dos veículos de coleta, em ton. ou m³ - em geral, adota-se um valor que corresponde de 70 a 80% da capacidade nominal, considerando-se a variabilidade da quantidade de lixo coletada a cada dia.
A gestão eficiente da frota de veículos para o serviço de coleta de resíduos é essencial para garantir a cobertura adequada, considerando a variabilidade na quantidade de resíduos coletados diariamente. Recomenda-se criar tabelas específicas para cada turno de trabalho, indicando a demanda de veículos para cada dia da semana em cada setor.
Essas tabelas proporcionam uma visão detalhada das necessidades diárias de veículos, permitindo a determinação da frota total necessária para cada turno. A prática comum é utilizar um valor que representa de 70% a 80% da capacidade nominal dos veículos, levando em consideração fatores como a variabilidade na geração de resíduos.
Ao longo dos sete dias da semana, as tabelas ajudam a identificar a frota necessária para cada turno. A maior frota calculada entre todos os turnos representa a frota mínima necessária para o serviço de coleta no município. Além disso, é comum adicionar uma margem adicional para garantir a segurança em situações de manutenção e emergências.
É crucial destacar que a frota total necessária não é simplesmente a soma dos veículos necessários para todos os setores. Isso ocorre porque a coleta não é realizada em todos os setores nos mesmos dias e horários. A frota total efetivamente necessária corresponde ao maior número de veículos que precisam operar simultaneamente em um mesmo dia e horário, garantindo uma abordagem realista e eficiente na gestão da frota de coleta de resíduos.
Conforme a ABNT NBR nº 12.980/93, os equipamentos de segurança recomendados para os veículos de coleta de resíduos domiciliares incluem:
·Jogo de cones para sinalização, bandeirolas e pisca-pisca acionado pela bateria do caminhão;
·Duas lanternas traseiras suplementares;
·Estribo traseiro de chapa xadrez, antiderrapante;
·Dispositivo traseiro para os coletores de resíduos sólidos se segurarem;
·Extintor de incêndio extra com capacidade de 10 kg;
·Botão que desligue o acionamento do equipamento de carga e descarga ao lado da tremonha de recebimento dos resíduos, em local de fácil acesso, nos dois lados;
·Buzina intermitente acionada quando engatada a marcha ré do veículo coletor;
·Lanterna pisca-pisca giratória para a coleta noturna em vias de grande circulação.
a) Coleta Seletiva
A coleta seletiva é essencial para atingir as metas de redução, reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos. Almejando, desta forma, o envio apenas dos rejeitos para os Aterros Sanitários, diminuindo também os impactos negativos ao ambiente na busca de novos recursos e os custos do sistema de gerenciamento de resíduos como um todo.
Descrita na Lei Federal nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010), a coleta seletiva é um processo em que os resíduos são previamente separados de acordo com sua constituição e composição. É imperativo que os municípios a implantem como forma de encaminhar as ações destinadas ao atendimento do princípio da hierarquia na gestão de resíduos.
Uma prática importante para a gestão sustentável dos resíduos sólidos em municípios é a coleta seletiva de materiais recicláveis. No Brasil, embora 73,1% dos municípios possuam sistemas de coleta seletiva, é comum que essas atividades sejam incipientes e não alcancem todos os bairros.
A implementação efetiva da coleta seletiva traz benefícios significativos para a sociedade. A Prefeitura pode criar programas para valorização econômica dos materiais recicláveis, contribuindo para a geração de empregos e incluindo os catadores informais, além de regularizar os atravessadores informais.
A definição e implementação dessas políticas públicas envolvem a participação de diversos órgãos e entidades, como a Fundação do Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Instituto de Atenção às Cidades, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, cooperativas de catadores, instituições de ensino, associações de moradores, comunidades e organizações não governamentais. Essa colaboração é essencial para desenvolver políticas públicas efetivas.
Os prazos para implementação podem variar conforme a complexidade do programa, disponibilidade de recursos e engajamento dos atores envolvidos. Geralmente, o processo inclui a definição da política, consulta pública, elaboração do plano de im- plementação, adaptação da infraestrutura, sensibilização e educação pública, e monitoramento contínuo.
A Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT), fundada em 2000, desempenha um papel crucial no apoio à organização social e econômica dos catadores. As cooperativas e associações acompanhadas pela ANCAT coletaram e comercializaram diversos materiais recicláveis, faturando aproximadamente R$ 32 milhões em 2018.
A possibilidade de cadastro da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do Município de Iúna (ASCOMRI) na Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT) representa uma oportunidade estratégica para aprimorar sua atuação. Ao se associar à ANCAT, a ASCOMRI terá acesso a assessoria técnica e jurídica, capacitação, e treinamento especializado, fortalecendo suas práticas de gestão e enfrentando desafios específicos de maneira mais eficiente. Além disso, a integração na rede da ANCAT proporciona visibilidade nacional, representatividade política e acesso a recursos financeiros, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a consolidação da ASCOMRI como uma importante entidade na gestão de resíduos recicláveis no Brasil.
A parceria também possibilitará à ASCOMRI integrar-se a uma rede nacional de catadores, promovendo a troca de experiências, o compartilhamento de boas práticas e a busca de parcerias estratégicas. Essa colaboração favorece a representatividade política dos catadores, promovendo a defesa de seus interesses em nível nacional, e oferece oportunidades para a AASCOMRI contribuir ativamente para o fortalecimento do movimento dos catadores de materiais recicláveis no país.
b) Acondicionamento de Resíduos Recicláveis
A proposta de padronização dos recipientes para resíduos recicláveis também implica na necessidade de sensibilização da população e na promoção de programas para incentivar a implantação desses recipientes nas instalações atuais e futuras do município. A padronização facilita a coleta e o processo de reciclagem, contribuindo para o sucesso da coleta seletiva.
A Resolução CONAMA nº 275/2001 (BRASIL, 2001), estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos gerados, para serem adotados na identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva.
O Quadro 34 mostra as cores específicas para cada tipo de resíduo, conforme determinado pela Resolução CONAMA em questão.
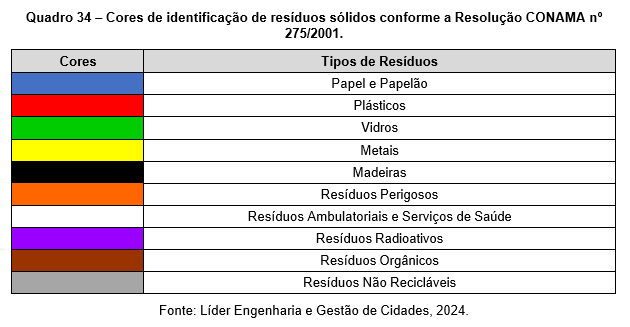
Desse modo, recomenda-se a adoção de um plano de implementação gradual. Inicialmente, sugere-se um prazo de 6 meses para que os órgãos responsáveis realizem a atualização das regulamentações locais, considerando as diretrizes estabelecidas pela resolução. Posteriormente, estabelece-se um prazo adicional de 1 a 2 anos para a substituição completa dos recipientes existentes pelos padronizados, considerando a disponibilidade de recursos e a viabilidade logística.
Para garantir que estas informações alcancem o público de maneira eficaz, é fundamental implementar políticas de conscientização da população. Isso envolve destacar o papel crucial que cada indivíduo desempenha no processo de separação de resíduos e promover o aumento das taxas de coleta seletiva.
Por outro lado, a administração municipal deve tomar medidas como a instalação de contêineres específicos em locais estratégicos, como vias públicas, edifícios públicos, praças, instalações esportivas, escolas e outros locais onde se considere necessário. A Figura 139 ilustra os tipos de recipientes mencionados anteriormente.

Esses coletores devem ser devidamente identificados, e a Prefeitura pode implementar métodos de fiscalização para garantir que a população siga a proposta desse tipo de coleta. Através de campanhas de conscientização e possíveis sanções, a Prefeitura pode promover a separação dos resíduos sólidos desde a sua origem, tornando mais eficaz o processo de triagem dos materiais recicláveis.
O Município de Iúna também pode considerar abordagens mais simples para a separação de resíduos recicláveis pela população. O Quadro 35 apresenta diferentes métodos de segregação de resíduos sólidos.
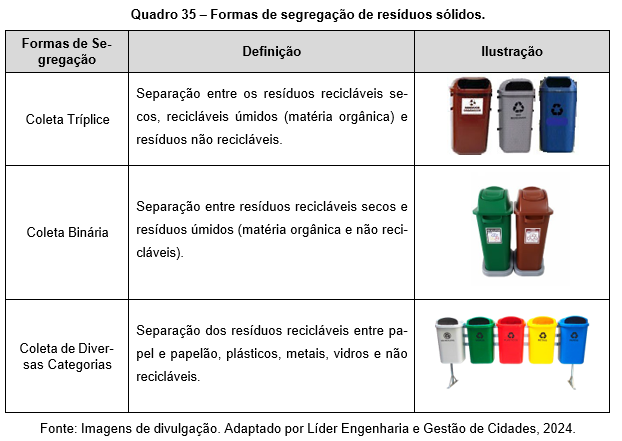
Apresentou-se neste tópico que o sistema da coleta seletiva se consolidou no Brasil, pelo menos no campo da organização e da metodologia, o que pode servir como guia para a adoção de melhorias no sistema de coleta seletiva no Município de Iúna.
O que realmente falta para que uma quantidade maior de resíduos recicláveis seja aproveitada e que os municípios saiam do campo metodológico e sigam em direção à prática, de uma coleta forte e estruturada até a comercialização dos produtos, gerando renda, é a sensibilização das pessoas por meio da Educação Ambiental consistente e maior apoio do Poder Público à associação de catadores da ASCOMRI.
Além disso, é importante expandir a área de coleta seletiva, incluindo não apenas a área urbana, mas também a área rural do município. Isso pode ser alcançado por meio da instalação de áreas de transbordo em pontos estratégicos, facilitando o transporte dos resíduos coletados para os locais de destinação adequada.
Para implementar essa ampliação da coleta seletiva de forma eficaz, é fundamental realizar um mapeamento das áreas do município com maior potencial de geração de resíduos recicláveis, identificando os tipos de materiais mais comuns e as características da população que vive nessas regiões.
Além disso, é importante investir em infraestrutura adequada para a coleta seletiva, como a instalação de pontos de coleta seletiva em locais de grande circulação, como escolas, hospitais e áreas comerciais. É fundamental também garantir a existência de um sistema eficiente de transporte e destinação dos resíduos coletados, a fim de garantir a efetividade do programa.
j) Guarnições de coleta seletiva
Como na coleta são utilizados veículos sem dispositivo de compactação, recomenda-se que a equipe de trabalho seja composta por dois ou três trabalhadores, além do motorista. Um permanece sobre a carroceria, ajeitando a carga para melhor aproveitamento da capacidade do veículo, enquanto os demais executam a coleta propriamente dita.
Naturalmente, o número de coletadores deve variar de acordo com as necessidades locais, aumentando ou diminuindo em função do relevo, das distâncias percorridas ou da quantidade de materiais recolhidos.
Os uniformes e os equipamentos de proteção individual podem ser os mesmos usados pelas equipes da coleta regular, salientando-se a importância do uso de luvas de raspa de couro para a proteção das mãos e braços de ferimentos causados por vidro quebrado ou outros materiais cortantes ou perfurantes. Quando possível, uma marca (ou símbolo) da coleta seletiva estampada no uniforme é sempre bem-vinda e chamará a atenção positivamente para o processo implantado pela municipalidade.
k) Formas de execução da coleta seletiva
Os modelos de execução da coleta seletiva mencionados refletem diferentes abordagens adotadas pelos municípios brasileiros para promover a separação e destinação adequada dos resíduos sólidos. Vamos analisar cada um desses modelos:
·Locais de Entrega Voluntária (LEV): esses pontos, públicos ou privados, como shoppings e postos de combustível, oferecem à população a oportunidade de descar- tar seus resíduos recicláveis de maneira consciente. Essa abordagem promove a
Educação Ambiental, incentivando a separação dos materiais na fonte e conscientizando sobre a importância da destinação correta.
· Coleta Seletiva Porta-a-Porta: nesse modelo, o Poder Público assume a res- ponsabilidade pela coleta seletiva, utilizando caminhões e cronogramas específicos. Os geradores de resíduos, em geral, realizam a separação dos materiais antes de disponibilizá-los para a coleta. Essa abordagem é eficaz para envolver diretamente os cidadãos na prática da coleta seletiva.
·Associações ou Cooperativas de Catadores: organizações legalmente consti- tuídas, como associações ou cooperativas de catadores, desempenham um papel crucial na coleta seletiva. Elas podem adquirir materiais recicláveis por meio de reco- lhimentos porta-a-porta ou estabelecer parcerias com os responsáveis pelos LEVs. Essa abordagem promove a inclusão social, oferecendo oportunidades de trabalho e renda para os catadores.
· Postos de Trocas: essa é uma modalidade inovadora em que os geradores têm a oportunidade de trocar materiais recicláveis em bom estado de conservação por benefícios, como descontos, vale-transporte ou vale-refeição. Apesar de ser uma abordagem mais recente e menos difundida, ela visa incentivar a participação da comunidade na coleta seletiva.
Cada modelo tem suas vantagens e desafios, e a escolha entre eles pode depender das características e necessidades específicas de cada município. O sucesso da coleta seletiva muitas vezes está associado à conscientização da população, educação ambiental efetiva e parcerias sólidas entre o setor público, privado e organizações da sociedade civil.
O Quadro 36 mostra as vantagens e desvantagens de cada modelo de execução de coleta seletiva.
Quadro 36 – Vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de execução da coleta seletiva.
| Modalidade | Pontos Positivos | Pontos Negativos |
| Coleta Seletiva Porta a Porta | 1) Dispensa o deslocamento das pessoas até um local de entrega voluntária, aumentando a adesão ao programa;2)Facilita a mensuração, identificando os imóveis participantes;3)Otimiza a descarga nos Centros de Triagens de Resíduos Sólidos – CTRS. | 1)Custo elevado de operação, com o aumento da frota necessária para a coleta e de recursos humanos. |
| Pontos ou Locais de Entrega Voluntária | 1) Menor custo para a coleta;2) Induz a população a compreender as diferentes cores dos recipientes – Educação Ambiental;3) Os materiais são encaminhados ao Centro de Triagem já separados;4) Permite a publicidade ou o patrocínio privado;6)Boa qualidade dos resíduos recebidos;Aumento da cidadania com a fidelização das pessoas. | 1) É necessário que a população se desloque até os pontos, podendo ocasionar desestímulos ao programa;2) Manutenção periódica dos recipientes, como limpezas e reformas, já que os mesmos se encontram expostos as intempéries e ao vandalismo;3) Capacidade limitada de armazenamento;4) Constante visitas de catadores informais;5)Impedimento da mensuração, não havendo o controle de quais domicílios aderiram ao programa. |
| Associações ou Cooperativas de Catadores | 1) Promove a inclusão social através do trabalho e renda;2) Reduz os custos da Prefeitura com a coleta e a triagem dos materiais;3) Maior independência sobre as vulnerabilidades ocorridas na gestão muni- cipal, como troca de governo ou corte em orçamentos;4)Através desta modalidade de execução de coleta seletiva, o município possui prioridades para a obtenção de recursos junto à União. | 1) Comumente estas Associações ou Cooperativas de Catado- res preferem materiais de maior valor de mercado;2) Riscos de acidentes de trabalho, com manuseios de prensas e outros tipos de equipamentos mecânicos;3) Alta rotatividade de colaboradores;4) Altos índices de colaboradores alcoolizados;5) Presença de exploração da mão de obra infantil;6)Impedimento da mensuração, não havendo o controle de quais domicílios aderiram ao programa. |
| Postos de Trocas | 1)Maior adesão da população, pois, permite que pessoas de baixa renda tenham uma receita extra; | 1) Preferência a materiais de maior valor de mercado; 2)Impedimento da mensuração, não havendo o controle de quais domicílios aderiram ao programa. |
Alguns procedimentos e recomendações são necessários para a instalação de LEVs, sendo eles:
·O local não poderá estar susceptível a inundações;
·Os pontos de entrega voluntária deverão estar em locais de grande movimen- tação de pessoas, como praças, centros comerciais, escolas e prédios públicos;
·O local deverá estar coberto para evitar acúmulo de água da chuva em seu interior;
·O local deverá estar sempre bem iluminado;
·O acondicionamento dos resíduos deverá ser composto por big bags de cento e vinte litros cada;
·A retirada dos resíduos recicláveis deverá ocorrer semanalmente;
·Correta identificação para cada tipo de resíduo;
·Instalação de dobradiças na parte frontal, facilitando a retirada dos big bags;
·Identificação dos responsáveis pela manutenção e coleta dos resíduos reciclá- veis;
·Os resíduos recicláveis não poderão ser compactados dentro dos big bags.
A Figura 140 mostra um local de entrega voluntária de resíduos recicláveis.
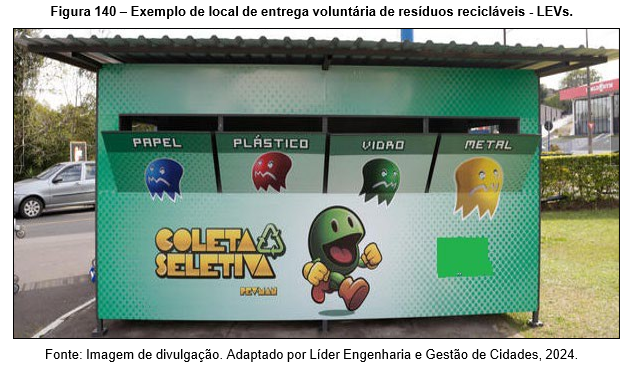
Como um complemento à coleta seletiva porta a porta, é recomendável que seja instalado no mínimo um LEV ou PEV para cada 5.000 habitantes, enquanto o posto de troca, que oferece estrutura de atendimento, pode atender a uma população de até 20.000 habitantes. A implantação dos pontos de entrega voluntária de resíduos recicláveis deve começar pela região central da cidade e depois ser expandida para outras áreas do município.
l) Triagem dos Resíduos Sólidos
Os Centros de Triagens de Resíduos Sólidos (CTRS), também conhecidos como Unidades de Triagem, desempenham um papel fundamental no gerenciamento eficiente dos resíduos sólidos, especialmente aqueles provenientes da coleta seletiva. Essas instalações operam sob licenciamento adequado e são projetadas para receber, segregar e beneficiar os resíduos recicláveis coletados.
No ambiente dos CTRS, os resíduos recicláveis passam por um processo específico, onde são separados de acordo com suas tipologias, podendo ser prensados, triturados, estocados e, posteriormente, comercializados. Essa abordagem visa otimizar o aproveitamento dos materiais recicláveis, seguindo as diretrizes essenciais de manejo desses resíduos. Por outro lado, os rejeitos, que são os resíduos não recicláveis, são encaminhados para a destinação final no aterro sanitário.
Além disso, quando a infraestrutura está disponível, os resíduos orgânicos po- dem ser direcionados para processos de compostagem, contribuindo para a redução do volume de resíduos enviados aos aterros.
A Figura 141 ilustra como é o funcionamento de uma CTR.
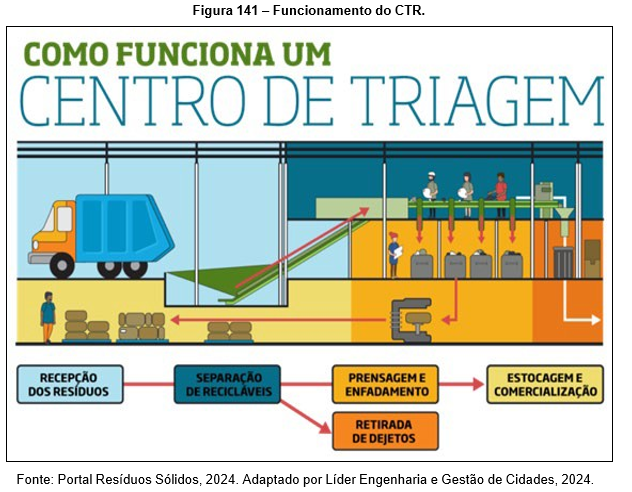
Sobre a gestão dos CTRS, estes poderão ser de empresas privadas ou públicas, onde em caso de pertencerem a empresas públicas, a administração poderá ser através de Associações ou Cooperativas de Catadores.
Ressalta-se também, que para a implantação de um CTRS é necessário um projeto de engenharia, objetivando a eficiência de segregação dos materiais, assim como, a classe de materiais a serem triados estudando a capacidade de escoamento e o mercado da atividade, garantindo desta maneira, uma sustentabilidade econômico-financeira de todo o processo.
Com todos estes procedimentos citados acima, percebe-se os altos custos que envolvem a implantação de um CTRS. O custo-benefício de todo o processo será mensurado através das entradas dos resíduos sólidos e as saídas dos mesmos para a reciclagem ou disposição final. Desta forma, torna-se necessário o controle periódico de saídas e entradas do processo.
Assim, por meio das metas de recuperação dos materiais recicláveis estabelecidas neste Plano, o Município de Iúna deverá realizar um estudo de viabilidade econômico-financeiro, social e ambiental, para a implantação do CTRS, acompanhado do projeto de engenharia com todas as exigências impostas pelo Órgão Ambiental competente.
A capacidade de recebimento deste CTRS deverá ser dimensionada para receber todos os resíduos da coleta seletiva do município. A estrutura operacional deverá comportar todo o sistema por um período de vinte anos, onde este período representa o horizonte deste PMGIRS.
A unidade deverá ser implantada em área central ou industrial da cidade, visando uma melhor logística de transporte e para os catadores. Poderá ser pensada para instalação em local estratégico, que possibilite o escoamento dos resíduos recicláveis pela rodovia e o acesso via transporte público pelos catadores, viabilizando o transporte deles até a CTRS.
Abaixo seguem as recomendações mínimas para a instalação de uma CTRS:
·A unidade deverá ser implantada em área central ou industrial;
·O local deverá possuir cobertura e solo impermeável;
·Muros e cercas impedindo a entrada de animais e pessoas não autorizadas;
·Área de descarga;
·Guarita de segurança;
·Balança industrial na entrada e saída;
·Esteiras rolantes e prensas;
·Água encanada e linha telefônica;
·Área administrativa;
·Refeitório, sanitários e área de vivência;
·Sinalizações e demais procedimentos de segurança (luz de emergência, saída de emergência, extintores, alarmes contra incêndios etc.);
·Baias para o acondicionamento de resíduos não recicláveis.
As recomendações apresentadas neste trabalho são necessárias para que a quantidade de resíduos sólidos destinados a reciclagem seja maior. Desta maneira evita-se o acúmulo de resíduos sólidos em locais inapropriados, diminuindo os custos para a destinação correta e aumentando a vida útil do aterro sanitário utilizado pelo município de Iúna.
Segue abaixo as características e produtividade de diferentes metodologias de segregação de acordo com a Coordenadoria de Planejamento Ambiental Estratégico e Educação Ambiental (CPLEA).
Processo manual
A triagem pode ser realizada de forma rudimentar, depositando-se o produto da coleta diretamente no chão e separando-se manualmente seus componentes. Esse sistema é apropriado para pequenas comunidades, ou para amostragens em comunidades maiores, pois a produção de cada trabalhador alocado na atividade é relativamente baixa. Nessas condições de trabalho, um trabalhador é capaz de separar até 500 quilos de recicláveis por jornada de 8 horas.
Mesa de catação/esteira
Outra opção é usar uma correia ou esteira transportadora como mesa de triagem, também chamada de mesa de catação. Os materiais coletados são depositados no solo, junto de uma das extremidades da esteira. Um trabalhador utilizando garfo ou pá transfere os materiais em porções para a esteira. Os trabalhadores que fazem a triagem permanecem nas laterais da esteira com a incumbência de separar os diferentes tipos de materiais. Enquanto um separa vidro, outro separa papelão, outro, metais ferrosos, e assim por diante.
Os materiais sem interesse ou possibilidade de aproveitamento continuam até o final da esteira e são lançados num vasilhame para descarte. Nessas condições de trabalho, um trabalhador é capaz de separar até 700 quilos de materiais recicláveis por jornada de 8 horas. Além da produtividade, a utilização da mesa de catação ofe- rece melhores condições de trabalho e maior comodidade para os trabalhadores.
Outra possibilidade é a utilização de uma grande gaiola construída em tela metálica, tipo alambrado. As dimensões da gaiola devem ser suficientes para conter os materiais obtidos durante um ou dois dias de coleta.
Os materiais coletados são lançados pela parte superior da gaiola e tirados pelos trabalhadores que fazem a triagem por uma abertura situada na parte inferior da gaiola, a cerca de 1,5 m de altura do piso. A produtividade de cada trabalhador nessas condições é de aproximadamente 250 quilos/pessoa/dia.
Os materiais triados deverão ser estocados separadamente em baias de alvenaria ou madeira construídas com dimensões suficientes para o acúmulo de um volume que justifique o pagamento das despesas de transporte para venda. Materiais que apresentam grande volume e peso reduzido, como latas, plásticos, papéis e papelão devem ser prensados e enfardados para maior conveniência no armazenamento e transporte.
As embalagens de vidro devem ser separadas por cores e até por tipo, como forma de se obter maior valor comercial, já que podem ser vendidas por unidade para reuso em diversas empresas. Os recipientes quebrados devem ser triturados para redução de volume e maior economia de transporte. Para trituração podem ser usadas pequenas máquinas, acopláveis sobre latões de 200 litros, que podem ser obtidas nas próprias indústrias que processam esse material.
Os materiais estocados devem ser abrigados das intempéries, para não acumular água de chuva e se transformarem em focos de proliferação de insetos. É comum que sejam entregues à coleta seletiva móveis e eletrodomésticos que quase sempre podem ser reutilizados, encontrando utilidade em entidades assistenciais, por exemplo. Esses materiais também necessitam de abrigo especial.
m) Resíduos de Serviços de Saúde
No Brasil, entidades como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) desempenham um papel crucial na orientação, fiscalização e definição das regras relacionadas à gestão e ao manejo dos Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS).
Os RSS englobam resíduos provenientes de atendimentos clínicos para a saúde humana e animal, abrangendo consultas domiciliares e trabalhos de campo. A Resolução CONAMA nº 358/2005 estabelece os estabelecimentos geradores de RSS, que incluem:
·Hospitais;
·Clínicas médicas e odontológicas;
·Farmácias e drogarias;
·Laboratórios de análises clínicas e postos de coleta de material biológico;
·Serviços de acupuntura;
·UTIs móveis;
·Institutos Médico-Legais;
·Clínicas veterinárias;
·Centros de controle de zoonoses;
·Funerárias;
·Institutos educacionais e de pesquisas médicas;
·Serviços de tatuagens.
Os RSS são uma parte importante dos resíduos sólidos urbanos, não apenas devido à quantidade gerada, mas também devido ao seu potencial poluente, que representa riscos para a saúde e o meio ambiente. Esses resíduos têm sido uma questão ambiental de crescente importância, tanto a nível nacional quanto regional.
Para enfrentar essa problemática, as unidades geradoras devem possuir um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Saúde (PGRSS), que estabelece diretrizes para o tratamento e manejo adequado dos RSS. A Resolução CONAMA nº 358/2005 deve ser rigorosamente seguida, definindo os procedimentos e destinações finais dos resíduos dos serviços de saúde. O gerenciamento dos RSS pode considerar abordagens intermunicipais e consorciadas para aprimorar a oferta de serviços, ampliar a abrangência e reduzir os custos, levando em consideração critérios técnicos, econômicos e ambientais.
A Lei nº 12.305/2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), estabelece que os geradores de RSS são responsáveis pelo correto geren- ciamento desses resíduos e, portanto, devem desenvolver um PGRSS. A Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC ANVISA) nº 306/2004 orienta os geradores na elaboração desse plano, que deve abranger aspectos como geração, segregação, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos RSS, além de cumprir a legislação relevante em âmbito federal, estadual e municipal.
Recomenda-se que a Prefeitura e a Vigilância Sanitária Municipal conduzam uma fiscalização regular e rigorosa para verificar o cumprimento das ações estabelecidas nos PGRSS na cidade. Essa fiscalização deve ser realizada de forma sistemática, e medidas punitivas devem ser aplicadas aos estabelecimentos que não seguem as normas.
n) Manuseio dos Resíduos de Serviço de Saúde e Saúde Ocupacional
O manuseio dos resíduos dos serviços de saúde exige uma série de procedimentos, para garantir a segurança e a saúde dos colaboradores envolvidos nesta atividade. A ABNT NBR nº 12809/1993 (ABNT, 1993), trata dos requisitos mínimos de todas as etapas do processo de gerenciamento da coleta, acondicionamento, transporte e destinação final adequada destes resíduos.
As Normas Regulamentadoras – NR 06 (BRASIL, 1978) e NR 32 (BRASIL, 2005) – Manual de Segurança e Medicina do Trabalho, também apresentam as especificações sobre o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, e dos equipamentos necessários para a promoção da segurança no manuseio dos resíduos dos serviços de saúde.
A RDC ANVISA nº 222/2018 apresenta os procedimentos obrigatórios para to- dos os colaboradores envolvidos na gestão dos resíduos dos serviços de saúde, como, a higienização, o exame médico admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional, conforme estabelecido no Programa de Con- trole Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), da Portaria nº 3.214/1978 (BRASIL, 1978), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Há também a obrigatoriedade determinada pela RDC ANVISA nº 222/2018, sobre o Programa Nacional de Imunização (PNI), devendo os colaboradores em questão a seguir corretamente o calendário estipulado por este Programa, ou o calendário estipulado pelo estabelecimento de saúde.
Os colaboradores deverão ser submetidos periodicamente por treinamentos específicos da função, mesmo os mais experientes, como os iniciantes nesta atividade. Ainda, deve haver um supervisor para a fiscalização quanto aos procedimentos, principalmente, os procedimentos relacionados ao uso de EPIs.
o) Segregação, Acondicionamento e Identificação dos Resíduos de Serviço de Saúde
Segundo a RDC ANVISA nº 222/2018, os RSS devem ser segregados no momento de sua geração, conforme classificação por Grupos (A, B, C, D e E), em função do risco presente inerente a cada um. Os RSS no estado sólido, quando não houver orientação específica devem ser acondicionados em saco constituído de material re- sistente a ruptura, vazamento e impermeável. Devem ser respeitados os limites de peso de cada saco, assim como o limite de 2/3 (dois terços) de sua capacidade, garantindo-se sua integridade e fechamento.
Os sacos para acondicionamento de RSS do grupo A devem ser substituídos ao atingirem o limite de 2/3 (dois terços) de sua capacidade ou então a cada 48 (quarenta e oito) horas, independentemente do volume, visando o conforto ambiental e a segurança dos usuários e profissionais. Os sacos contendo resíduos do grupo A de fácil putrefação devem ser substituídos no máximo a cada 24 (vinte e quatro) horas, independentemente do volume.
Os RSS do Grupo A que não precisam ser obrigatoriamente tratados e os RSS após o tratamento são considerados rejeitos e devem ser acondicionados em saco branco leitoso. Quando houver a obrigação do tratamento dos RSS do Grupo A, estes devem ser acondicionados em sacos vermelhos, contudo, o saco vermelho pode ser substituído pelo saco branco leitoso sempre que as regulamentações estaduais, municipais ou do Distrito Federal exigirem o tratamento indiscriminado de todos os RSS do Grupo A, exceto para acondicionamento dos resíduos do subgrupo A5.
O coletor do saco para acondicionamento dos RSS deve ser de material liso, lavável, resistente à punctura, ruptura, vazamento e tombamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados. O coletor não necessitará de tampa para fechamento sempre que ocorrer a substituição imediata do saco para acondicionamento após a realização de cada procedimento. Após sua substituição, o saco para acondicionamento usado deve ser fechado e transferido para o carro de coleta.
Os RSS líquidos devem ser acondicionados em recipientes constituídos de ma- terial compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com tampa que garanta a contenção do RSS e identificação conforme o Anexo II da RDC ANVISA nº 222/2018. Já os recipientes de acondicionamento para RSS químicos no estado sólido devem ser constituídos de material rígido, resistente, compatível com as características do produto químico acondicionado e identificados conforme o Anexo II da resolução ANVISA supracitada.
Os rejeitos radioativos, grupo C, devem ser acondicionados conforme procedimentos definidos pelo supervisor de proteção radiológica, com certificado de qualifi- cação emitido pela CNEN, ou equivalente de acordo com normas da CNEN, na área de atuação correspondente.
Os RSS do Grupo D devem ser acondicionados de acordo com as orientações dos órgãos locais responsáveis pelo serviço de limpeza urbana e, segundo a RDC ANVISA nº 222/2018, não precisam ser identificados.
A Figura 142 mostra exemplos de identificação segundo a RDC ANVISA nº 222/2018.

p) Armazenamento, coleta, transporte e destinação dos Resíduos de Serviços de Saúde
De acordo com a RDC ANVISA nº 222/2018, o transporte interno dos RSS deve ser realizado atendendo a rota e a horários previamente definidos, em coletor identificado de acordo com o Anexo II da mesma resolução, como já exposto acima. Os funcionários responsáveis pelo transporte interno deverão ser treinados e a rotina de trabalho deverá ser devidamente planejada, evitando horários coincidentes com a distribuição de roupas, alimentos e medicamentos, períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas ou de atividades.
O coletor utilizado para transporte interno (Figura 143) deve ser constituído de material liso, rígido, lavável, impermeável, provido de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas arredondados, e aqueles com mais de quatrocentos litros de capacidade devem possuir válvula de dreno no fundo.

Os veículos de transporte externo dos RSS não podem ser dotados de sistema de compactação ou outro sistema que danifique os sacos contendo os RSS, exceto para os RSS do Grupo D. O transporte externo de rejeitos radioativos, deve seguir normas específicas, caso existam e as normas da CNEN. Os veículos para coleta de RSS devem ser destinados exclusivamente para este fim e estarem devidamente identificados. Os trabalhadores envolvidos devem receber cursos de capacitação e atenderem aos outros requisitos já abordados anteriormente. A Figura 144 mostra al- guns exemplos de veículos para coleta externa.

No armazenamento temporário e externo de RSS é obrigatório manter os sacos acondicionados dentro de coletores com a tampa fechada. Os procedimentos para o armazenamento interno devem ser descritos e incorporados ao PGRSS do serviço.
Segundo a RDC ANVISA nº 222/2018, o abrigo temporário de RSS deve ser provido de pisos e paredes revestidos de material resistente, lavável e impermeável; possuir ponto de iluminação artificial e de água, tomada elétrica alta e ralo sifonado com tampa; quando provido de área de ventilação, esta deve ser dotada de tela de proteção contra roedores e vetores; ter porta de largura compatível com as dimensões dos coletores; e estar identificado como "ABRIGO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS".
A sala de utilidades ou expurgo pode ser compartilhada para o armazenamento temporário dos RSS dos Grupos A, E e D, devendo ser compatível com a área a ser ocupada pelos coletores em uso. Os RSS de fácil putrefação devem ser submetidos a método de conservação em caso de armazenamento por período superior a vinte e quatro horas.
Já quanto ao abrigo externo, como preconizado pela RDC ANVISA nº 222/2018, o mesmo deve ter, no mínimo, um ambiente para armazenar os coletores dos RSS do Grupo A, podendo também conter os RSS do grupo E, e outro ambiente exclusivo para armazenar os coletores de RSS do grupo D. Deve, inclusive:
·Permitir fácil acesso às operações do transporte interno e aos veículos de coleta externa;
·Ser dimensionado com capacidade de armazenagem mínima equivalente à ausência de uma coleta regular, obedecendo à frequência de coleta de cada grupo de RSS;
·Ser identificado conforme os grupos de RSS armazenados;
·Ser de acesso restrito às pessoas envolvidas no manejo de RSS;
·Possuir porta com abertura para fora, provida de proteção inferior contra roedores e vetores, com dimensões compatíveis com as dos coletores utilizados;
·Ter ponto de iluminação;
· Possuir canaletas para o escoamento dos efluentes de lavagem, direcionadas para a rede de esgoto, com ralo sifonado com tampa;
·Possuir área coberta para pesagem dos RSS, quando couber;
·Possuir área coberta, com ponto de saída de água, para higienização e limpeza dos coletores utilizados.
Os RSS que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico podem ser encaminhados para reciclagem, recuperação, reutilização, compostagem, aproveitamento energético ou logística reversa. Os rejeitos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico devem ser encaminhados para disposição final ambiental- mente adequada.
As embalagens primárias vazias de medicamentos cujas classes farmacêuticas constem no Art. 59 RDC ANVISA nº 222/2018 devem ser descartadas como rejeitos e não precisam de tratamento prévio à sua destinação. Sempre que não houver indicação específica, o tratamento do RSS pode ser realizado dentro ou fora da unidade geradora e os RSS tratados devem ser considerados como rejeitos.
q) Resíduos de Construção Civil
A gestão adequada dos resíduos de construção civil (RCC) desempenha um papel crucial na preservação ambiental e na sustentabilidade da construção civil. De acordo com a legislação brasileira, os RCCs, provenientes de construções, reformas e demolições, são classificados em quatro categorias, levando em consideração seu potencial para reciclagem ou reutilização. Essa classificação está no capítulo destinado aos RCC, no diagnóstico.
A deposição inadequada desses resíduos em locais clandestinos, como botaforas e terrenos baldios, tem impactos significativos, incluindo proliferação de vetores de doenças, poluição visual e contaminação ambiental. Nesse contexto, a responsa- bilidade recai sobre os geradores, sejam eles grandes construtoras ou pequenos em- preendedores.
Grandes geradores são obrigados a elaborar Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) como parte do licenciamento ambiental. Já os pequenos geradores passam por ações de educação ambiental, priorizando a segregação na fonte e destinando seus resíduos a caçambeiros licenciados, sujeitos a fiscalização rigorosa. Pode ser previsto a recolha de resíduos da construção dos pequenos geradores conforme definição a ser estabelecida em legislação municipal específica que diferencie os pequenos e os grandes geradores de resíduos no Município de Iúna.
A etapa de segregação na fonte e triagem dos materiais são fundamentais para atingir metas de não geração, redução, reutilização e reciclagem. A triagem, preferencialmente realizada na origem, contribui para a preservação da qualidade dos resíduos e facilita sua reutilização ou reciclagem.
O acondicionamento temporário dos resíduos deve ser estrategicamente planejado, considerando volume, características físicas e proximidade aos pontos de geração. Em pequenas obras, pode-se dispensar o acondicionamento temporário, focando apenas no acondicionamento final, conforme a tipologia, quantidade e volumes gerados.
Uma gestão eficiente dos RCCs não apenas atende às exigências legais, mas também promove a sustentabilidade na construção civil. A reciclagem e reutilização desses materiais não apenas reduzem os impactos ambientais, mas também abrem oportunidades para práticas mais sustentáveis e responsáveis no setor da construção. O caminhão basculante é um tipo específico de veículo equipado com uma caçamba articulada na parte traseira e destinado ao transporte de grandes quantidades de material. É muito utilizado no transporte de resíduos, principalmente dos RCC. Por suas condições específicas esse tipo de caminhão exige preparo e cuidados para garantir a segurança dos caminhoneiros e demais envolvidos no processo. Além do treinamento específico previsto na Norma Regulamentadora NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais (BRASIL, 1978), devem ser observados:
·O motorista deve portar crachá com foto, nome, função e período de realização do curso de direção defensiva, bem como dos treinamentos admissional e específico;
·O ajudante deve portar crachá com foto, nome, função, bem como dos treina- mentos admissional e específico;
·Treinamento Admissional de 16h, constando nomes e assinaturas do motorista e ajudante;
·Treinamento específico com carga horária mínima de 4 horas, conteúdo teórico e prático, constando nomes e assinaturas do motorista e ajudante.
·Realização da APR – Análise Preliminar de Riscos, constando os nomes e as- sinaturas do motorista e ajudante;
·Alarme sonoro de ré (bip-bip) acoplado ao sistema de câmbio;
·(dois) retrovisores em bom estado;
·Pneus em bom estado, inclusive o estepe;
·Faixas refletivas na traseira e laterais da caçamba;
·Carteira Nacional de Habilitação do motorista de categoria C, para veículo até 6 (seis) toneladas, e demais D ou E;
·(duas) travas de segurança em perfeitas condições de uso na tampa traseira da caçamba, sendo uma de cada lado;
·Extintor de incêndio dentro da validade;
·Uso de uniforme e calçado de segurança, tanto pelo motorista como pelo ajudante;
·Luzes de freio, setas, ré, pisca-pisca, faróis baixo e alto dentro da conformi- dade;
·Sistema de freio e embreagem funcionando em bom estado;
· Para-brisa sem película de óleo;
·Limpador de para-brisa em bom estado;
·Pedais em bom estado, possuindo borracha antiderrapante;
·Cobertura da caçamba com lona tipo trevira ou equivalente e deve estar amar- rada a cada 0,80 m em pontos resistentes;
·Dirigir com os faróis acessos;
·Não dirigir após ingerir bebidas alcoólicas ou sob o efeito das mesmas;
·Escada de acesso à carroceria;
·Existência de 4 (quatro) cones com altura mínima de 50 cm, para eventuais necessidades;
·Existência de macaco e triângulo.
As caçambas de entulho devem ocupar vias públicas por até 72 horas, ou seja, no máximo 3 dias desde que estejam ocupando uma área física de estacionamento de um carro comum, seguindo o fluxo rotativo da avenida.
Outras regras são aplicáveis a esse tipo de utilização da caçamba, em todo território nacional, como as que seguem:
·É proibido sua disposição sobre as calçadas, bocas de lobo, pontos de acessi- bilidade ou locais proibidos para qualquer veículo automotivo, como: faixa de pedestre ou faixa amarela;
·É proibido sua disposição a menos de dez (10) metros da esquina;
·Proibida a permanência superior a 72h em vias públicas;
·Deve ser disposta apenas em ruas com mais de 7 metros de largura;
·Devem seguir o afastamento de 30cm da calçada para desbloquear o fluxo de água;
·Não é permitido o descarte de materiais químicos ou fluídos em caçambas ina- propriadas e sua permanência em via pública.
As regras citadas são regulamentadas pelos municípios pela norma da ABNT NBR 14.728/2005 (ABNT, 2005), estabelecidas pelo Comitê Brasileiro de Implementos Rodoviários.
As caçambas são próprias apenas para resíduos ou entulhos provenientes de reformas, obras ou demolições. São exemplos desses materiais as alvenarias, concreto, argamassa, gesso, vidro, cimento, tijolos, areia, pedras, resto de carpete, plás- tico, lã de vidros, cerâmicas, madeiras, metais e canos.
Independente do material a ser descartado, é importante não ultrapassar a barra de segurança existente na caçamba. Esse respiro da borda equivale a 10 centímetros para o interior, e todo material que exceder deverá ser cortado ou partido para a segurança do transporte.
r) Alternativa de reciclagem de Resíduos Sólidos de Construção Civil
As soluções para a reciclagem de RCC variam de acordo com o tipo de resíduo tratado. Após a coleta seletiva, os resíduos passam por um processo de trituração, resultando em uma mistura de frações de baixo valor agregado. Somente após a granulação, ou seja, a separação das frações, é possível destinar adequadamente os novos materiais. Dependendo do tamanho da fração, os resíduos são classificados
como areia, brita, pedrisco, bica corrida e outros. Posteriormente, esses materiais podem ser comercializados como matérias-primas secundárias ou utilizados para a me- lhoria de vias rurais com buracos.
O tipo de usina de reciclagem a ser implantado depende do porte do empreendimento e da quantidade de RCCs a serem processados. Existem duas categorias principais: usinas fixas e usinas móveis. As usinas fixas são construídas em terrenos com tamanho variável, dependendo da capacidade de processamento da usina. Quanto maior a capacidade, maior a área necessária para a instalação. Já as usinas móveis oferecem a flexibilidade de se deslocar para áreas onde o serviço é necessário, o que pode tornar o empreendimento altamente lucrativo e versátil. A Figura 145 e Figura 146 ilustram os dois modelos de usinas de tratamento de RCCs.
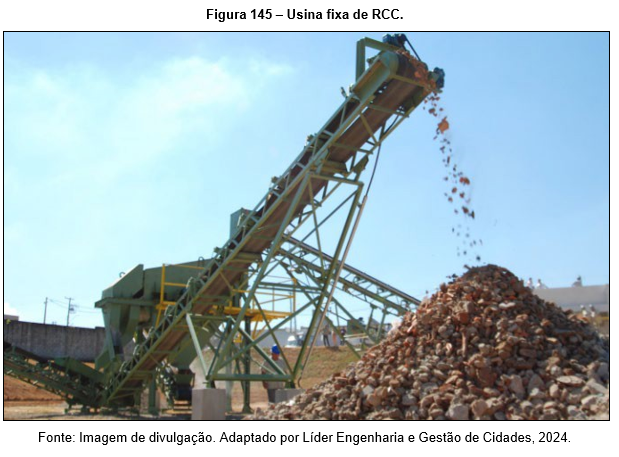

As unidades de recepção, triagem, transbordo e reciclagem de resíduos abrangem uma série de atividades intermediárias no gerenciamento de resíduos da construção civil. Estas unidades podem ser disponibilizadas de forma integrada ou de forma segmenta (unidades separadas).
Usualmente observa-se que empreendimentos do setor abrangem mais de uma destas atividades. São consideradas unidades de recepção, os pontos de entrega voluntária, abertos à comunidade, destinados a pequenos geradores. Usualmente estes pontos são disponibilizados pelas prefeituras municipais e/ou por parcerias com a iniciativa privada.
As unidades de transbordo e triagem (ATT) consistem em locais para o acúmulo provisório de resíduos para posterior destinação. Nestas unidades é realizada a triagem de resíduos, com o objetivo de segregar os diferentes materiais presentes nos resíduos de construção civil, para posterior venda às empresas recicladoras dos resíduos aproveitáveis.
As unidades de reciclagem de resíduos da construção civil consistem em unidades de beneficiamento de resíduos Classe A, transformando-os em agregados de diferentes granulometrias para serem utilizados no setor da construção civil como insumo.
Estas unidades são equipadas com esteiras para o transporte interno dos resíduos, britadores para o rompimento dos resíduos em partes menores e peneiras para separação dos produtos beneficiados. Além destes equipamentos, são utilizados veículos e maquinários pesados.
Como prognóstico para o gerenciamento de resíduos da construção civil por pequenos geradores, a estratégia pode ser baseada na implantação de Pontos de Entrega Voluntária de Pequenos Volumes (PEPV) no Município, assim como na definição de procedimentos para o manejo adequado dos resíduos por parte dos geradores.
Os PEPV devem funcionar como bacias de captação dos resíduos de construção civil gerados por pequenos geradores no município. A disponibilização e operação destas estruturas, assim como o gerenciamento dos resíduos recebidos nestes pontos, é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, que devem estudar as opções de localização e estruturação dos PEPV de acordo com as áreas disponíveis e orçamento previsto para a implantação.
A estruturação e operação destas unidades poderá ocorrer de forma indireta, cabendo ao poder público delimitar as formas de participação da iniciativa privada. Portanto, os PEPV de resíduos da construção civil são locais dotados de estrutura específica para a recepção segregada e controlada dos resíduos gerados por pequenos geradores.
Os PEPV devem estar distribuídos próximo a núcleos geradores, facilitando a entrega destes resíduos por parte dos pequenos geradores. Sugere-se, inclusive, que os PEPV estejam localizados próximo aos locais de deposição de resíduos da construção civil, como forma de inibir o descarte inadequado e incentivar o uso destas estruturas.
Podem ocupar áreas públicas ou privadas, desde que observada a legislação ambiental, o regramento para o uso e ocupação do solo, assim como demais exigências legais pertinentes.
O projeto de cada Ponto de Entrega Voluntária deve seguir o preconizado pela ABNT NBR nº 15.112/2004 - Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos. Áreas de Transbordo e Triagem. Diretrizes para Projeto, Implantação e Operação, sendo:
·Prever o plantio de uma cerca viva nos limites da área, para reforçar a imagem de qualidade ambiental do equipamento público;
·Diferenciar os espaços para a recepção dos resíduos que tenham de ser tria- dos, como, resíduos da construção civil, resíduos volumosos e resíduos da coleta se- letiva, para que a remoção seja realizada por circuitos de coleta, com equipamentos adequados a cada tipo de resíduo;
·Aproveitar o desnível existente, ou criar um platô para que a descarga dos re- síduos pesados, como os resíduos da construção civil seja realizada diretamente no interior de caçambas metálicas estacionárias;
·Garantir os espaços corretos para as manobras dos veículos que utilizarão a instalação, como, os pequenos veículos dos geradores e os veículos de carga res- ponsáveis pela remoção posterior dos resíduos acumulados;
·Instalar placa de sinalização que informe à toda a população do município sobre a finalidade deste equipamento público, como local correto para o descarte do RCC e resíduos volumosos.
A estrutura disponibilizada deve proporcionar segregação mínima em três das quatro classes estabelecidas pela resolução CONAMA nº 307 de 2002: Classe A, Classe B e Classe C.
Os resíduos Classe D, perigosos, não necessariamente serão recebidos nestes locais, cabendo ao município definir se irá disponibilizar estrutura para estes resíduos e formas de cobrança pela recepção, ou se devem ser destinados pelos próprios geradores buscando os sistemas disponíveis, incluindo possibilidades de logística reversa.
Cabe ressaltar que o manejo dos resíduos classe D é diferenciado, e geralmente envolve custos de transporte, tratamento e disposição final maiores quando comparados aos resíduos não perigosos (Classe A, B e C).
A operação dos PEPV consiste no recebimento controlado dos resíduos, com a verificação do volume disposto por método de cubagem, ou do peso dos resíduos com o uso de balança. Os limites estabelecidos para pequenos geradores devem ser observados, sendo indicada a cobrança diferenciada pela disposição dos resíduos que excederam o limite estabelecido.
O controle dos limites diários deve ser realizado pelo cadastro dos respectivos CPF, ou CNPJ, dos geradores, o que torna necessário a disponibilização de
profissional capacitado para manutenções diárias da estrutura, verificação dos processos e controle dos horários de funcionamento dos PEPV.
O acondicionamento dos resíduos deve ser realizado em caçambas estacionárias ou baias, sendo obrigatória a diferenciação do acondicionamento dos resíduos de diferentes classes.
Recomenda-se disponibilizar os equipamentos de acondicionamento em terreno com desnível, ou em estrutura dotada de rampa/plataforma para facilitar a disposição dos resíduos nos equipamentos.
Com exceção dos resíduos classe A, recomenda-se que os outros resíduos sejam acondicionados em estrutura coberta, ou com proteção de intempéries (chuva, vento, etc.), preservando as características dos matérias para os processos posteriores de reciclagem e destinação.
Dessa forma, infere-se que os PEPV, sem comprometimento de suas funções originais, poderão ser utilizados para entrega de resíduos sólidos recicláveis secos, resíduos volumosos e de resíduos vegetais, desde que seja disponibilizada estrutura específica para o manejo destes resíduos.
O Quadro 37 mostra de forma resumida as características físicas de um Ponto de Entrega Voluntária ou Ecoponto para RCC e resíduos volumosos.
Quadro 37 – Características físicas de um Ponto de Entrega Voluntaria ou Ecoponto.
| Organização |
| Em caçambas | No platô ou em baias |
| RCC | Solo | Rejeito | Moveis | Madeira | Sucata Fer- |
| Recepção |
| A granel | Em unidades |
| Características do Equipamento de Remoção |
| Veículo para transporte de elevada tonelagem | Veículo para transporte de elevado volume |
| Melhor opção de transporte |
| Caminhão poliguindaste | Caminhão carroceria com laterais altas |
A Figura 147 mostra as instalações de um Ponto de Entrega Voluntária ou Ecoponto, que podem servir de modelo para o Município de Iúna.
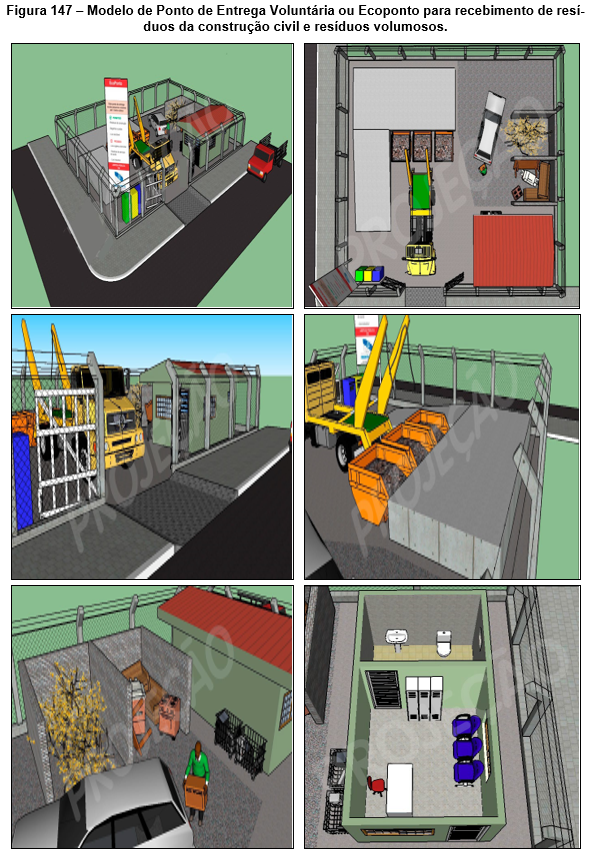
Fonte: Imagem de divulgação. Adaptado por Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2024.
Os resíduos recebidos nos PEPV serão armazenados nas estruturas disponibilizadas até o seu encaminhamento para as Unidades de Recebimento de Grandes Volumes (URGV), as quais consistem em áreas específicas para os processos de triagem, transbordo, reciclagem e destinação de grandes volumes de resíduos da construção.
São definidas como URGV de resíduos da construção civil as Áreas de Transbordo e Triagem (ATT); as Unidades de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil; os Aterros de Resíduos Classe A (Aterros de Inertes); e as Áreas mistas com a composição/conjugação das três unidades anteriores. A seguir tem-se um descritivo destas unidades.
Aterros de Resíduos Classe A
Os aterros de resíduos da construção civil consistem em unidades para disposição de resíduos da construção civil Classe A. Tem-se como objetivo o armazenamento dos materiais já segregados para uso futuro.
Nestas unidades são empregadas técnicas de reservação que preservam as características dos materiais depositados, as condições ambientais, de saúde pública e não comprometem a futura utilização da área para outras atividades.
Os aterros de resíduos da construção civil são projetados para receber especificamente resíduos Classe A, previamente segregados. As especificações quanto à segregação dos resíduos Classe A para reservação discorrem sobre a segregação da seguinte forma: solos, resíduos de concreto e alvenaria, resíduos de pavimentos viários asfálticos e outros resíduos inertes, podendo ainda ocorrer outras formas mais específicas de segregação. A disposição dos resíduos é realizada por camadas sobrepostas.
Os equipamentos necessários são essencialmente maquinário de transporte, como retroescavadeiras e carregadeiras. Sistemas de monitoramento ambiental são obrigatórios. As orientações técnicas específicas para o projeto, implantação e operação destas unidades são apresentadas na NBR 15.114/2004 da ABNT.
Como locais para implantar as unidades, o Município poderá utilizar de áreas degradadas, áreas de antigos lixões e áreas com necessidade de regularização topográfica, ou então entrar em consórcio intermunicipal para esta finalidade.
Áreas Mistas de Recepção de Grandes Volumes
As áreas mistas de recepção de grandes volumes consistem em unidades que conjugam duas ou mais atividades do manejo de grandes volumes de resíduos de construção civil.
A associação das URGV é indicada por proporcionar o compartilhamento de áreas, equipamentos e estruturas na atividade de manejo dos resíduos, reduzindo os custos de implantação e operação.
Estas unidades descritas podem ser disponibilizadas pelo poder público, pela iniciativa privada, por parcerias público-privadas ou por outros modelos legalmente instituídos. O processo de implantação das unidades exige Estudos Viabilidade Técnico, Econômico e Ambiental (EVTEA).
A disponibilização de um arranjo destas unidades é fundamental para possibilitar o adequado gerenciamento dos resíduos de construção civil. Assim, para os grandes geradores de RCC este prognóstico apresenta como estratégia que os volumes gerados e segregados devem ser destinados às Unidades de Recebimento de Grandes Volumes (URGV).
O transporte dos resíduos deve ser realizado mediante contratação de empresas cadastradas e autorizadas, com o fornecimento de documento comprovatório de coleta e destinação – Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR).
Os geradores de resíduos da construção civil poderão substituir, a qualquer tempo, os agentes responsáveis pelos serviços de transporte, triagem e destinação de resíduos, desde que estas unidades ou serviços estejam devidamente licenciadas. Os resíduos Classe A, devidamente segregados, podem ser diretamente reutilizados pelos geradores, desde que a área de destino tenha autorização ou licença ambiental para esta finalidade, e que os movimentos estejam previstos no PGRCC do empreendimento.
Os transportes realizados no processo de reutilização devem igualmente gerar MTR. A recepção dos resíduos nas URGV é realizada mediante pagamento com valor regulado pelo mercado.
Na operação, o processo recepção de resíduos nestas unidades deve ser precedido da análise da MTR disponibilizado pelo transportador, efetuando a conferência da carga com o descrito nas guias de controle.
A comprovação da recepção dos resíduos pelos receptores é efetuada com o preenchimento dos campos de sua responsabilidade e a assinatura das guias. Além do MTR, outras formas de controle dos procedimentos internos de operação devem ser adotadas nas URGV.
Nas URGV não deve ser permitido o recebimento de cargas de transportadores não regularizados. Os receptores deverão disponibilizar e enviar para os órgãos municipais competentes um relatório anual da atividade, contendo a discriminação da quantidade e tipologia e origem dos resíduos recepcionados.
As informações devem ser apresentadas em dados mensais. Os Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) são as comprovações das informações apresentadas nos relatórios. As guias não necessariamente devam ser anexadas aos relatórios, mas devem estar organizadas e estar disponíveis, caso o Poder Público julgue necessária a conferência.
A disponibilização deste relatório é obrigatória e pode ser alvo de fiscalização por parte do Poder Público. As URGV devem estar licenciadas para as diferentes atividades exercidas, podendo ser licenciadas em nível municipal e estadual, de acordo com o porte e potencial poluidor do empreendimento.
s) Resíduos Volumosos
De maneira geral, o serviço de coleta e transporte dos resíduos volumosos inclui o recolhimento de móveis, eletrodomésticos, sofás, entre outros resíduos de grande porte gerados pela população local.
Pode haver a disponibilidade, pela administração municipal, de pontos de entrega móveis dispersos em locais estratégicos da cidade, de modo que os materiais volumosos sejam coletados, posteriormente, por veículos específicos (geralmente caminhões tipo basculante e/ou tipo baú).
Quanto à operacionalização do serviço, a prefeitura pode realizar a divulgação das datas e os respectivos horários para ocorrerem às coletas nos diferentes bairros/localidades do município.
Ademais, além da coleta por caminhão, a Prefeitura pode oferecer pontos de entrega estruturados (fixos ao longo do ano) pela própria municipalidade ou por em- presa que preste o serviço de limpeza urbana no Município.
t) Softwares de gestão de serviços de manejo de resíduos sólidos e limpeza pública
Existem várias opções de softwares que podem ser utilizados para otimizar a gestão da limpeza pública, proporcionando automação, eficiência e coleta de dados valiosos. Algumas das categorias de softwares que podem ser consideradas incluem:
·Sistemas de Informação Geográfica (SIG/GIS): ferramentas como ArcGIS, QGIS e Google Earth Pro podem ser empregadas para mapeamento e visualização de dados georreferenciados. Isso facilita o planejamento de rotas eficientes para ser- viços de limpeza urbana;
·Sistemas de Gerenciamento de Frota: softwares como Geotab, Samsara e Omnitracs ajudam na gestão e monitoramento de frotas, permitindo o rastreamento em tempo real, manutenção preditiva e otimização de rotas;
·Softwares de Otimização de Rotas: ferramentas como Route4Me, OptimoRoute e Badger Maps são projetadas especificamente para otimização de rotas, auxiliando na definição eficiente de trajetos para a coleta de resíduos;
·Plataformas de Coleta de Dados Móveis: aplicativos personalizados podem ser desenvolvidos ou utilizados para dispositivos móveis, facilitando o registro de dados em campo, incluindo informações sobre a coleta, status dos pontos de coleta e outras métricas relevantes;
·Sistemas de Gerenciamento de Ativos: ferramentas como IBM Maximo, Infor EAM e Fiix são úteis para gerenciar ativos, incluindo veículos, equipamentos de limpeza e contêineres de resíduos;
·Plataformas de Análise de Dados: ferramentas analíticas, como Tableau, Power BI e Google Data Studio, podem ser utilizadas para analisar dados coletados, identificar padrões, e gerar relatórios para suportar decisões estratégicas.
A escolha do software dependerá das necessidades específicas do município, do tamanho da frota, do volume de resíduos, e dos objetivos de gestão. É recomendável realizar uma análise detalhada das funcionalidades oferecidas por cada ferramenta e avaliar como se alinham com os requisitos e objetivos da gestão de limpeza pública do município.
Os preços dos softwares podem variar significativamente com base nas funcionalidades oferecidas, na escala de uso, nas necessidades específicas da organização e na complexidade das soluções. Aqui estão algumas considerações gerais sobre os custos médios associados a diferentes tipos de softwares utilizados na gestão de resíduos e limpeza pública:
·Sistemas de Informação Geográfica (SIG/GIS): o preço de ferramentas como ArcGIS pode variar consideravelmente. Planos e licenças podem ser adaptados às necessidades específicas da organização, com custos que variam desde algumas centenas até milhares de dólares anuais, dependendo do nível de funcionalidade e do número de usuários;
·Sistemas de Gerenciamento de Frota: o custo de sistemas como Geotab e Samsara geralmente envolve um modelo de assinatura mensal ou anual por veículo rastreado. Os preços podem variar, mas uma estimativa média pode variar de alguns dólares por veículo por mês a valores mais substanciais, dependendo das funcionali- dades incluídas;
·Softwares de Otimização de Rotas: ferramentas como Route4Me e Optimo- Route muitas vezes oferecem modelos de preços baseados em assinatura mensal ou anual. Os custos podem variar de algumas dezenas a centenas de dólares por mês, dependendo do número de usuários e do volume de otimizações de rota necessárias;
·Plataformas de Coleta de Dados Móveis: o custo de desenvolver aplicativos personalizados pode variar significativamente, dependendo da complexidade e das funcionalidades necessárias. Se utilizar plataformas existentes, os custos podem in- cluir taxas de assinatura mensal ou anual por usuário;
·Sistemas de Gerenciamento de Ativos: ferramentas como IBM Maximo geralmente envolvem um modelo de preços personalizado com base nas necessidades específicas da organização. Os custos podem variar consideravelmente e geralmente são baseados em assinaturas ou licenças de usuário;
·Plataformas de Análise de Dados: ferramentas analíticas como Tableau e Power BI oferecem modelos de preços que incluem desde opções gratuitas até planos corporativos. Planos pagos podem variar de algumas dezenas a centenas de dólares por usuário por mês.
É importante ressaltar que esses são apenas indicativos gerais e os custos reais podem variar dependendo das negociações com fornecedores, do escopo específico de implementação e das características únicas de cada solução. Recomenda-se entrar em contato diretamente com os fornecedores para obter cotações precisas com base nas necessidades específicas da organização.
A implementação de softwares na gestão de limpeza urbana pode otimizar significativamente os processos operacionais. No entanto, os custos associados a essas soluções variam amplamente, desde licenças acessíveis até assinaturas mais substanciais, dependendo das funcionalidades e da escala de utilização. A escolha do software deve ser guiada pelas necessidades específicas do município, considerando a eficiência na coleta de dados, monitoramento de frota e roteamento eficiente para melhorar a cobertura da limpeza urbana.
Além disso, a implementação bem-sucedida dessas ferramentas ressalta a importância do treinamento adequado para os colaboradores envolvidos na gestão de resíduos e limpeza pública. Capacitar as equipes para utilizar efetivamente os softwares é crucial para garantir a maximização dos benefícios, desde a otimização de rotas até o monitoramento eficaz da frota. O investimento em treinamento não apenas aprimora a eficiência operacional, mas também contribui para uma transição mais suave para novas tecnologias, garantindo que os colaboradores desempenhem um papel ativo e informado na gestão urbana sustentável.
9.2.3 Contratos e controle dos serviços
Caso o Município adote a contratação de empresas terceirizadas para o manejo dos resíduos sólidos, algumas exigências deverão ser consideradas, como:
·Cumprir a Lei nº 14.133/2021 (BRASIL, 2021) – Lei de Licitações, e suas alte- rações;
·Contratos com os critérios esmiuçados dos serviços, solicitando informações de pesagem e valores cobrados para cada serviço prestado. Faz-se importante dividir os diferentes serviços da limpeza urbana, discriminando os valores de coleta, transporte, transbordo, e disposição final nos custos;
·Inserir nos contratos a responsabilidade do devido preenchimento do sistema de informações pelo prestador, podendo assim gerar indicadores de eficiência dos serviços, propiciando uma avaliação constante da qualidade do serviço prestado;
·Na gestão dos resíduos da construção civil, exigir, por meio legal, que o gerador desse tipo de resíduo apresente o certificado de destinação final dos resíduos e inventário semestral para o ente fiscalizador;
·Licitações com preço máximo, ou seja, teto máximo estabelecido para o serviço.
Esta determinação é referente ao Artigo 20 da Lei nº 12.305/2010, de acordo com o respectivo Artigo, estão sujeitos à elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos:
I - Geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas “e”, “f”, “g” e “k” do inciso I do Artigo 13º, sendo eles:
e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico;
f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;
g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme defi- nido em regulamento ou em Normas estabelecidas pelos Órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS);
k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou benefici- amento de minérios;
II - Estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:
a) gerem resíduos perigosos;
b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo Poder Público Municipal;
II - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA;
III - Os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea “j” (as instalações referidas na alínea “j” são: os resíduos de serviços de transportes, origi- nários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e pas- sagens de fronteira), do inciso I do Artigo 13 e, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e, se couber, do SNVS, as empre- sas de transporte;
IV - Os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente do SISNAMA, do SNVS ou do SUASA – Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.
A Prefeitura Municipal poderá também realizar inventários anuais sobre os mai- ores geradores de resíduos sólidos de seus respectivos municípios, a fim de conhecer melhor os tipos de resíduos gerados e as suas quantidades, para que assim se tenha uma base de dados para auxílio de entendimento em cenários futuros.
Estes inventários podem ser uma exigência da própria Prefeitura, obrigando os empreendimentos a fornecerem anualmente ou mensalmente as informações. Neste sentido, o artigo 21 da Lei nº 12.305/2010 determina o conteúdo mínimo para a ela- boração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, sendo eles:
I - Descrição do empreendimento ou atividade;
II - Diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados;
III - Observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA e, se houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos:
a)Explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos;
b)Definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento de resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador;
IV - Identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores;
V - Ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto ou acidentes;
VI - Metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos e, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, à reutilização e reciclagem;
VII - Se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, na forma do Artigo 31;
VIII - Medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos;
IX - Periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da respectiva licença de operação a cargo dos órgãos do SISNAMA.
As informações contidas no Plano Municipal de Resíduos Sólidos poderão ser complementadas caso a Prefeitura Municipal, por meio de sua Secretaria responsável pela área ambiental, ache necessário, podendo exigir também que os PGRS sejam um critério utilizado nos processos de Licenciamento Ambiental. Com relatórios de acompanhamentos e monitoramentos da implementação das ações e metas pré-estabelecidas.
No caso de atividades que já se encontram em funcionamento, deverão apresentar o Plano ao órgão ambiental municipal no momento da renovação do Alvará de Funcionamento, da Licença Ambiental de Operação ou do Atestado de Funcionamento.
Além disso, os representantes técnicos do Município, responsáveis pela fiscalização da elaboração e aplicação do Plano, deverão também orientar sobre os procedimentos necessários para a elaboração e implantação do mesmo e da aplicação das penalidades incluídas na Lei nº 12.305/2010 – PNRS.
Caso o Município opte por normatizar e fiscalizar a gestão e o manejo dos re- síduos da construção civil e resíduos volumosos, ou seja, promover a entrada de em- presas do tipo disk-entulho, deixando de atuar pessoalmente na recolha e destinação final destes resíduos, a Prefeitura Municipal deverá exigir toda a parte documental relacionada ao transporte e destinação final ambientalmente adequada.
Além disso, o poder público também terá a responsabilidade da realização de vistorias periódicas, principalmente no local onde estes resíduos são dispostos. Além de exigir também o Controle de Transporte de Resíduos – CTR, determinado pela Resolução CONAMA nº 307/2002.
A Figura 148 apresenta um modelo de CTR que contém as informações necessárias de como deve ser realizado tal controle.
Figura 148 – Modelo de Controle de Transporte de Resíduos – CTR.
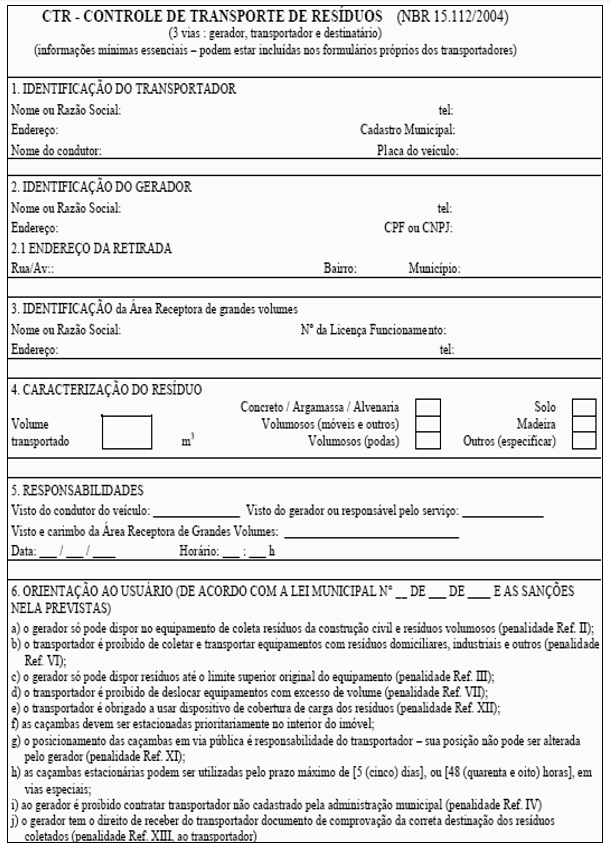 Fonte: Conselho Nacional do Meio Ambiente – Resolução CONAMA nº 307/2002. Adaptado por Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2024.
Fonte: Conselho Nacional do Meio Ambiente – Resolução CONAMA nº 307/2002. Adaptado por Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2024.
É necessário que este controle seja eficaz mostrando os fluxos estabelecidos no processo de gestão, para a constituição da base concreta sobre a qual o manejo do RCC e resíduos volumosos se assentarão.
Sendo assim, o Quadro 38 apresenta várias situações, públicas ou privadas do novo sistema que será implementado no município com sugestões de controle e relatórios que podem ser estabelecidos para o núcleo gerencial.
Quadro 38 – Tipos de controles necessários sobre os fluxos de resíduos da construção civil e resíduos volumosos.
| Controle | Conteúdo Mínimo | Objetivo |
| Planilha de Controle Diário de En- trada de Resíduos nos Pontos de Entrega Voluntária ou Ecopontos ou Áreas de Transbordo (ATT), Públicas ou Privadas. | · Data;· Hora;· Tipo e placa do veículo transportador;· Responsável pelo transporte;· Tipo de resíduo;· Endereço de origem;· Volume - m³;Responsável pelo registro | Controlar as quantidades:· de resíduos;· de usuários.Monitorar:· horários de maior uso;· origem;· tipo de veículo;tipos de resíduos. |
| Planilha de Controle Diário de Saída de Resíduos nos Pontos de Entrega Voluntária ou Ecopontos ou Áreas de Transbordo (ATT), Públicas ou Privadas. | · Data;· Hora;· Tipo e placa do veículo transportador;· Responsável pelo transporte;· Tipo de resíduo;· Endereço de origem;· Volume - m³;Responsável pelo registro. | Controlar as quantidades:· de resíduos por tipo.Monitorar:a demanda por remoção e o destino de cada tipo de resíduo. |
| Planilha de Controle Diário das Correções dos Locais com Deposições Irregulares. | · Data de início de limpeza do local;· Endereço preciso do local;· Tipos de resíduos despejados irregularmente;· Volume m³;· Local de destinação dos resíduos recolhidos na área de despejo irregular;· Instalação de sinalização de advertência;Monitoramento local | Limpeza e monitoramento do local |
| Relatório de Controle Mensal das Operações em Áreas de Manejo Privadas. | · Identificação completa do operador e a sua licença de operação;· Consolidação dos volumes recebidos por tipo de resíduo;· Listagem dos usuários e respectivos quantitativos no período;· Consolidação dos volumes expurgados por tipo de resíduo e identificação do destino;Consolidação dos volumes de produtos gerados, por tipo. | Controlar quantidades: · de resíduos recebidos;· resíduos expurgados;· produtos gerados.Monitorar:· as declarações dos transportadores;o destino dos tipos de resíduos. |
| Relatório de Controle Mensal das Operações dos Transportadores Autorizados. | · Identificação completa do transportador e a sua autorização de operação; · Consolidação dos volumes transportados por tipo de resíduo;· Quantitativo de geradores atendidos no período;· Identificação do destino por tipo de resíduo e a sua licença de operação;Comprovantes de entrega. | Controlar quantidades: · de resíduos transportados;· geradores atendidos.Monitorar:· declarações dos receptores;destino dos tipos de resíduos |
| Plano de Gerenciamento de Resí- duos da Construção Civil (PGRCC) de Obras que Necessitam de Licenciamento. | · Conteúdo exigido na PNRS e Resolução CONAMA nº 307/2002; · Consolidação dos volumes gerados por tipo de resíduo;· Identificação dos transportadores e a sua autorização de operação;· Identificação do destino por tipo de resíduo e a sua licença de operação;Comprovantes de entrega dos resíduos. | Controlar quantidades: · de resíduos gerados.Controlar uso de:· transportadores autorizados;· destinos licenciados.Monitorar:· declarações dos transportadores;· declarações dos receptores;destino dos tipos de resíduos. |
No caso dos Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, determinado pela Resolução CONAMA nº 307/2002, para obras públicas ou privadas e que necessitam de algum tipo de licenciamento, este, é peça fundamental para o incentivo de procedimentos disciplinadores na cadeia de produção, onde se inserem os resíduos da construção civil.
Exigido também pela Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, Lei Federal nº 12.305/2010, o PGRCC determina que todos os geradores e empresas da área da construção civil, sejam responsáveis por todo o manejo que envolve estes tipos de resíduos, iniciando-se na geração, acondicionamento, transporte e destinação final ambientalmente adequada.
Sendo assim, na Figura 149 é apresentado um modelo de PGRCC que o Município poderá exigir dos grandes geradores, sendo este documento, um documento essencial para o monitoramento do fluxo dos resíduos gerados em uma determinada obra, assim como seus locais destinação.
Vale lembrar que para obras que não necessitem de algum tipo de licenciamento para a sua execução, geralmente as de pequeno porte, não necessitarão da elaboração de um PGRCC.
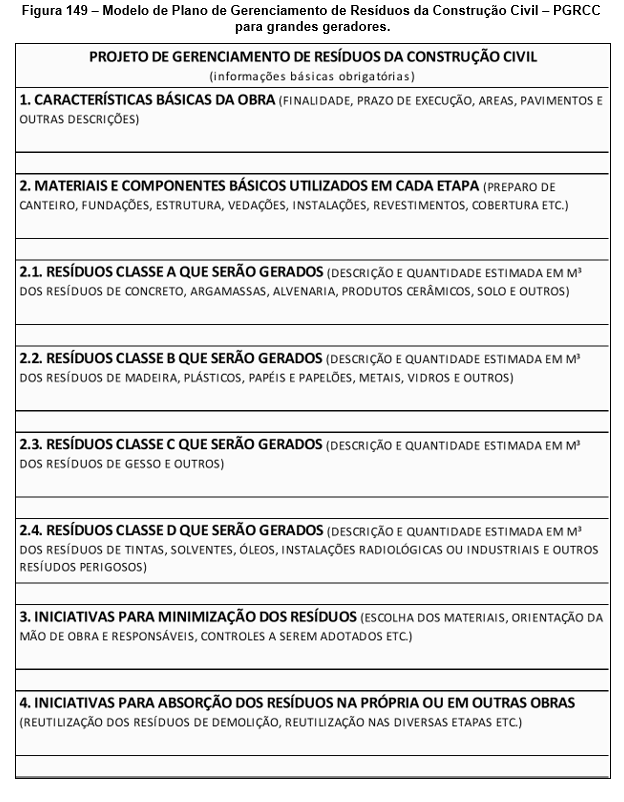
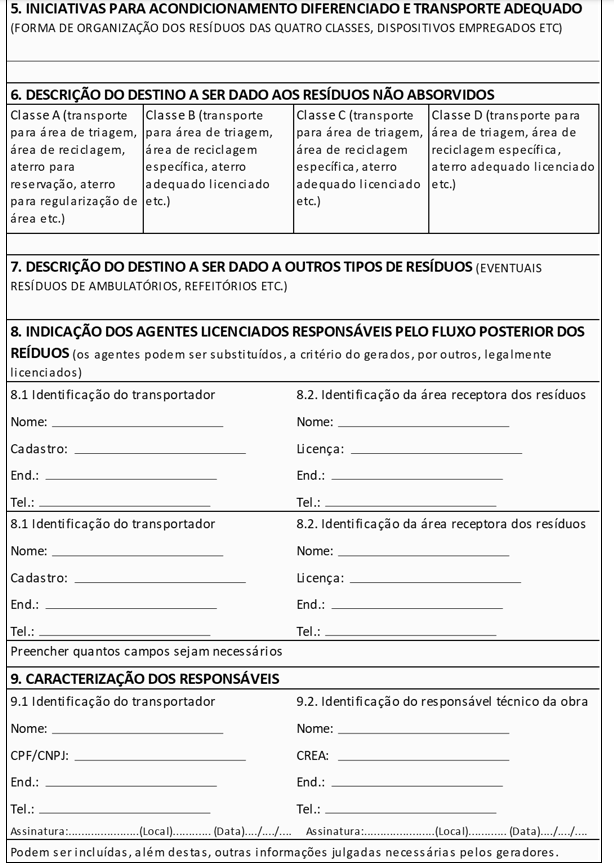
Fonte: Conselho Nacional do Meio Ambiente – Resolução CONAMA nº 307/2002. Adaptado por Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2024.
Além disso, a Prefeitura Municipal deverá também definir procedimentos adicionais ao conteúdo mínimo existente dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. Pois como comentado anteriormente, a PNRS determina que os grandes geradores de resíduo de construção civil estão sujeitos à elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC).
Portanto, abaixo segue o conteúdo mínimo contido no Art. nº 21 da Lei Federal nº 12.305/2010:
I - Descrição do empreendimento ou atividade;
II - Diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados;
III - Definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento de resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador, bem como explicitação dos responsáveis por cada etapa;
IV - Identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores;
V - Ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto ou acidentes;
VI - Metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos;
VII - se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, na forma do art. 31;
VIII - Medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos;
IX - Periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da respectiva licença de operação a cargo dos órgãos ambientais.
9.2.4 Destinação final dos resíduos
Antes da exposição das alternativas de destinação final existentes, faz-se necessária a conceituação e diferenciação entre os termos “destinação final ambiental- mente adequada” e “disposição final ambientalmente adequada”. A primeira refere- se à destinação de resíduos e inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, do Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária, SNVS, e do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, SUASA. Já a segunda, refere-se à distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.
Insta salientar a distinção entre resíduo e rejeito: o primeiro é definido como o material, substância, objeto ou bem descartado, resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Já os rejeitos são resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) estabelece que os resíduos sólidos devem passar por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis antes de sua disposição final. Dentre os tratamentos passíveis de aplicação no Brasil, destacam-se a compostagem, a recuperação energética, a reciclagem e a disposição em aterros sanitários (CEMPRE, 2018).
A criação de consórcios intermunicipais para a destinação final dos resíduos sólidos urbanos surge como uma alternativa estratégica e eficiente em contraposição à implementação de aterros sanitários individuais em cada município. Além de reduzir os custos de operação, manutenção e administração, a iniciativa promove a melhoria da qualidade operacional dos aterros, evitando sua transformação em lixões e o desperdício do investimento público.
A concentração da destinação em um local centralizado minimiza o número de áreas utilizadas como aterros sanitários, reduzindo os riscos de contaminação ambiental. A eficiência na operação é otimizada, proporcionando ganhos de escala, melhor utilização de máquinas e equipamentos, e maior disponibilidade de recursos para medidas de proteção ambiental. Além disso, a abordagem coletiva dos consórcios permite uma representatividade mais expressiva na solução de problemas locais, fomen- tando uma visão compartilhada na busca por práticas sustentáveis e eficazes.
No contexto de Iúna, o município é integrante do Consórcio Público para Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Sul Serrana do Estado do Espírito Santo (CONSUL). Atualmente, os resíduos sólidos coletados no município são encaminhados para um ponto de transbordo, de onde são transportados por veículos especiais do consórcio até a Central de Tratamento de Resíduos Cachoeiro de Itapemirim Ltda (CTRCI), localizada em Cachoeiro do Itapemirim, ES. Essa parceria reforça a eficiência e sustentabilidade no gerenciamento de resíduos sólidos, contribuindo para a mitigação dos impactos ambientais e a promoção de uma gestão integrada.
a) Reciclagem
A reciclagem é o processo de transformação de resíduos sólidos que envolve a alteração de propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à trans- formação em insumos ou novos produtos (BRASIL, 2010a). Em outras palavras, consiste no beneficiamento e reaproveitamento de materiais. Deve-se considerar que a reciclagem permite a substituição de insumos para cuja produção há, normalmente, grande consumo de energia. Por aliviar pressões de demanda de matérias-primas e de energia, a reciclagem se constitui, em princípio, em uma forma ambientalmente eficiente de aproveitamento energético dos RSU (EPE, 2014).
O Quadro 39 mostra as vantagens e desvantagens do processo de reciclagem dos RSU.
Quadro 39 – Vantagens e desvantagens da reciclagem.
| Vantagens | Desvantagens |
| Diminuição de materiais a serem coletados e dispostos, aumentando a vida útil dos aterros sanitários. | Custo de uma coleta diferenciada. |
| Economia no consumo de energia. | Depende da participação e conscientização da população. |
| Geração de emprego e renda. | Alteração do processo tecnológico para o beneficiamento, quando da reutilização de materiais no processo industrial. |
| Preservação de recursos naturais e insumos. |
A atividade de reciclagem envolve diversas etapas e processos e não repre- senta uma atividade de baixo custo. Por isso, é importante que, junto com sua implementação, seja incentivada a formação de um mercado de material reciclado, de forma a tornar o processo mais eficiente e rentável (SOUSA et al., 2012). A transformação de resíduos em novos insumos e matéria prima é uma atividade econômica integrante de um sistema industrializado, portanto, realizada por empresas privadas que devem contar com infraestrutura física, técnica e econômico-fiscal para poderem contribuir efetivamente com o reaproveitamento dos materiais e conservação dos recursos naturais.
A segregação de materiais do lixo tem como objetivo principal a reciclagem de seus componentes. Reciclagem é o resultado de uma série de atividades, pela qual materiais que se tornariam lixo, ou estão no lixo, são desviados, coletados, separados e processados para serem usados como matéria-prima, na manufatura de novos produtos.
Deve ficar claro que a possibilidade de reciclar materiais só existe se houver demanda por produtos gerados pelo processamento destes. Assim, antes de um município decidir se vai estimular ou implantar a segregação de materiais, visando a sua reciclagem, é importante verificar se há esquemas pelos quais possa haver escoamento desses materiais (venda ou doação).
Quando uma Prefeitura opta por um programa de reciclagem, tem de tomar uma decisão estratégica em relação ao processo de separação dos materiais a serem reciclados. Há, basicamente, dois caminhos a seguir:
· coleta seletiva – é a separação dos materiais na fonte pelo gerador (população), com posterior coleta dos materiais separados;
· usinas de triagem – é a separação dos materiais em usinas de triagem, após a coleta normal e transporte de lixo.
No caso de materiais recicláveis, é importante lembrar que existe uma sazona- lidade de preços para a venda, e que esta não é igual para todos os tipos de material. Por isso, indica-se o planejamento dos estoques de materiais e a existência de um local para seu armazenamento, uma vez que a flutuação no mercado comprador prejudica o fluxo de saída dos mesmos.
b) Compostagem
A gestão dos resíduos orgânicos é uma parte crucial da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305/10, e envolve o processo de compostagem. A compostagem é uma técnica de oxidação biológica em que microrganismos decompõem os compostos dos materiais orgânicos, resultando na liberação de dióxido de carbono e vapor de água.
Os resíduos orgânicos, que são biodegradáveis, podem ser transformados em composto orgânico, um fertilizante e condicionador do solo, desde que atendam às leis, normas e instruções normativas pertinentes. Regulamentos como o Decreto nº 4.954/04 e a Instrução Normativa nº 25/09 estabelecem diretrizes para a fiscalização da produção e comércio de fertilizantes orgânicos.
Os resíduos orgânicos compõem uma parcela significativa dos resíduos sólidos domiciliares no Brasil e, portanto, representam um desafio na gestão desses resíduos. A PNRS estabelece diretrizes específicas para a coleta, tratamento e destinação final dos resíduos orgânicos, enfatizando a importância de separá-los dos rejeitos na fonte geradora.
Uma usina de triagem e compostagem acarreta uma diminuição da ordem de 70% da tonelagem de lixo, com a consequente redução de custos e aumento da vida útil da área do aterro (CEMPRE, 2018).
A implantação dessas diretrizes deve ser realizada de forma estratégica e gra- dual, com campanhas educativas para sensibilizar a população. A coleta de resíduos orgânicos pode começar com os grandes geradores e ser ampliada para abranger bairros, distritos e centros urbanos, buscando a universalização desse serviço. Em áreas rurais, onde o reaproveitamento de resíduos orgânicos é comum, as estratégias de gestão podem variar, incluindo programas de conscientização e a construção de Usina de Triagem e Compostagem (UTC).
Uma maneira de facilitar a gestão de resíduos orgânicos é promover a sensibilização e o armazenamento adequado na origem, utilizando recipientes como bombo- nas para evitar insetos e odores desagradáveis. A Figura 150 ilustra os tipos de bombonas adequadas para o acondicionamento de resíduos orgânicos.

Para a população que reside na área rural, o cenário apresentado não é um problema sistemático, pois, como mencionado anteriormente, a cultura rural tradicionalmente valoriza o reaproveitamento dos resíduos orgânicos. Entretanto, existe a necessidade de avaliar a viabilidade da coleta de resíduos orgânicos, especialmente na área urbana.
A implementação de programas em colaboração com escolas e outros setores para ensinar técnicas de compostagem à população urbana torna-se uma ferramenta essencial na gestão desses resíduos. Esta prática é fundamental, uma vez que o município não possui um programa consolidado específico para o tratamento dos resíduos orgânicos. As ações voltadas para o tratamento desses resíduos exigem supervisão técnica, processos bem planejados, tratamento adequado e o uso ambientalmente responsável dos produtos resultantes.
O projeto para a gestão adequada dos resíduos orgânicos envolve a criação da UTC, que recebe e trata adequadamente os resíduos úmidos domiciliares, comerciais e de prestadores de serviços, bem como os resíduos provenientes da limpeza urbana, como podas de galhos e grama, transformando-os em compostos orgânicos, que podem ser utilizados como adubos. A Figura 151 ilustra processos de compostagem realizados em centros de tratamento de resíduos orgânicos.

É importante ressaltar que a implantação do Centro de Tratamento de Resíduos Orgânicos requer a elaboração de um projeto de engenharia que inclui procedimentos como a compactação do solo com uma camada de trinta centímetros de argila e a instalação de drenos para captação da água da chuva nas proximidades.
No que diz respeito ao processo de compostagem, esse método envolve a degradação controlada de resíduos orgânicos em condições aeróbias, ou seja, na presença de oxigênio. Nesse processo, são reproduzidas condições ideais, como níveis adequados de umidade, oxigênio e nutrientes, especialmente carbono e nitrogênio, para promover e acelerar a degradação dos resíduos de forma segura, evitando a atração de vetores de doenças e eliminando patógenos.
A criação dessas condições ideais permite que uma ampla variedade de macro e micro-organismos, como bactérias e fungos, atuem sequencial ou simultaneamente na rápida decomposição dos resíduos. Isso resulta em um material homogêneo em termos de cor e textura, com características semelhantes às do solo e do húmus, conhecido como composto orgânico. O processo de compostagem pode ser realizado de duas maneiras:
· Método natural: neste método, a fração orgânica do lixo é levada para um pátio e disposta em pilhas de formato variável. A aeração necessária para o desenvolvimento do processo de decomposição biológica é alcançada por meio de reviramentos periódicos com o auxílio de equipamentos apropriados. O tempo necessário para a conclusão do processo varia de três a quatro meses. Para esse método, é comum o uso de leiras, como ilustrado na Figura 152.

· Método acelerado: neste método a aeração é induzida através de tubulações perfuradas, sobre as quais as pilhas de resíduos são dispostas, ou em reatores, onde os resíduos são colocados, avançando no sentido contrário ao da corrente de ar. Mais tarde, esses materiais são transferidos para pilhas, seguindo o procedimento do método natural. O tempo de permanência no reator é de aproximadamente quatro dias, e o tempo total necessário para concluir a compostagem acelerada varia de dois a três meses. A Figura 153 mostra um exemplo de um reator de compostagem acelerada:

O Quadro 40 apresenta as vantagens e desvantagens do processo de compostagem.
Quadro 40 – Vantagens e desvantagens do processo de compostagem.
| Vantagens | Desvantagens |
| Baixa complexidade na obtenção da licença ambiental. | Necessidade de investimentos em mecanismos de mitigação dos odores e efluentes gerados no processo. |
| Facilidade de monitoramento. | |
| Diminuição da carga orgânica do rejeito a ser enviado ao aterro, minimizando os volumes a serem dispostos. | Requer pré-seleção da matéria orgânica na fonte. |
| Tecnologia conhecida e de fácil implantação. | Necessidade de desenvolvimento de mercado consumidor do composto gerado no processo. |
| Viabilidade comercial para venda do composto gerado. |
A instalação de usinas de compostagem requer gestão técnica robusta, com monitoramento constante. É indicado instalar unidades de maior porte para atender a um conjunto de municípios, obtendo-se, desta forma, ganhos de escala.
Ressalta-se que, para o sucesso da compostagem, devam ser desenvolvidas, juntamente, ações para a comercialização e a utilização do composto resultante do processo. Este composto pode ser utilizado em processos de recomposição de áreas erodidas, na silvicultura, na jardinagem e até mesmo na produção de alimentos, como já acontece em muitos países. Na Europa, por exemplo, o composto é classificado de acordo com sua qualidade, podendo ou não ser considerado adequado para uso na agricultura.
Municípios de pequeno porte devem considerar a implantação de unidades menores de compostagem, com sistema de reviramento manual, implicando baixos custos de implantação e operação, conferindo viabilidade ao sistema. Em unidades com capacidade de processamento superiores a 0,5 ton./dia, deve ser considerado o uso de equipamentos mais modernos e eficientes para processamento de grandes volumes de resíduos (BNDES, 2014). Essa metodologia abordada é um exemplo que pode ser utilizado como base de referência para o Município, levando em consideração seus aspectos intrínsecos.
A compostagem residencial ou individual é uma prática amplamente adotada para o gerenciamento de resíduos orgânicos, visando a produção de composto orgânico. Neste tópico, serão apresentados alguns métodos de compostagem residencial/individual, como a compostagem em pilhas, compostagem em recipientes fechados (composteiras), vermicompostagem, Método Lages de Compostagem, Sistema Super R e leiras de compostagem.
A compostagem em pilhas é um método amplamente utilizado e acessível, adequado para espaços amplos, como jardins ou quintais. Nesse método, os resíduos orgânicos são dispostos em pilhas no solo ou em estruturas delimitadas, como caixas de madeira. As pilhas podem variar em tamanho, dependendo da quantidade de resíduos disponíveis. Recomenda-se uma altura de cerca de 1,2 a 1,5 metros para permitir a decomposição.
As pilhas são formadas em camadas alternadas de materiais ricos em carbono (folhas secas, serragem, palha) e materiais ricos em nitrogênio (restos de alimentos, aparas de grama) e a adequada aeração é garantida pela revirada periódica das pilhas para promover a decomposição eficiente dos materiais. A compostagem em pilhas requer atenção à umidade e ao potencial poluidor do chorume, que pode ser controlado com uma camada de drenagem. A Figura 154 apresenta o desenho esquemático da pilha de compostagem.
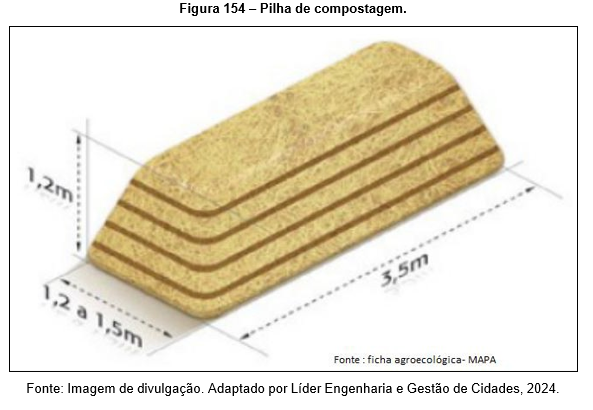
As composteiras são recipientes fechados, como caixas plásticas, barris ou sistemas modulares, projetados especificamente para a compostagem residencial/individual. Elas são ideais para espaços limitados, como apartamentos, varandas ou cozinhas. Recomenda-se uma capacidade de pelo menos 100 litros para permitir a compostagem eficiente. Os resíduos orgânicos são adicionados à composteira, na qual ocorre a decomposição controlada. As composteiras evitam odores desagradáveis e a entrada de pragas. É fundamental manter uma proporção adequada de materiais ricos em carbono e nitrogênio, além de controlar a umidade e aeração. O manejo adequado do chorume, líquido resultante da decomposição, é importante para evitar problemas ambientais e pode ser utilizado como fertilizante diluído ou direcionado para o sistema de esgoto. A Figura 155 mostra um exemplo de composteira fechada.

Quando se utiliza minhocas para acelerar a decomposição dos resíduos orgânicos, como a espécie Eisenia fetida, intitula-se o processo de vermicompostagem (Figura 156). Esta é uma opção que pode ser utilizada em espaços menores, como apartamentos. Os resíduos orgânicos são colocados em uma vermicomposteira projetadas para acomodar minhocas e permitir a vermicompostagem, como caixas plásticas com furos de ventilação ou sistemas modulares, proporcionando um ambiente propício para o desenvolvimento das minhocas. Recomenda-se uma vermicomposteira com capacidade de cerca de 50 a 100 litros para permitir que as minhocas se movimentem livremente e decomponham os resíduos. A vermicompostagem requer umidade adequada, controle de temperatura e alimentação equilibrada das minhocas. O chorume deve ser gerenciado corretamente para evitar odores e vazamentos, podendo ser utilizado como fertilizante diluído.
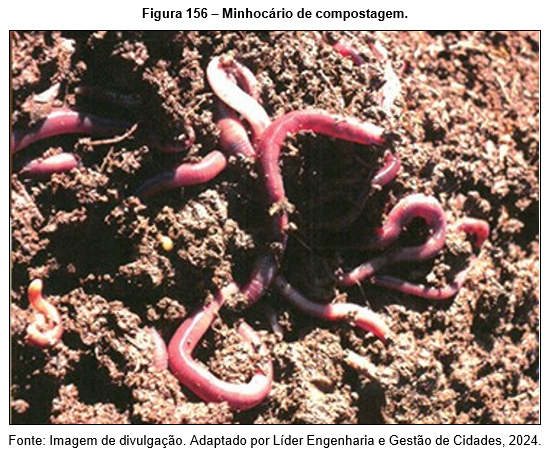
Já o Método Lages de Compostagem (Figura 157) é uma técnica desenvolvida pelo professor Germano Güttler, na qual não é necessário um recipiente específico, sendo os resíduos depositados diretamente no solo em canteiros, em pilhas de, no mínimo, 20 cm de altura, sendo estes resíduos cobertos por serragem ou folhas para evitar odores e insetos. Para permitir a oxigenação do sistema são feitos furos diariamente na pilha. O composto pode ser utilizado após o processo de decomposição. Quando utilizado como estratégia de educação ambiental o método pode ser chamado de Mini Compostagem Ecológica (MCE).

O Sistema Super R é um método de compostagem em que o processo ocorre em recipientes fechados, com pequenos orifícios laterais para circulação de oxigênio, permitindo otimizar o tempo de decomposição dos resíduos orgânicos para produção do adubo, proporcionando controle eficiente de odores e redução no risco de infestação por pragas, além de inibir o reviramento da mistura por animais domésticos. Os resíduos orgânicos são adicionados e o processo de decomposição ocorre sequencialmente à medida que o recipiente é rotacionado.
É importante evitar a superalimentação e controlar a umidade adequada para manter a compostagem eficiente. O chorume gerado deve ser adequadamente drenado para evitar vazamentos. Esta alternativa é ideal para ser aplicada em residências e escolas, principalmente para quem está iniciando a aprendizagem sobre compostagem. A Figura 158 mostra exemplos de compostagem Super R.

As leiras de compostagem são um método de compostagem em larga escala que também pode ser adaptado para uso residencial. Nesse método, os resíduos orgânicos são dispostos em pilhas alongadas no solo, geralmente em áreas amplas, como jardins ou quintais. As dimensões podem variar dependendo da quantidade de resíduos disponíveis. As leiras de compostagem oferecem aeração natural e são compostas por camadas alternadas de resíduos orgânicos e material estruturante. É necessário revirar periodicamente as leiras para promover a mistura dos materiais e garantir uma decomposição eficiente. O controle da umidade e do chorume é fundamental para evitar odores e problemas de poluição ambiental.
Este método é utilizado em residências que produzem um volume mínimo de 20 litros de resíduos por semana e que dispõem de uma área mínima de 4m² (o ideal é que seja de 2m x 2m) como mostra a Figura 159.

Para coleta e armazenamento dos resíduos, recomenda-se ter um recipiente com tampa, de, no máximo, 3 litros, na cozinha e outro recipiente entre 20 e 25 litros, também com tampa, fora da casa ou em local de menor circulação. Assim que o recipiente pequeno se completar, depositam-se os resíduos no recipiente maior que, quando estiver completo, é encaminhado para a compostagem. Com a produção de, no mínimo, 20 litros de resíduos por semana, a alimentação das leiras deve ser realizada somente uma vez por semana.
É muito importante estar atento a todos os elementos do processo, especialmente a relação C/N e a aeração. Para isto, deve-se ter uma boa quantidade de serragem e palha disponíveis. A serragem pode ser obtida em marcenarias ou serrarias próximas (preferencialmente sem tratamento químico), e a palha do corte de gramas e podas realizadas na vizinhança.
Num espaço determinado, inicialmente é delimitada uma leira de 1m x 1m, fazendo as paredes da leira com palha. A leira pode ser alimentada até alcançar 1 metro de altura. Depois de atingir esta altura máxima, permanecerá no período de maturação do composto orgânico (cerca de 3 meses), enquanto uma nova leira deverá ser construída, com as mesmas dimensões e métodos. Assim, o sistema estará sempre com uma leira em maturação e outra sendo alimentada semanalmente.
Em todos os métodos de compostagem, é importante equilibrar a proporção de materiais ricos em carbono e nitrogênio para garantir uma decomposição eficiente. Além disso, é fundamental garantir que os resíduos estejam bem distribuídos e que haja uma boa aeração no composto. A revirada ou mistura periódica do composto pode ajudar a acelerar o processo de decomposição e melhorar a qualidade do composto final.
Todos os métodos de compostagem residencial/individual apresentados têm implicações ambientais a serem consideradas. As recomendações de dimensões e tipos de recipientes podem variar de acordo com as necessidades individuais e o es- paço disponível. É importante garantir que os recipientes escolhidos permitam a aeração, o controle de umidade e o manejo adequado do composto e do chorume. Com relação ao chorume gerado durante o processo de decomposição, pode ser um potencial poluidor se não for adequadamente gerenciado. Recomenda-se a instalação de uma camada de drenagem para coletar o chorume, evitando seu acúmulo, ou utilização como fertilizante diluído. Além disso, é importante observar o controle de odores, a prevenção de infestações por pragas e a adoção de boas práticas de manejo para cada método.
O custo de implantação e operação de usinas de compostagem com capacidade de processamento acima de 1 tonelada de resíduos por dia é mostrado na Tabela 65.
Tabela 65 – Custos de instalação e operação de usina de compostagem (R$/tonelada).
| Faixa Populacional (habitantes) | Custos de Instalação | Custos de Operação |
| De 30 a 250 mil | R$ 3,00 | R$ 90,00 |
| De 250 mil a 1 milhão | R$ 5,50 | R$ 70,00 |
| Acima de 1 milhão | R$ 3,08 | R$ 45,00 |
A compostagem coletiva ou comunitário é um método que pode ser utilizado em diversas comunidades, vilas, casas, prédios ou bairros. Deve contar com um grupo capacitado e organizado que se dedique a promover a sensibilização e mobilização da sociedade, assim como a implementação de um pátio de compostagem.
A fase de sensibilização envolve mostrar à comunidade a importância, vanta- gens e cuidados da gestão comunitária dos resíduos orgânicos. Infere-se que há maiores chances de sucesso quando os projetos de compostagem envolvem iniciativas de agricultura urbana para uso do composto gerado, possibilitando a expansão de plantios e jardins da população interessada.
Já na fase de mobilização da comunidade, deve ser formado um grupo capacitado e ativo para promoverem as ações necessárias, como: educação ambiental, sensibilização dos moradores, orientações sobre a correta segregação e manejo do pátio de compostagem.
O pátio deve ser um local exclusivo para este tipo de atividade, podendo ser instituído próximo a algum Ponto de Entrega Voluntária (PEV), caso exista. Tal logística deve ser discutida anteriormente à criação do pátio de compostagem, uma vez que haja a possibilidade da implementação de algum PEV no município (caso não exista). Este tipo de empreendimento, caso necessário, deverá ser submetido a um processo de licenciamento ambiental para aprovação e início de suas atividades.
Como recomendações do no Manual de Orientação de Compostagem Domés- tica, Comunitária e Institucional de Resíduos Orgânicos, elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente, um pátio de compostagem, geralmente deve contar com:
·Sistema de drenagem;
·Local para lavagem dos recipientes;
·Local para guardar ferramentas e insumos;
·Local de armazenamento de serragem, palha e folhas;
·Cercas vivas ou barreiras verdes no entorno (MMA, 2017).
Dessa forma, a Figura 160 ilustra um exemplo de ação comunitária de compostagem.

a) Recuperação Energética
O tratamento dos RSU por processos de recuperação energética é aceito pela legislação brasileira, sendo previsto na Lei Federal nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010), em seu art. 9º, §1º, conforme segue:
“Poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica ambiental e com a implantação de programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovados pelo órgão ambiental.” (BRASIL, 2010, p. s/n)
Os principais produtos energéticos que podem ser obtidos através do aproveitamento dos Resíduos Sólidos Urbanos, RSU, são: o biogás (gerado em aterros sani- tários ou na digestão anaeróbia); a eletricidade (gerada a partir do biogás ou do tratamento térmico); e o calor (produzido juntamente com a eletricidade, em processo de cogeração). Além da geração de energia, que pode ser comercializada, o tratamento com recuperação energética traz outra vantagem, que é a redução do volume de rejeitos a serem encaminhados para disposição final, contribuindo para a diminuição de área necessária para aterros sanitários, bem como o prolongamento de sua vida útil.
Obedecendo a ordem de prioridade da Lei Federal 12.305/2010 (BRASIL, 2010): “não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos”, a recuperação energé- tica é hoje uma realidade e uma alternativa concreta para a destinação dos resíduos sólidos urbanos em várias localidades. Entretanto, devido à necessidade de altos investimentos, muitas vezes o processo pode ser considerado de complexa viabilidade, tornando necessária a realização de um Estudo de Viabilidade Técnico-Ambiental antes da implantação da tecnologia.
O estudo conduzido por Kumar e Samadder (2017) proporcionou uma análise abrangente do cenário global das opções tecnológicas para a transformação de resíduos em energia (WTE, do inglês Waste to Energy), que incluem a incineração, pirólise, gaseificação, digestão anaeróbia e aterro com recuperação de gás. Eles examinaram os desafios enfrentados por países desenvolvidos e em desenvolvimento nessa área, fornecendo uma estrutura para avaliar as opções tecnológicas WTE com base em estudos de caso.
Os autores destacaram que, nos países em desenvolvimento, os aterros sanitários não higiênicos são a opção mais comumente adotada para a eliminação de resíduos. No entanto, eles observaram que os países desenvolvidos reconheceram o potencial das tecnologias WTE para o gerenciamento eficaz de resíduos sólidos urbanos.
A conclusão dos pesquisadores foi que a WTE representa uma fonte promis- sora de energia renovável, que pode parcialmente atender à demanda energética e garantir um gerenciamento mais eficaz dos resíduos sólidos urbanos. Essa aborda- gem não apenas contribui para a segurança energética, mas também para a redução dos impactos ambientais associados à disposição inadequada de resíduos.
Biogás
Outro método disponível para fins de recuperação energética dos resíduos é a captação de biogás em aterros sanitários, para geração de energia. Nesse tipo de empreendimento há uma rede coletora dos gases gerados no processo de decomposição anaeróbia dos resíduos aterrados que os encaminha, por meio de drenos verticais e horizontais, para uma unidade de geração de energia (BNDES, 2014).
Segundo estudo do Ministério de Minas e Energia, a tecnologia de aproveita- mento do biogás produzido nos aterros sanitários é o uso energético mais simples dos resíduos sólidos urbanos, uma alternativa que pode ser instalada na maioria das unidades já existentes (EPE, 2014).
De acordo com os dados fornecidos pelo CIBiogás, o ano de 2021 registrou um incremento significativo na indústria do biogás. Houve um aumento de 16% no número de plantas em operação em comparação com o ano anterior, juntamente com um crescimento de 10% no volume de biogás produzido. Esses números indicam uma tendência positiva no setor, destacando o crescente interesse e investimento na produção de biogás como uma fonte de energia renovável e sustentável.
Segundo relatório do CIBiogás, os dados levantados durante o período revelam que há um total de 811 plantas de biogás. Dessas, 755 estão atualmente em operação e gerando energia (o que corresponde a 93% do total), 44 estão em fase de implan- tação (5%), e 12 estão passando por reformulação ou reforma (2%) e estão progra- madas para retornar à operação em 2022. Comparado ao ano anterior, houve um crescimento absoluto de 20%, visto que foram divulgadas 675 plantas. Esses números indicam que o mercado de biogás está continuamente em expansão, refletindo um interesse crescente nessa fonte de energia renovável e sustentável.
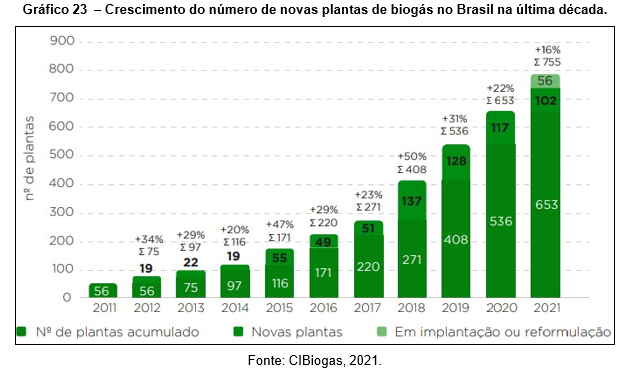
O setor de biogás no Brasil continua a crescer, como evidenciado graficamente no Gráfico 23, apesar dos desafios enfrentados em cenários aparentemente desfavoráveis, como as flutuações no preço do barril de petróleo, a alta do dólar que afetou os preços dos combustíveis e do GLP, a crise hídrica que resultou na implementação da bandeira de escassez hídrica no setor elétrico e os impactos da pandemia da COVID-19 em diversos setores da economia.
A indústria do biogás brasileira permanece aquecida mesmo após o período pós-pandêmico. A entrada em vigor da Resolução ANEEL nº 482/2012 abriu caminhos para a geração de energia elétrica a partir do biogás, o que incentivou o aumento considerável no número de unidades geradoras de biogás com aproveitamento energético a partir de 2018, como demonstrado no gráfico.
Segundo a Associação Brasileira do Biogás (ABiogás), o desenvolvimento da indústria nacional de fornecedores de bens e serviços para o setor de biogás tem contribuído para a redução dos custos de instalação de plantas de biogás e biometano no país.
De acordo com o último levantamento nacional realizado pelo CIBiogás, o número de unidades em operação aumentou de 653 em 2020 para 755 em 2021, representando um crescimento de 16% a nível nacional. Destacam-se também estados como Goiás e Santa Catarina, que registraram crescimentos de 24% e 28%, respectivamente, no número de plantas de biogás com aproveitamento energético.
Em 2021, os cinco estados com o maior número de plantas de biogás em operação foram Minas Gerais, Paraná, Goiás, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso (Figura 161). Minas Gerais manteve sua posição de destaque, liderando em quanti- dade de plantas, com 251 unidades em operação, representando 33% do total nacional. Entretanto, em termos de volume de biogás e seu equivalente energético, essas unidades contribuíram com apenas 9% do volume total produzido, totalizando 210 milhões de metros cúbicos por ano (Nm³/ano). Houve um crescimento de 11% nesse volume em comparação a 2020.
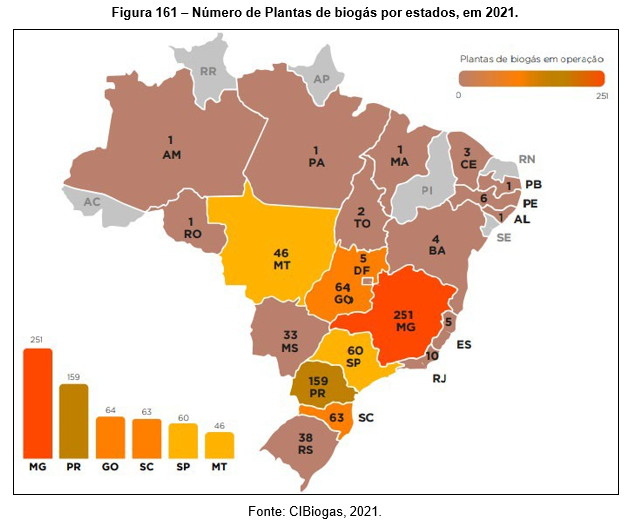
A utilização do biogás como combustível para geração de energia elétrica ou para conversão em combustível e calor não apenas aproveita de forma sustentável os subprodutos da disposição dos resíduos sólidos em aterros sanitários, como também evita que o gás metano nele contido seja emitido para a atmosfera (ARCADIS, 2010). Assim, defende-se que deva haver incentivos públicos para a elaboração e execução de projetos de recuperação e aproveitamento de biogás, considerando-se os benefícios que esses projetos podem trazer. O Quadro 41 mostra as vantagens e desvantagens da adoção dessa tecnologia.
Quadro 41 – Vantagens e desvantagens da recuperação energética utilizando gases de aterro.
| Vantagens | Desvantagens |
| Eliminação da emissão de metano oriundo da decomposição da matéria orgânica. | Processo menos eficiente que outros de recuperação energética. |
| Geração de energia para consumo próprio do aterro sanitário e venda do excedente. | Requer manutenção especializada. |
| Geração de créditos do carbono. | Irregularidade de sua geração ao longo da vida útil do aterro. |
Incineração
Um dos processos mais conhecidos e utilizados no mundo para a recuperação energética é a incineração, que consiste no tratamento térmico, com consequente redução do volume dos resíduos. A energia recuperada pode ser utilizada para produção de calor e geração de energia elétrica (BNDES, 2014).
Os tratamentos térmicos podem ser classificados como sendo de alta ou de baixa temperatura. Os tratamentos a alta temperatura normalmente ocorrem a temperaturas acima de 500°C e objetivam, principalmente, a destruição ou remoção da fração orgânica presente no resíduo, com redução significativa da sua massa (70%) e volume (90%), bem como a sua assepsia. A energia contida nos resíduos, nestes processos, pode ser parcialmente aproveitada, podendo gerar energia elétrica, água quente e vapor, ou combustíveis alternativos, auxiliando na redução do custo operacional do tratamento térmico. Os tratamentos a baixa temperatura ocorrem a temperaturas em torno de 100°C e visam, principalmente, a assepsia do resíduo sólido, razão pela qual são empregados somente para o tratamento de RSS. Nestes processos, a massa dos resíduos e o conteúdo de matéria orgânica praticamente não se alteram, mas pode-se obter uma redução significativa no seu volume (CEMPRE, 2018).
A incineração dos RSU produz gases de combustão, os quais são fonte de energia térmica graças à geração de vapor superaquecido em caldeiras de recuperação de calor. Após trocarem calor dentro da caldeira, esses gases são tratados com o objetivo de abatimento de poluentes (entre eles NOx, SOx, HCl, etc.), de acordo com os limites exigidos pelas legislações vigentes. O monitoramento e o controle das emissões dos poluentes são efetuados por meio de sistemas de análise contínuos, instalados na chaminé (ABRELPE, 2013).
Algumas vantagens desse processo estão relacionadas à geração de energia limpa e descentralizada, quando aplicadas as boas práticas de incineração, e à mitigação da geração de gases de efeito estufa e redução da dependência de combustíveis fósseis. A seguir, são elencadas as principais vantagens e desvantagens relacionadas à incineração de resíduos com geração de energia.
Quadro 42 – Vantagens e Desvantagens da Incineração.
| Vantagens | Desvantagens |
| Aplicável a vários tipos de resíduos. | Alto custo de implantação. |
| Aumento da vida útil dos locais para disposição final. | Requer uma entrada constante de resíduos com alto poder calorífico. |
| Degradação completa dos resíduos e quebra das moléculas dos compostos perigosos. | Geração de rejeitos que devem ser dispostos corretamente de acordo com a sua composição. |
| Possibilidade de instalação em áreas próximas a centros urbanos, reduzindo custos de coleta e transporte. | Demanda por sistemas de tratamento de gases. |
No tratamento térmico a alta temperatura pode ocorrer a combustão da fração orgânica dos resíduos, gerando principalmente gás carbônico (CO2), água e cinzas, ou a decomposição térmica da fração orgânica, gerando gases, líquidos e sólidos combustíveis. A Tabela 66 mostra o destino dos resíduos sólidos urbanos em diferentes países.
Tabela 66 - Destino dos RSU em diferentes países.
| País |
Aterros e/ou lixões | Incineração com recuperação energética | Compostagem + reciclagem |
| Brasil | 87% | - | 13% |
| Bélgica | 5% | 36% | 60% |
| República Tcheca | 83% | 13% | 4% |
| Alemanha | 1% | 35% | 65% |
| Irlanda | 62% | 3% | 35% |
| Espanha | 57% | 9% | 34% |
| França | 36% | 32% | 33% |
| Portugal | 65% | 19% | 17% |
| Suécia | 3% | 49% | 48% |
| México | 76,5% | - | 9,6% |
A incineração é o processo mais antigo e o mais empregado de tratamento térmico de Resíduos Sólidos Municipais, RSM, e Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde, RSS, sendo feita a temperaturas acima de 800°C. Os gases de combustão devem-se manter a 1200°C por cerca de 2 segundos, com excesso de ar e turbulência elevados a fim de garantir a conversão total dos compostos orgânicos presentes no RSM e RSS a gás carbônico e água. Os teores de oxigênio nos gases de combustão emitidos na chaminé devem ficar acima de 7% em volume. Estas condições operacionais compõem o que se denomina boas técnicas de combustão, como ilustrado no Quadro 43.
Quadro 43 – Boas Práticas de Combustão.
| Boas Práticas de Combustão |
| Temperatura elevada na câmara de combustão | Quanto maior a temperatura dos gases numa câmara de combustão maior é a velocidade de decomposição de compostos orgânicos eventualmente presentes. A temperatura normalmente recomendada é de 1200°C. |
| Teor de oxigênio elevado nos gases de combustão | O oxigênio reage com os compostos orgânicos presentes nos resíduos, gerando gás carbônico (CO2) e água (H2O). À semelhança da temperatura, o teor de oxigênio interfere na velocidade de reação de decomposição de compostos orgânicos, que aumenta com o teor de oxigênio nos gases de combustão. O teor de oxigênio mínimo recomendado em gases de combustão de incineradores é de 7%. Teores muito elevados, por outro lado, podem reduzir significativamente a temperatura na câmara de combustão, piorando as condições da câmara. |
| Turbulência elevada nos gases de combustão | Para que o oxigênio reaja com os compostos orgânicos presentes nos gases de combustão ou nos resíduos sólidos, é necessário que ele entre em contato com estes compostos. Para isto é necessário que o estado de agitação na câmara de combustão, chamado de turbulência, seja muito elevado, promovendo um contato intenso do ar de combustão com os reagentes. Isto normalmente se consegue pela injeção de jatos de ar a alta velocidade logo acima do leito de resíduo sólido em combustão. |
| Tempo de residência na câmara de combustão | Mesmo em condições adequadas, as reações de combustão levam um tempo para ocorrer, variando com a temperatura, teor de oxigênio e turbulência. Em geral, as câmaras de combustão de volumes maiores também levam a tempos de residência maiores. Os tempos de residência em câmaras de combustão de incineradores têm variado de 0,8 a 2,0 segundos. |
Devido à presença no RSM e RSS de compostos normalmente não encontrados nos combustíveis convencionais, como metais pesados e compostos clorados, e que levam à formação de compostos poluentes mesmo com a adoção de boas técnicas de combustão, todo equipamento de incineração deve ser equipado com um sistema eficiente de limpeza de gases independentemente do porte e projeto do incinerador.
As tecnologias de limpeza hoje disponíveis permitem atingir padrões de emissão abaixo dos exigidos pelas legislações mais restritivas e, contrariamente ao conceito geral existente, a incineração em equipamentos mais modernos pode apresentar vantagens, em termos ambientais, em relação a outros meios de disposição, como, por exemplo, o aterro. Neste último, a matéria orgânica presente no resíduo, ao ser decomposta, libera gás metano que, se não queimado, tem um potencial 21 vezes maior que o gás carbônico em relação ao efeito estufa, além de emitir outros gases que contribuem para a formação de compostos poluentes atmosféricos, bem como efluentes líquidos (chorume) que podem contaminar lençóis freáticos.
A incineração com geração de energia elétrica também contribui para a redução de emissão global de gás carbônico na medida que boa parte do material orgânico presente nos resíduos é oriundo de fonte renovável (alimentos, papéis, etc.), substituindo combustíveis fósseis.
Um planejamento estratégico a longo prazo é essencial para se implantar uma usina de incineração com sucesso. Os responsáveis pelas decisões precisam lidar com uma variedade muito grande de questões de natureza política, econômica, técnica e social, tais como:
·Encontrar um local para a instalação da unidade que fique próximo ao centro de geração de resíduos e que conte com infraestrutura adequada. A proximidade de polos industriais consumidores de vapor para aquecimento ou de redes de distribuição de energia elétrica é interessante, pois a venda de utilidades geradas na unidade pode reduzir significativamente o custo de incineração;
· Definir quem assume a propriedade e as responsabilidades decorrentes, incluindo os riscos ligados à instalação. Nos EUA, muitas usinas são de propriedade privada;
·Seleção e coordenação de um fornecedor do incinerador com longa experiência e que ofereça garantias operacionais;
· Contrato para incineração de resíduos com a Prefeitura, definindo claramente os aspectos quanto à garantia de fornecimento, características, pagamento, etc.;
· Contrato de longo prazo para venda de energia elétrica e/ou vapor d’água;
·Obtenção de financiamento a taxas compatíveis;
·Levar em conta programas futuros de reciclagem de resíduos que podem influenciar no volume de resíduos disponível, no seu conteúdo energético e, consequentemente, na capacidade de geração da usina;
· Vencer a resistência da população local, atuando com transparência e mostrando todas as ações que serão realizadas no sentido de minimizar os impactos ambientais.
A determinação da composição e conteúdo energético do resíduo a ser incinerado é de fundamental importância para o dimensionamento correto da unidade de incineração e do sistema de limpeza de gases. Existem relatos de ocorrência de subdimensionamento de unidades nos EUA, provocado pela elevação do conteúdo energético do RSM ao longo do tempo. Desta forma, no projeto de novas unidades, deve- se fazer, além de determinações as mais corretas possíveis do conteúdo energético dos resíduos, projeções da evolução deste conteúdo ao longo do tempo de vida do equipamento, procurando-se, quando possível, levar em conta os programas de reciclagem.
Para uma caracterização do RSM mais próxima da realidade, deve-se realizar a coleta de uma amostra representativa do total de resíduo gerado, de acordo com procedimentos normalizados para resíduos heterogêneos, conforme os descritos na norma ABNT NBR 10.007 (ABNT, 2004).
A caracterização completa de um resíduo visando sua incineração engloba a determinação de:
·Poder calorífico inferior (PCI): indica a quantidade de energia útil que pode ser liberada durante a queima do resíduo. Quanto maior o PCI, maiores serão as potências liberadas no interior do incinerador e maiores as temperaturas atingidas;
·Análise imediata: determina os teores de água, cinzas e matéria volátil do resíduo. O teor de cinza determina o montante de material a ser descartado em aterros após a incineração do resíduo;
·Análise elementar: determina os teores de carbono, hidrogênio e nitrogênio. Esta análise possibilita avaliar a quantidade de ar necessária para realizar a combustão completa do resíduo;
·Teores de elementos tóxicos: a partir dos teores médios de elementos tóxicos presentes no resíduo (mercúrio, cádmio, chumbo, cromo, níquel, cloro, enxofre, etc.) e não somente nas cinzas dos resíduos, pode-se estimar o potencial de geração e de formação de compostos tóxicos em processos de incineração e dimensionar adequadamente o sistema de limpeza de gases da unidade.
Os processos de incineração de RSM e RSS em escala comercial podem ser divididos em três grandes grupos: combustão em grelha, em câmaras múltiplas e em leito fluidizado. A seguir serão descritas as características e diferenças entre cada um dos tipos supracitados.
Para o tratamento térmico por incineração, por sua vez, são consideradas duas hipóteses de porte: uma para a qual se prevê a instalação de usinas com capacidade de processamento de 650 t/dia e potência instalada de 60MW de potência térmica por linha, o que corresponde a 15 MW elétricos; e outra para a qual se prevê uma unidade com capacidade de processamento de 1300 t/dia e potência instalada de 120MW de potência térmica por linha, o que corresponde a 30 MW. Com bases nessas premissas, foram considerados os seguintes custos de implantação de unidades de tratamento térmico, conforme mostra a Tabela 67.
Tabela 67 – Custos de instalação e operação de unidades de tratamento térmico com recuperação de energia.
| Capacidade máxima (t/dia) | 650 | 1300 |
| Custos Totais de Investimento por Planta | R$ 280.000.000,00 | R$ 480.000.000,00 |
| Custos Totais de Operação e Manutenção (R$/ano) | R$ 23.000.000,00 | R$ 40.330.000,00 |
1.1.1 Indicadores de desempenho operacional, ambiental e do grau de satisfação dos usuários
O termo "indicadores" refere-se a elementos destinados a apontar ou evidenciar algo específico. A utilização de indicadores de desempenho desempenha um papel crucial ao permitir que gestores monitorem a eficácia das rotinas, aprimorando a tomada de decisões com alta precisão. Esses indicadores oferecem ao operador do sistema uma visão abrangente de todos os processos relacionados à limpeza pública e ao manejo de resíduos sólidos municipais, fornecendo insights sobre os caminhos necessários para alcançar melhores resultados.
No contexto da implementação do Plano e seu impacto na qualidade da limpeza pública e gestão de resíduos sólidos urbanos, assim como no cumprimento das dire- trizes estabelecidas na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) - Lei nº 12.305/2010, a definição e aplicação de indicadores específicos são fundamentais. Esses indicadores podem incluir métricas relacionadas à quantidade de resíduos coletados, taxas de reciclagem, eficiência na destinação final, conformidade com regulamentações ambientais, e outros parâmetros que possibilitam a avaliação contínua do desempenho do sistema, garantindo alinhamento com as metas estabelecidas pela legislação ambiental vigente.
a) Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS/SINISA) desempenha um papel fundamental na coleta e análise de dados relacionados aos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos no Brasil desde 2002. Atra- vés do Diagnóstico SNIS/SINISA, disponibilizado anualmente, o sistema oferece um panorama abrangente do país, apresentando informações essenciais sobre a cobertura dos serviços de coleta domiciliar e pública, coleta seletiva, quantidade de massa coletada e recuperada, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos, bem como dados financeiros.
Com uma série histórica de 18 anos, o SNIS/SINISA-Resíduos Sólidos se destaca por coletar dados diretamente dos municípios, permitindo análises comparativas entre localidades de mesmo porte, da mesma região ou outras circunstâncias.
Recomenda-se que, ao escolher indicadores para monitorar a implementação e sucesso do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), os municípios considerem indicadores similares aos utilizados pelo SNIS/SINISA. Isso possibilita que as análises locais sejam contextualizadas em relação a uma série histórica consolidada, fornecendo insights valiosos para a tomada de decisões e promovendo uma abordagem consistente na avaliação do desempenho em gestão de resíduos sólidos.
Os indicadores utilizados para elaboração do diagnóstico do Plano estão especificados no capítulo próprio para indicadores do sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. É crucial frisar o preenchimento correto no sistema para assegurar a precisão e confiabilidade dos dados coletados, garantindo uma base sólida para a gestão eficiente e sustentável dos resíduos sólidos municipais.
b) Indicadores Socioambientais e Culturais
A avaliação e monitoramento dos aspectos socioambientais e culturais relacio- nados ao sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no município de Iúna podem ser conduzidos de maneira eficaz através da aplicação de indicadores de sustentabilidade propostos por Milanez (2002) e Polaz & Teixeira (2009). Estes indicadores foram desenvolvidos especificamente para avaliar a gestão pública de resíduos sólidos em municípios de pequeno e médio porte, proporcionando uma abordagem abrangente e adaptada à realidade local.
Os indicadores propostos por Milanez (2002) e Polaz & Teixeira (2009) podem abranger diversos aspectos, incluindo a participação da comunidade no processo de coleta seletiva, a eficácia das campanhas de conscientização ambiental, a promoção da inclusão social de catadores de materiais recicláveis, a minimização dos impactos ambientais, e a integração de práticas sustentáveis no contexto cultural do município. Ao aplicar esses indicadores, Iúna poderá não apenas avaliar o desempenho ambiental e socioeconômico de seu sistema de manejo de resíduos sólidos, mas também identificar oportunidades para melhorias e fortalecer a integração das práticas sustentáveis na comunidade local. Essa abordagem proporcionará uma visão holística da gestão de resíduos sólidos, alinhando-se a metas mais amplas de sustentabilidade e respeitando as características específicas de municípios de pequeno e médio porte.
Os indicadores de sustentabilidade têm sido utilizados como forma de melhorar a base de informações sobre o meio ambiente, auxiliar a elaboração de políticas públicas, simplificar estudos e relatórios e assegurar a comparabilidade entre diferentes regiões (IBGE, 2008; MILANEZ & TEIXEIRA, 2003).
Para cada indicador de sustentabilidade, Milanez (2002) definiu três parâmetros de avaliação, apresentados no Quadro 44.
Quadro 44 – Parâmetros de avaliação para a aplicação dos indicadores socioambientais e culturais.
| Tendência | Conceito |
| Muito Desfavorável | MD |
| Desfavorável | D |
| Favorável | F |
O município poderá utilizar os seguintes indicadores:
Quadro 45 – Indicadores Socioambientais e Culturais.
| Indicadores | Avaliação de tendência |
| Quantidade de ocorrências de lançamento de resíduos sólidos em locais inadequados. | (MD) Mais de 4 ocorrências/ano a cada 1000 hab.;(D) Entre 1 e 4 ocorrências/ano a cada 1000 hab.; (F) Menos de 1 ocorrências/ano a cada 1000 hab. |
| Existência de situações de risco à saúde em atividades vinculadas à gestão de resíduos sólidos. | (MD) Presença de catadores trabalhando de forma precária nos locais de disposição final;(D) Presença de catadores trabalhando de forma precária nas ruas;(F) Inexistência das situações descritas anteriormente. |
| Existência de informações sobre a gestão de resíduos sólidos sistematizadas e disponibilizadas para a população. | (MD) As informações não são sistematizadas;(D) As informações são sistematizadas, porém não estão disponíveis para a população;(F) As informações são sistematizadas e disponibilizadas de forma proativa pra população. |
| Efetividade de Programas Educativos continuados voltados para boas práticas de gestão dos resíduos sólidos. | (MD) Inexistência de programas educativos; (D) Existência de programas educativos continuados, porém com baixo envolvimento da população;(F) Existência de programas educativos continuados com alto envolvimento da população. |
9.2.6 Regras para o transporte de resíduos sólidos
As diretrizes referentes ao transporte de resíduos sólidos serão abordadas e detalhadas com base nas orientações estabelecidas nas normas e resoluções a seguir:
· ABNT - NBR 7500: Símbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de materiais;
·ABNT – NBR 7501: Transporte Terrestre de Produtos Perigosos – Terminologia;
· ABNT – NBR 7503: Transporte Terrestre de Produtos Perigosos – Ficha de Emergência – Requisitos Mínimos;
·ABNT – NBR 12810: Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde;
·ABNT – NBR 13221: Transporte Terrestre de Resíduo;
·ABNT – NBR 14064: Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos – Diretrizes do Atendimento à Emergência;
·ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres. Resolução nº 5.232/2016 – Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e dá outras providências.
O transporte de resíduos sólidos no Brasil está sujeito a um elaborado sistema de Normas e Resoluções, o que pode gerar incertezas nos gestores municipais sobre as abordagens mais seguras para a movimentação e carregamento de resíduos, in- dependentemente de serem perigosos ou não. Compreender as regulamentações relativas ao transporte de resíduos é crucial para evitar problemas como acidentes e infrações, especialmente quando se trata de resíduos perigosos, cujos acidentes podem ter sérias consequências para o meio ambiente e a população. Portanto, as regulamentações são essenciais para garantir que o transporte de resíduos seja realizado de maneira segura e eficiente.
No que diz respeito aos resíduos do Sistema de Limpeza Urbana, a responsabilidade pelo transporte recai sobre a Prefeitura, que pode optar por usar veículos próprios ou terceirizados. A Prefeitura deve utilizar veículos compactadores e assegurar a manutenção básica, incluindo pneus, carroceria, freios, sinalização, segurança, treinamento dos condutores e da equipe de coleta, entre outros aspectos.
O mesmo princípio se aplica à coleta de resíduos recicláveis, com a diferença de que esses resíduos são direcionados para um galpão de uma organização de catadores. Vale ressaltar que, para a coleta seletiva, vários tipos de caminhões, como baús, gaiolas, carrocerias e até caminhões Roll On Roll Off (com carroceria basculante), podem ser utilizados.
No caso dos resíduos gerados por estabelecimentos de saúde (RSS), o trans- porte deve ser realizado por empresas especializadas. A gestão dos RSS de estabelecimentos de saúde pública é de responsabilidade da Prefeitura, com a Secretaria apropriada acompanhando todo o processo de destinação final dos RSS, emitindo Certificados de Destinação Correta e realizando auditorias.
Quanto ao transporte de resíduos de construção civil (RCC), a responsabilidade recai sobre o gerador, que deve acionar uma empresa coletora, geralmente conhecida como empresa de caçamba.
Os resíduos sólidos grosseiros e a areia gerados em estações de tratamento de água e esgoto, como o lodo de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), devem ser transportados para aterros sanitários em veículos apropriados. Já a torta, lodo digerido e lodo desidratado gerados nas estações de tratamento são encaminhados para reflorestamento ou jardinagem, sob a responsabilidade do gerador. No entanto, é importante observar as Resoluções CONAMA nº 375 e nº 498, que estabelecem requisitos para análises laboratoriais nesse tipo de destinação.
Na Figura 162 é apresentada a imagem de um veículo adequado para o transporte desses resíduos.

A etapa de transporte de resíduos sólidos deve obedecer a procedimentos estabelecidos em normas específicas. Essas normas consideram as características físicas e químicas dos resíduos, bem como seu potencial de periculosidade. No âmbito nacional, a regulamentação para o transporte de produtos perigosos, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), inclui as seguintes resoluções:
·Resolução ANTT nº 5.232/16: aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos e estabelece outras diretrizes;
·Resolução ANTT nº 5.848/19: atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e revoga a Resolução ANTT nº 3.665/11 a partir de 23 de dezembro de 2019.
No que diz respeito ao transporte de produtos perigosos no âmbito do Mercosul, a regulamentação segue as seguintes normas:
·Decreto nº 1797/1996: regulamenta a execução do Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte de Produtos Perigosos entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, celebrado em 30 de dezembro de 1994;
·Decreto nº 2.866/1998: trata do 1º Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte de Produtos Perigosos entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, abordando o Regime de Infrações e Sanções.
9.2.7 Definição das Responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização
O Art. 3º da PNRS define o termo responsabilidade compartilhada como:
“XVII – Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei;”
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, conforme descrito em seu artigo 30, estabelece o princípio da responsabilidade compartilhada ao longo do ciclo de vida dos produtos em território nacional. Assim, atribui responsabilidades aos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e ao poder público em diversas etapas da vida dos produtos.
“Art. 30. É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoante as atribuições e procedimentos previstos nesta Seção.”
A PNRS, ao estabelecer essa forma de responsabilidade, tem como seu principal propósito apoiar o princípio subjacente de redução da geração de resíduos na fonte. Isso ocorre ao incentivar fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes a investirem na criação, fabricação e oferta de produtos no mercado que sejam, após o uso, passíveis de reutilização, reciclagem ou outra forma apropriada de descarte final, garantindo que tanto a produção quanto a utilização desses produtos resultem na menor produção possível de resíduos sólidos. O Quadro 46 demonstra as responsabilidades atribuídas aos gestores públicos e privados para cada categoria de resíduos, conforme estabelecido pela PNRS.
Quadro 46 – Responsabilidades dos gestores públicos e privados quanto ao manejo das dife- rentes tipologias de resíduos.
| Gestor Público | Gestor Privado/Gerador |
| · Serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos domiciliares e comerciais; · Resíduos gerados em estabelecimentos públicos (saúde, construção civil, especiais, volumosos, agrícolas etc.); · Manejo e destinação de resíduos produzidos por serviços de dragagem de canais, arroios e outros elementos de drenagem urbana; · Manejo e destinação dos resíduos produzidos na execução de serviços de remoção de resíduos de gradeamento e remoção de areia em redes de efluentes domésticos e água; · Resíduos da construção civil e demolição produzidos por pequenos volumes, através dos pontos de entrega voluntária ou outras formas de destinação. | · Comerciais ou de prestação de serviço perigosos ou que, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos sólidos domiciliares; · Serviço de Saúde e Hospitalar (Particulares); · Portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários; ·Industrial; · Agrícola; · Resíduos da Construção Civil e Demolição (exceto pequenos geradores); ·Resíduos Especiais; · Resíduos Volumosos; · Resíduos de Saneamento;· Resíduos de Mineração. |
A organização e a prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos domiciliares é do Poder Público Municipal e pode ser realizada direta ou indiretamente, por meio da delegação dos serviços.
Cabe aos domicílios e estabelecimentos servidos pela coleta convencional de resíduos, a obrigação de acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados, bem como disponibilizar de forma apropriada os resíduos sólidos reutilizáveis ou recicláveis para coleta ou devolução, de acordo com o preconizado na PNRS.
Cabe ainda, ao Poder Público fornecer ao Órgão Federal responsável pela coordenação do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR), todas as informações necessárias sobre os resíduos sob sua esfera de competência, bem como realizar a identificação e o cadastramento dos grandes geradores de resíduos sólidos, contendo informações sobre a localização, tipologia, produção média, existência de PGRS, entre outras, as quais possibilitarão o estudo das demandas pelos serviços de gerenciamento dos resíduos sólidos por ente responsável, facilitando a delimitação de responsabilidades e conferindo maior precisão aos orçamentos/gastos públicos relacionados.
Os grandes geradores de resíduos sólidos serão responsáveis pelas seguintes ações:
· Elaboração do PGRS, obedecendo a critérios técnicos, legislação ambiental, normas de coleta e transporte dos serviços locais de limpeza urbana e atendimento à PNRS;
· Implementação e operacionalização integral do PGRS aprovado pelo órgão ambiental competente;
· Designação de responsável técnico devidamente habilitado para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos, incluindo o controle da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e dos danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos;
·O manejo de resíduos gerados em seus estabelecimentos, incluindo a coleta, transporte, destinação final e disposição final ambientalmente adequada, direta ou indiretamente através de contratação de serviços;
· Manter atualizadas e disponibilizar aos órgãos competentes as informações sobre a implementação e operacionalização do PGRS.
O Poder Público Municipal assume diretamente ou por meio de delegação a responsabilidade pela coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sépticos originados em estabelecimentos públicos de serviços de saúde. As leis esta- duais e federais de maior abrangência atribuem essas responsabilidades aos geradores privados. No entanto, caso o Poder Público realize qualquer etapa do manejo que é de responsabilidade dos geradores, sujeitos à elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), esses serviços devem ser devidamente remunerados pelas pessoas físicas ou jurídicas responsáveis.
Seguindo o princípio da responsabilidade compartilhada, os pacientes que utilizam materiais como agulhas, lancetas (usadas para perfuração da pele) e seringas devem ser orientados a encaminhar esses materiais, devidamente acondicionados, para a unidade de saúde mais próxima, não devendo descartá-los junto com os resíduos sólidos comuns. Quando recebidos em uma unidade pública de saúde, a gestão desses resíduos passa a ser responsabilidade do Poder Público. Os geradores privados de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) devem cumprir as seguintes obri- gações:
· Enviar um inventário semestral ao órgão ambiental municipal, especificando o tipo e quantidade de resíduos gerados;
· Elaborar o PGRSS, observando critérios técnicos, legislação ambiental, normas de coleta e transporte e outras diretrizes presentes na RDC ANVISA nº 306/2004 e na Resolução CONAMA nº 358/2005;
· Designar um profissional, com registro ativo no respectivo Conselho de Classe, apresentando Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Certificado de Responsabilidade Técnica ou documento equivalente, quando aplicável, para assumir a função de responsável pela elaboração, implementação e operacionalização do PGRSS.
·Manter registros das operações de venda ou doação dos resíduos gerados destinados à reciclagem ou compostagem;
· Incluir, nos termos de contratação relacionados aos serviços de manejo de RSS, requisitos que comprovem a capacitação e o treinamento dos funcionários das empresas de limpeza e conservação que atuam em estabelecimentos de saúde, assim como na coleta, transporte, tratamento e disposição final desses resíduos;
·Exigir das empresas de serviços terceirizados a apresentação de licença ambiental para o tratamento ou disposição final dos resíduos de serviços de saúde, além de um documento de cadastro emitido pela autoridade competente para a coleta e transporte desses resíduos;
·Fornecer capacitação e treinamento inicial e contínuo para todos os envolvidos na gestão de resíduos;
· Requisitar o preenchimento do Controle de Transporte de Resíduos e do Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) para todas as etapas externas que envolvam o transporte de resíduos, independentemente de estarem tratados ou não.
No caso específico das embalagens de agrotóxicos, a participação ativa do fabricante, revendedor e agricultor é essencial em todas as etapas, desde a comercialização, uso, lavagem, armazenamento e disposição final, visando à proteção da saúde humana e do meio ambiente. Os agricultores são orientados a devolver as embalagens vazias ao revendedor após a utilização do produto, que, por sua vez, encaminhará essas embalagens a uma empresa responsável para a destinação final adequada. A maioria dos municípios brasileiros não possui programas de coleta de embalagens de agrotóxicos ou locais específicos para recebê-las, além das lojas revendedoras.
No caso dos resíduos eletrônicos, que abrangem partes de equipamentos eletrônicos e seus componentes, o descarte inadequado representa riscos para a quali- dade da água, do solo e do ar, afetando, por conseguinte, a saúde humana. Portanto, é essencial que haja campanhas de coleta durante o ano para resíduos eletrônicos, pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes no município. Com a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), o setor empresarial e as autoridades públicas se viram compelidos a buscar diretrizes técnicas e econômicas para gerenciar adequadamente esses resíduos.
De acordo com a PNRS, todos os elos da cadeia, incluindo fabricantes, impor- tadores, distribuidores e comerciantes, são obrigados a estabelecer e manter um sis- tema de logística reversa para produtos pós-consumo. Isso inclui a comunicação com a sociedade, coleta, armazenamento, transporte e destinação final ambientalmente adequada, independentemente do sistema público de coleta de resíduos (e, caso esse sistema seja utilizado, os custos devem ser cobertos). Além disso, é importante conti- nuar educando a população, destacando a importância de não descartar resíduos pe- rigosos em pontos de entrega voluntária. A Prefeitura Municipal deve fiscalizar e sancionar caso lâmpadas queimadas e pneus inservíveis sejam encaminhados inadequadamente para aterros municipais de RCC ou outros locais impróprios.
Para operacionalizar as responsabilidades dos sistemas de logística reversa, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) introduziu dois instrumentos importantes: o Acordo Setorial e o Termo de Compromisso, que são formalizados entre os diversos atores envolvidos. Esses instrumentos complementam a regulamentação direta da legislação, proporcionando uma estrutura flexível para a implementação efetiva dos sistemas de logística reversa.
O Decreto nº 7.404/2010, que regulamenta a PNRS, estabelece que os acordos setoriais com abrangência geográfica mais restrita podem ampliar, mas não enfraque- cer, as medidas de proteção ambiental estipuladas nos acordos setoriais e termos de compromisso de alcance mais amplo. Isso garante a manutenção dos padrões ambientais independentemente do escopo territorial do acordo.
Além disso, o decreto prevê a possibilidade de adoção de procedimentos de compra de produtos ou embalagens usadas e a instituição de pontos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis. Nesse contexto, destaca-se a importância de priorizar a participação de cooperativas ou associações de catadores, especialmente no caso de embalagens pós-consumo.
Para assegurar o cumprimento das obrigações, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes são responsáveis pela realização da logística reversa, proporcionalmente à quantidade de produtos que colocam no mercado interno. Metas progressivas são estabelecidas para orientar essa responsabilidade, com objetivos intermediários e finais determinados nos instrumentos que regulamentam a implementação da logística reversa.
O processo de implementação da logística reversa por meio de acordo setorial pode ser iniciado tanto pelo Poder Público quanto pelos próprios fabricantes, importa- dores, distribuidores ou comerciantes. No caso dos acordos setoriais iniciados pelo Poder Público, são precedidos por editais de chamamentos, enquanto aqueles iniciados pelos demais interessados requerem a apresentação formal de propostas ao Ministério do Meio Ambiente. Esses procedimentos garantem transparência e participação adequada dos envolvidos na definição e execução dos sistemas de logística reversa.
9.2.8 Programas e Ações de Capacitação Técnica voltados para implementação e operacionalização do PMGIRS
A implementação e operacionalização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos demanda uma estrutura gerencial apta, em termos de quantidade e qualidade. Ainda, faz-se necessário um programa de capacitação constante, tanto para atualizar os gestores como para capacitar novos colaboradores e outros atores envolvidos na implementação e operação do plano.
A eficaz gestão de resíduos sólidos municipais requer a implementação de programas educativos e de capacitação que promovam a conscientização e aprimorem as habilidades dos envolvidos. Dois programas fundamentais nesse contexto são o Programa de Atualização e Equalização do Conhecimento (PAEC) e o Programa de Especialização e Operacionalização (PEO).
a) Programa de Atualização e Equalização do Conhecimento (PAEC):
O PAEC se destaca como um pilar essencial para o sucesso da gestão integrada de resíduos sólidos. Seu principal objetivo é equalizar o conhecimento dos colaboradores e servidores envolvidos com a implantação e administração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS).
Este programa oferece cursos abrangentes, abordando desde a legislação aplicável até procedimentos operacionais específicos. A compreensão das regulamentações é fundamental para evitar acidentes, infrações e garantir que o transporte de resíduos seja seguro e eficiente.
O PAEC possui duas frentes distintas: o Curso de Equalização do Conhecimento, que abrange temas como legislação, classificação de resíduos e metas do PMGIRS; e o Curso de Atualização e Melhoria Contínua, direcionado a profissionais de tomada de decisão, mantendo-os informados sobre inovações tecnológicas, mudanças legislativas e novos procedimentos no manejo de resíduos.
b) Programa de Especialização e Operacionalização (PEO):
O PEO concentra seus esforços na especialização e capacitação dos diversos atores envolvidos no gerenciamento de resíduos sólidos sob tutela pública. Essa especialização visa aprimorar as habilidades de gestores, encarregados, supervisores e do corpo operacional diretamente envolvido no manejo dos resíduos. Os cursos de especialização abrangem temas como o gerenciamento integrado, planejamento, identificação de resíduos, responsabilidade compartilhada e sustentabilidade.
Além disso, o PEO oferece treinamentos específicos para o corpo operacional, abordando desde limpeza pública até o uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A iniciativa visa não apenas a eficiência operacional, mas também a segurança e bem-estar dos profissionais envolvidos.
9.2.9 Programas e Ações para a participação dos grupos interessados
A atividade da reciclagem no Brasil, como em muitos outros países em desenvolvimento, há muito tempo tem sido sustentada pela coleta informal de materiais encontrados nas ruas e nos lixões. Estimativas apontam para a presença de cerca de 800 mil catadores em todo o Brasil, responsáveis por coletar uma ampla variedade de materiais (CEMPRE, 2018).
A gestão de resíduos sólidos envolve diferentes atores de várias esferas e setores. Cada um deles desempenha um papel único e fundamental para o sucesso do gerenciamento de resíduos. O poder público, o setor empresarial e a comunidade compartilham a responsabilidade de garantir a eficácia das ações em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, conforme estipulado no Art. 25 da Lei nº 12.305/2010.
Portanto, é relevante destacar que grupos interessados, como Cooperativas e Associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, compostas por pessoas de baixa renda, desempenham um papel importante na gestão de resíduos sólidos, promovendo a inclusão social desses segmentos da sociedade. No entanto, é fundamental implementar ações que aprimorem a eficiência na produtividade dessas organizações, superando os desafios relacionados à falta de equipamentos e infraestrutura organizacional.
Os catadores de rua desempenham um papel significativo na limpeza urbana, coletando materiais recicláveis antes da coleta pública, o que reduz os custos com limpeza e contribui para a sustentabilidade. Os materiais coletados e enviados para a indústria não apenas geram empregos, mas também conservam os recursos naturais.
O envolvimento ativo da Prefeitura como agente incentivador reforça seu papel como gestora do desenvolvimento municipal. Isso permitirá que a administração aproveite ao máximo seu pessoal e equipamento, considerando opções de terceirização e cogestão dos serviços públicos, aprimorando a agilidade e a eficiência das operações. No que diz respeito ao estímulo às atividades de reciclagem de resíduos sólidos, a Prefeitura poderá atuar em várias frentes, tais como:
· Cadastramento de sucateiros e ferros-velhos;
·Desenvolvimento de programas específicos afim de disciplinar a ação dos catadores de rua;
·Permissão de uso de terrenos públicos municipais ociosos, como áreas para a triagem de materiais recicláveis, coletados por iniciativa de grupos organizados da sociedade;
·Organização de campanhas de doação de roupas e objetos a serem reutilizados por pessoas necessitadas;
·Criação de espaços (galpões) propícios à troca de objetos e móveis que as pessoas não queiram mais. Os interessados poderão deixar as peças em consignação, ficando a prefeitura somente com a incumbência da administração do “mercado” ou terceirização dessa atividade.
Como agentes implementadores de medidas diretas e concretas para o desenvolvimento da reciclagem de lixo, a Prefeitura poderá atuar nas seguintes linhas:
·Implementação de coleta seletiva;
· Construção e gerenciamento de usinas de triagem e compostagem;
·Treinamento e capacitação dos funcionários municipais envolvidos com os serviços de limpeza urbana e coleta seletiva;
·Instituição de uma coordenação municipal de reciclagem;
·Instituição de consórcios intermunicipais.
Já como agentes consumidores a Prefeitura poderá usar em sua rotina materiais reciclados, tais como:
· Papel reciclado, para ser usado nas repartições públicas, na forma de blocos, cadernos em escolas-guias, etc.;
· Entulho de obras, servindo de agregado na confecção de peças de mobiliário urbano e habitação;
· Lixo orgânico transformado em adubo orgânico pelo processo da compostagem, para adubar praças, hortas comunitárias e áreas verdes;
· Filme plástico reciclado (saco para lixo, em geral, preto), para ser usado no próprio setor de limpeza urbana (varrição de logradouros);
· Escória de alto-forno de siderurgia, para ser usada na confecção de subleito na pavimentação de vias. Solução vantajosa aos municípios que tenham indústria side- rúrgica instalada nele ou em sua proximidade;
· Borracha de pneus velhos, para asfaltar estradas e contenção de encostas, entre outras.
É importante ressaltar que este capítulo não se limita apenas às Cooperativas ou outras formas de Associação de catadores de materiais recicláveis. O título também engloba a participação de grupos interessados, e, nesse contexto, o Poder Público local deve buscar parcerias para a gestão de seus resíduos recicláveis, com foco especial nas grandes empresas.
9.2.10 Mecanismos para a criação de fontes de negócios utilizando resíduos sólidos
A necessidade de adotar métodos para fortalecer a capacidade institucional e operacional do município na gestão de diversos tipos de resíduos sólidos tem como objetivo primordial garantir a resiliência e promover o desenvolvimento sustentável do meio ambiente. A intenção é proporcionar mecanismos que gerem oportunidades de negócios, empregos e renda por meio da valorização adequada dos resíduos sólidos. Para alcançar esse propósito, é crucial que o município adote um modelo tecnológico de gestão incentivado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), focado na redução da geração e na gestão diferenciada dos resíduos sólidos.
A triagem e recuperação de resíduos são práticas fundamentais, transformando-os em ativos econômicos capazes de gerar benefícios sociais. A disposição final deve ser destinada exclusivamente aos rejeitos. Mecanismos comuns incluem isenção ou redução de taxas e impostos, bem como a concessão de áreas públicas para o desenvolvimento de negócios relacionados aos resíduos. É crucial que essas políticas sejam elaboradas e implementadas de maneira a incentivar a criação e operação de novos empreendimentos.
Diversas oportunidades para explorar resíduos existem, como o aproveitamento de refugos industriais como insumos ou matéria-prima para outras atividades, uma prática que deve ser mais aprofundada em estudos futuros de viabilidade econômica.
Outras medidas visando o impulso da atividade econômica relacionada aos resíduos e à reciclagem incluem a redução de impostos para a implantação de indústrias recicladoras não poluentes no município e o apoio à organização de uma bolsa de resíduos. Apesar de a destinação de resíduos industriais não ser diretamente responsabilidade da administração pública local, essas ações incentivam o setor privado a participar de programas de coleta seletiva e reciclagem, reduzindo assim o volume final de lixo disposto no município.
As bolsas de resíduos operam como canais diretos entre as fontes geradoras que desejam descartar seus resíduos e as empresas ou indústrias que podem utilizar esses materiais como matéria-prima. Existem diversas bolsas de resíduos em todo o território nacional, e abaixo são fornecidos alguns exemplos.
·Tresi Ambiental - Bolsa de Resíduos: a TRESI AMBIENTAL é uma empresa de assessoria técnica às indústrias na área de meio ambiente. Está localizada na cidade de Petrópolis, região serrana do Estado do Rio de Janeiro;
· Bolsa de Resíduos de Goiás: a Bolsa de Resíduos é um ambiente virtual gratuito, composta de um banco de dados com informações sobre oferta e demandas de resíduos, com a intenção de promover a livre negociação entre as indústrias, conciliando ganhos econômicos com ganhos ambientais;
·B2Blue.com: Valorizando o seu resíduo: a B2Blue.com é uma iniciativa inovadora da Maynis Company, empresa que visa o desenvolvimento de negócios e projetos que ofereçam as ferramentas necessárias para a orientação das organizações em direção às práticas ambientalmente adequadas;
·Bolsa de Resíduos Industriais gerida pela AEP-Associação Empresarial de Portugal: a Bolsa de Resíduos permite procurar compradores e vendedores de resíduos e subprodutos dos diferentes tipos conforme uma classificação de materiais simplificada. A publicação e procura na bolsa é gratuita;
· Bolsa de Resíduos: como "na natureza nada se cria, tudo se transforma", esta página tem como objetivo ser a interface entre empresas que disponibilizam seus resíduos e as que procuram matérias-primas para seus processos;
·SIBR - Sistema Integrado de Bolsa de Resíduos: converter resíduos em matérias-primas pode gerar inúmeras oportunidades de negócios e empregos para a indústria. Este é o foco do Sistema Integrado de Bolsas de Resíduos que reúne serviços desenvolvidos em seis estados, para que indústrias possam oferecer;
· Bolsa de Resíduos e Subprodutos da FIEB: esta é a Bolsa de Resíduos. Uma iniciativa da FIEB - Federação das Indústrias do Estado da Bahia através da Área de Meio Ambiente (AMA) do SENAI - Unidade CETIND;
· Bolsa de Resíduos do Amazonas: Federação das Indústrias do Estado do Ama- zonas - FIEAM Bolsa de resíduos do Estado do Amazonas;
· Setor Reciclagem: o portal Setor Reciclagem é um veículo de comunicação especializado em reciclagem para empresários, empreendedores e pesquisadores do ramo;
· Bolsa de Resíduos & Negócios do Estado do Ceará: o programa se caracteriza por ser um serviço de informações que objetiva identificar mercados potenciais para os resíduos sólidos gerados nas operações industriais;
· Bolsa de Resíduos do Sindicato dos Profissionais da Química do Estado de São Paulo: um mecanismo facilitador para converter resíduos em matérias-primas. Oportunidades de negócios, empregos e serviços.
Ainda, faz-se necessária a criação de políticas de incentivo para a instalação de indústrias recicladoras dentro do território, vista a quantidade e dimensão dos galpões de atravessadores de recicláveis instalados no município. Justifica-se também pela grande gama de indústrias e os resíduos que geram, podendo servir de matéria prima para outros processos produtivos.
9.2.11 Mecanismos de cobrança e sistemática de cálculo dos custos
Segundo o Sistema Tributário Nacional, Lei nº 5.172/66 a taxa é um tributo, sendo que tributo é toda prestação pecuniária compulsória instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O Art. 77 da Lei nº 5.172/66 especifica que as taxas cobradas pelos diferentes entes da federação têm como fato gerador:
“à utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição”.
O serviço deve ser quantificável e compete a pessoas de direito público a criação de taxas, não tendo o objetivo de obtenção de lucro. A Constituição Federal, em seu Art. 175, estabelece que a tarifa é cobrada nos casos de delegação de serviços públicos. Nesta, existe a possibilidade de não adesão por parte do munícipe ao serviço, diferentemente da taxa, ou seja, a cobrança é facultativa. As tarifas admitem a presença do lucro.
O Supremo Tribunal Federal decidiu em 2012 que é legítima a cobrança através de taxa para cobrir custos de coleta de resíduos sólidos, declarando a mesma constitucional, através da qual o serviço pode ser cobrado na forma de taxa para a coleta domiciliar ou específica, mas não pode ser cobrado pela limpeza das ruas, pois faz parte do uso comum sem diferenciação do usuário.
A corte afirmou que a limpeza pública é serviço de caráter universal e indivisível, ao contrário da coleta domiciliar de lixo, este sim, serviço individualizável e, portanto, passível de custeio mediante taxa. Portanto, o serviço de limpeza urbana não pode ser cobrado através de taxa, por não poder ser individualizável. Já para a coleta, remoção, tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, a cobrança através de taxa é constitucional.
Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo de doze meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais. A Política Federal de Saneamento Básico infere que as revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser:
I - periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de mercado;
II - extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro.
As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas respectivas entidades reguladoras, ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores dos serviços. Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência, inclusive fatores de produtividade, assim como de antecipação de metas de expansão e qualidade dos serviços. Os fatores de produtividade poderão ser definidos com base em indicadores de outras empresas do setor.
A entidade de regulação poderá autorizar o prestador de serviços a repassar aos usuários custos e encargos tributários não previstos originalmente e por ele não administrados, nos termos da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. As tarifas devem ser fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões serem tornados públicos com antecedência mínima de trinta dias com relação à sua aplicação.
O Art. 42 da Lei nº 12.305/2010 determina que o Poder Público poderá instituir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender, prioritariamente, às iniciativas de:
I - prevenção e redução da geração de resíduos sólidos no processo produtivo;
II - desenvolvimento de produtos com menores impactos à saúde humana e à qualidade ambiental em seu ciclo de vida;
III - implantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos para cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda;
IV - desenvolvimento de projetos de gestão dos resíduos sólidos de caráter intermunicipal ou, nos termos do inciso I do caput do art. 11, regional;
V - estruturação de sistemas de coleta seletiva e de logística reversa;
VI - descontaminação de áreas contaminadas, incluindo as áreas órfãs;
VII - desenvolvimento de pesquisas voltadas para tecnologias limpas aplicáveis aos resíduos sólidos;
VIII - desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial volta- dos para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos.
Já o Art. 8º da mesma Lei mostra que um dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos são os incentivos fiscais, financeiros e creditícios. Segundo o Art. 14 do Decreto nº 7.217/2010, a remuneração pela prestação de serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos deve levar em conta a adequada destinação dos resíduos coletados, podendo considerar também:
I - nível de renda da população da área atendida;
II - características dos lotes urbanos e áreas neles edificadas;
III - peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio; ou
IV - mecanismos econômicos de incentivo à minimização da geração de re- síduos e à recuperação dos resíduos gerados.
Para o cálculo da taxa parte-se do princípio de que a mesma deve remunerar o capital investido e ainda cobrir todos os custos relativos à prestação do serviço. Para elaboração de metodologia de cálculo dos custos do sistema de manejo dos resíduos domiciliares, pode ser utilizado a metodologia de cálculo de Taxa Interna de Retorno (TIR) e Valor Presente Líquido (VPL).
Para a elaboração deste modelo de cálculo, deverão ser utilizados os seguintes parâmetros:
· Despesas – custo operacional e impostos;
· Investimentos em obras e serviços;
· Receitas – Faturamento, Inadimplência e Arrecadação.
As receitas obtidas são referentes às taxas específicas, como por exemplo, a Taxa de Coleta de Lixo, cobrada juntamente com o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU). Deverão ser consideradas as despesas operacionais relativas à coleta domiciliar (convencional e seletiva), destinação final (reciclagem dos resíduos secos e orgânicos) e disposição final (aterro sanitário).
O Valor Presente Líquido (VPL) é uma função financeira utilizada na análise da viabilidade de um projeto de investimento. É definido como o somatório dos valores presentes dos fluxos estimados de uma aplicação, calculados a partir de uma taxa dada e de seu período de duração.
Os fluxos estimados podem ser positivos ou negativos, de acordo com as entradas ou saídas de caixa. A taxa fornecida à função representa o rendimento esperado. Caso o VPL encontrado no cálculo seja negativo, o retorno do projeto será menor que o investimento inicial, o que sugere que ele seja reprovado. Caso ele seja positivo o valor obtido no projeto pagará o investimento inicial, o que o torna viável.
A TIR é um método utilizado na análise de projetos de investimento. É definida como a taxa de desconto de um investimento que torna seu valor presente líquido nulo, ou seja, que faz com que o projeto pague o investimento inicial quando considerado o valor do dinheiro no tempo.
Com os valores dos projetos, programas, ações e receitas anuais pode-se calcular a taxa per capita (R$/habitantes/mês), conforme o valor que for cobrado pela administração, sendo neste caso recomendada a cobrança juntamente no carnê de IPTU no início do ano para se ter em caixa o valor de investimento neste setor.
O Quadro 47 especifica as principais estruturas e equipamentos que constam no Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, e que devem ser com- putados no cálculo da taxa. Também existem os custos da operacionalização do ser- viço e de programas como o de Educação Ambiental e Comunicação Social.
Quadro 47 – Principais estruturas e equipamentos que constam no sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
| Componentes do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos suscetiveis a implementação de taxa de cobrança |
| Estruturas e Equipamentos | Indicador sobre a Inserção da Taxa |
| Refeitório e vestiário para os colaboradores da limpeza pública | Deve haver no cálculo da taxa um componente destinado a criação em manutenção de pontos de apoio |
| Veículos | A taxa deve também contemplar a questão da manutenção e aquisição de veículos para a coleta |
| Pátio de compostagem | Construção ou manutenção |
| Aterro Sanitário | Taxa de disposição final em aterro sanitário |
| Trituradores para RCC e podas de galhos | Aquisição e manutenção |
| Resíduos Recicláveis | A taxa deverá conter os custos inerentes ao sistema de coleta de resíduos recicláveis, como: aquisição e manutenção do veículo de coleta, local para armazenamento, triagem, esteira, prensa e balança |
| Imóvel residencial | Pode-se aplicar uma taxa base com a coleta convencional e de recicláveis |
| Terreno | Taxa base |
| Comércio e serviços | Taxa base com a coleta convencional e de recicláveis |
| Sepermercados, shoppings, hospitais e industrias | Taxa diferenciada devido a quantidade de resíduo gerado |
Segundo o Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do Governo Federal, do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) e da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República (SEDU/PR), o valor unitário da Taxa de Coleta de Lixo (TCL), pode ser calculado simplesmente dividindo-se o custo total anual da coleta de lixo domiciliar pelo número de domicílios existentes na cidade.
Todavia, esse valor unitário pode ser adequado às peculiaridades dos diferentes bairros da cidade, levando em consideração alguns fatores, tais como os sociais (buscando uma tarifação socialmente justa) e os operacionais. O fator social é função do poder aquisitivo médio dos moradores das diferentes áreas da cidade.
Já o fator operacional reflete o maior ou menor esforço, em pessoal e em equipamentos, empregado na coleta, seja em função do uso a que se destina o imóvel (comercial, residencial etc.), seja por efeito de sua localização ou da necessidade de se realizar maiores investimentos (densidade demográfica, condições topográficas, tipo de pavimentação etc.).
Segundo o manual não se deve negligenciar, no orçamento, parcelas dos custos de transferência, transporte, tratamento e destino final, assim como administração, gerenciamento, sistemas de controle, despesas de capital e desenvolvimento tecnológico vinculados à coleta. Os custos para a coleta de resíduos devem levar em consideração despesas de custeio e capital, incluindo pessoal e encargos sociais, uniformes, auxílio de alimentação e transporte, seguros e impostos.
Os custos dos veículos e equipamentos englobam preço de aquisição, depreciação, reposição, consumo de combustíveis e lubrificantes, pneus, baterias, manutenção e peças de reposição.
O manual infere que, em geral, o custo da coleta, incluindo todos os segmentos operacionais até a disposição final, representa cerca de 50% do custo do sistema de limpeza urbana da cidade. Na coleta, o emprego da mão-de-obra é pouco intensivo, e a incidência dos custos de veículos e equipamentos é muito grande. Na limpeza de logradouros acontece o inverso, com aplicação de mão-de-obra intensiva, abrangendo os garis varredores e menos equipamentos.
O Ministério do Meio Ambiente apresenta também um sistema de cálculo para taxa de resíduos sólidos urbanos em cinco etapas, Sendo elas:
· Levantamento de dados básicos do município, como número de habitantes, domicílios e estabelecimentos e a geração de resíduos per capita;
· Definição do valor presente dos investimentos necessários no horizonte do Plano, como veículos, garagem, PEV, projetos, licenças e obras do aterro sanitário e repasses não onerosos da União ou Estado;
· Definição dos custos operacionais mensais considerando a contratação direta ou indireta (concessão), como combustíveis, mão de obra, EPIs, materiais, energia elétrica, etc;
· Parâmetros para financiamento, sendo: porcentagem de resíduos na coleta convencional; porcentagem de resíduos na coleta seletiva; prazo de pagamento e taxa de financiamento dos investimentos (inclui juros e inflação);
· Cálculo da taxa: calculado através do custo operacional total por tonelada mais o valor do financiamento dividido pelo número de economias.
Contudo, cabe aos gestores do Município identificar a melhor forma para aplicar a taxa inerente aos serviços do sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. Sempre considerando os anseios da população urbana e rural na melhoria do serviço e, que haja um balanço positivo entre a receita e o custo, propiciando desta forma que outros setores da cidade possam receber mais investimentos.
Alcançar esta sustentabilidade financeira no gerenciamento de resíduos sólidos municipal requer muito esforço técnico, político e principalmente a participação popular. Sendo neste último, o fator preponderante, pois, população bem-educada e sinônimo de ambiente limpo e saudável.
a) Modelos de Tarifa
Existem inúmeros sistemas tarifários aplicados por prestadoras de serviço, públicas e privadas, de saneamento no Brasil. A diferença entre eles costuma ser em virtude das condições e abrangência dos sistemas, do poder aquisitivo local, das le- gislações estaduais e municipais diferentes, e das idiossincrasias municipais e regionais.
Contudo, todas elas devem obedecer ao preconizado na Lei nº 14.026/2020, Novo Marco Legal do Saneamento Básico, que dispõe sobre as tarifas e taxas dos serviços públicos de saneamento e dá outras providências.
Para o sistema de limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos, a taxa pode ser cobrada segundo o emanado pela Lei nº 14.026/2020, que atualiza o Marco Legal do Saneamento Básico, que em seu Art. 35 diz que as taxas ou as tarifas decorrentes da prestação de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos poderão considerar, entre outros:
· A destinação ambientalmente adequada dos resíduos coletados;
· O nível de renda da população atendida;
· As características dos lotes e as áreas que podem ser neles edificadas;
· O consumo de água e;
· A frequência de coleta.
A Lei também preconiza que poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários do sistema que não tiverem capacidade suficiente de pagamento para o custo total dos serviços prestados, comumente os municípios adotam o sistema de “taxa social” para sanar tais situações (BRASIL, 2020).
Ademais, a referida legislação também estipula um prazo de 12 meses, a contar da publicação da mesma, para os municípios iniciarem a cobrança pelos serviços, configurando, caso contrário, renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendi- mento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, observadas as penalidades constantes da referida legislação no caso de eventual descumprimento (BRASIL, 2020).
A seguir, demonstra-se um modelo básico hipotético para estabelecer uma taxa que garanta a sustentabilidade financeira dos serviços e ao mesmo tempo seja justa quanto à responsabilidade de pagamento na mesma proporção de uso do sistema, de acordo com o preconizado no novo marco legal do saneamento básico, Lei Federal nº 14.026/2020.
A taxa consiste na aplicação de uma fórmula com um valor fixo (VF) (determinado pelo custo) e outra variável, levando-se em consideração parâmetros tais como: Tipo de Economia, Quantidade de Economias, Consumo de Água e Frequência de Coleta de Resíduos. O custo total (CT) e o número de economias (NEC – AG003) foi retirado também dos dados do SNIS/SINISA, referentes a 2021. O custo total foi obtido dividindo-se o gasto total anual com o sistema, sendo R$ 2.391.950,86 dividido por 12 meses, obtendo-se assim o custo mensal de R$ 199.329,23.
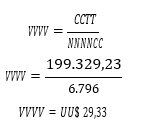
TAXA = VF.FC.CI.CA
Fatores:
Quanto a frequência da coleta (FC):
·Diária = 2,0
· Alternada (3x semana) = 1,0
Quanto à classificação do imóvel (CI):
· Social = 0,25
· Residencial = 0,7
· Comercial = 1,2
· Industrial = 5,0
· Público = 0,5
· Ambulantes = 0,5
· Feira Livre = 0,8
Quanto ao Consumo de Água (CA) – RESIDENCIAL, PÚBLICA E SOCIAL:
· 1ª Faixa - 0 a 10 m³ = 0,5
· 2ª Faixa - 11 a 15 m³ = 0,60
· 3ª Faixa - 16 a 30 m³ = 1,10
· 4ª Faixa - 31 a 45 m³ = 1,80
· 5ª Faixa - 46 a 60 m³ = 2,50
· 6ª Faixa - 61 a 999 m³ = 4,00
Quanto ao Consumo de Água (CA) – COMERCIAL E INDUSTRIAL:
· 1ª Faixa - 0 a 10 m³ = 0,7
· 2ª Faixa - 11 a 20 m³ = 1,6
· 3ª Faixa - 21 a 30 m³ = 3,0
· 4ª Faixa - 31 a 999 m³ = 3,5
Exemplo prático para uma economia de imóvel residencial que recebe coleta de lixo alternada e está na 1ª Faixa de Consumo de Água:
TAXA = VF.FC.CI.CA
TAXA = 14,29 x 1,0 x 0,7 x 0,5 TAXA = R$ 5,00
Para um imóvel comercial, com coleta diária, 1ª faixa de consumo, o cálculo resulta em:
TAXA = VF.FC.CI.CA
TAXA = 29,33 x 2,0 x 1,2 x 0,7 TAXA = R$ 49,27
Agora, um exemplo para uma indústria, com coleta diária, na 2ª faixa de consumo, a conta seria:
TAXA = VF.FC.CI.CA
TAXA = 29,33 x 2,0 x 5,0 x 1,6 TAXA = R$ 469,28
O modelo acima é apenas um exemplo a ser considerado e deve ser ajustado aos fatores específicos do Município de Iúna e discutido com a sociedade para aprimoramento. Ainda, a taxa revisada pode ser implementada progressivamente, ao longo de 5 ou 6 anos, para não impactar diretamente a estabilidade financeira dos usuários. Também devem ser previstas taxas sociais para aqueles usuários que não tenham condições financeiras ou encontrem-se em situação de vulnerabilidade que os impeçam de pagar o valor total, montante a ser suprido pelos fatores de conversão supracitados de forma que o sistema de cobrança seja ao mesmo tempo justo e economicamente viável.
9.2.12 Medidas de Redução, Reutilização, Coleta Seletiva e Reciclagem
Em 1999, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) lançou a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), com o desafio de transformar o conceito de preservação do meio ambiente em práticas institucionalizadas, em todas as esferas da estrutura administrativa do Estado, com atividades que são desenvolvidas integradas em diversas áreas da instituição, buscando a qualidade de vida e a preservação do meio ambiente.
O programa A3P é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e tem como objetivo estimular as instituições públicas do país a implementarem práticas de sustentabilidade em seus órgãos, otimizar e modernizar a gestão pública, permitindo a construção de uma administração mais eficiente e sustentável.
O Programa A3P se destina aos órgãos públicos das três esferas de governo: federal, estadual e municipal; e aos três poderes da República: executivo, legislativo e judiciário. A formalização da parceria entre o MMA e o órgão público se dá pela assinatura do Termo de Adesão à A3P, que possui vigência de cinco anos. Cerca de 600 instituições públicas já realizaram adesão ao programa. O Programa A3P é coordenado pelo Departamento de Educação e Cidadania Ambiental (DEC), da Secretaria de Biodiversidade (SBio), do Ministério do Meio Ambiente (MMA).
O Programa A3P atua sobre seis áreas, os chamados Eixos Temáticos. Eles revelam a preocupação do MMA com os principais aspectos associados à Administração Pública. Os Eixos Temáticos:
· Uso racional dos recursos naturais e bens públicos;
· Gestão adequada dos resíduos gerados;
· Qualidade de vida no ambiente de trabalho;
· Compras públicas sustentáveis;
· Construções sustentáveis;
· Sensibilização e capacitação dos servidores.
A adoção aos princípios da Agenda Ambiental significa uma mudança de cultura institucional, que tem como consequência a redução nos gastos com energia elétrica, material de consumo e água, a destinação adequada dos resíduos gerados, a priorização de compras públicas calcadas por critérios de sustentabilidade, a sensibilização e conscientização dos servidores para questões ambientais, dentre outros.
A implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) é um processo que envolve diversas etapas cruciais para o sucesso das iniciativas de sustentabilidade. Abaixo, descrevemos detalhadamente as cinco principais etapas a serem seguidas pelas instituições que buscam adotar práticas ambientalmente responsáveis:
·1° Passo - Criar a Comissão da A3P: a criação de uma Comissão Gestora é o ponto de partida para a implementação da A3P. Essa comissão, composta por representantes de todas as áreas da instituição, é encarregada de sensibilizar os gestores sobre a importância do programa, realizar o planejamento, a implementação e o monitoramento das ações. Sua formalização por meio de instrumento legal e a participação de representantes de cada setor garantem uma abordagem abrangente;
·2º Passo – Diagnóstico: o diagnóstico institucional é crucial para direcionar as medidas mais adequadas às necessidades específicas da instituição. Esse levantamento abrange desde o modelo de consumo até a estrutura física da instituição, incluindo aspectos legais, sociais, hábitos dos envolvidos, e direciona a logística da implementação do projeto;
·3º Passo - Projetos e Atividades: com base no diagnóstico, o próximo passo é a elaboração de um Programa de Gestão Socioambiental. Esse programa documentado estabelece objetivos, ações e metas a serem alcançadas. As ações devem considerar oportunidades e pontos críticos identificados, com prazos definidos e recursos alocados. Objetivos específicos e metas mensuráveis são fundamentais para avaliação futura;
·4º Passo - Mobilização e Sensibilização: a mobilização e sensibilização são essenciais para a efetiva implantação da A3P. A Comissão deve elaborar um Plano de Sensibilização, incluindo campanhas, cursos e estratégias de comunicação direcionadas a diferentes setores. A capacitação é fundamental para o desenvolvimento de competências relacionadas à gestão socioambiental, valorizando aqueles que buscam a sustentabilidade;
·5º Passo - Avaliação e Monitoramento: a Comissão deve realizar avaliações e monitoramento periódicos para fornecer informações sobre a eficiência e eficácia do projeto. Indicadores bem definidos são ferramentas essenciais para mensurar avanços, identificar falhas e priorizar ações. Esses indicadores também desempenham papel crucial na formulação, monitoramento e avaliação de programas e ações implementados.
A implementação da A3P, seguindo essas etapas, não apenas contribui para práticas ambientalmente responsáveis, mas também promove uma gestão pública mais eficiente e alinhada com princípios sustentáveis.
Resíduos Recicláveis
Abaixo seguem as metas referente aos resíduos recicláveis visando a diminuição de rejeitos encaminhados para aterros:
·Diagnóstico da Situação Atual: nesta fase do projeto são levantadas todas questões referentes a reciclagem de resíduos sólidos no município, como, programas de educação ambiental voltadas a reciclagem, elaboração de pesquisa junto a comunidade local sobre a aceitação ou não do programa de reciclagem, presença de comércio de recicláveis no município ou na região (compradores de sucata ferrosa, madeiras, papel e papelão, plásticos, vidros e entre outros), existência de aterros sanitários, aterros controlados ou lixões, catadores informais, atravessadores informais, fontes de financiamentos e tecnologias disponíveis;
·Fase de Planejamento: a fase do planejamento envolve a adesão da população no projeto, os custos envolvidos, o cadastramento de catadores e atravessadores in- formais, data de início, locais onde a coleta será realizada, dimensionamento de recursos físicos e humanos, possibilidade de parcerias com municípios vizinhos e possíveis compradores de materiais recicláveis;
·Fase de Implantação: para a implantação do projeto é necessária uma ampla divulgação no município, determinação dos dias e horários da coleta, implantação de recipientes coletores próprios de materiais recicláveis, treinamento dos colaboradores envolvidos, implantação de centros de triagem com todos os equipamentos e normas necessárias (local coberto, piso impermeável, sinalizações, balanças, prensas e etc.), estruturação humana e física da gestão e acompanhamento de assistência social;
· Operação e Monitoramento: a operação e o monitoramento consistem no acompanhamento das entradas e saídas dos materiais, evolução dos preços e custos, acompanhamentos sociais e econômicos dos colaboradores envolvidos e avaliação dos ganhos ambientais.
Através dos procedimentos citados acima é possível garantir através de uma coleta seletiva eficiente o bom funcionamento do projeto em questão. Ressalta-se, que etapas complementares poderão ser adicionadas e outras formas de gestão também poderão ser acrescentadas.
a) Resíduos Orgânicos
A gestão eficiente de resíduos orgânicos, especialmente por meio da compos- tagem, assume um papel de destaque no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). A correta destinação e o tratamento desse tipo de resíduo contribuem dire- tamente para a redução do volume de materiais enviados ao transbordo, gerando economia para o município. Além disso, a implementação de programas que incentivam a agricultura familiar e a criação de hortas domésticas permite que o composto resultante seja utilizado de maneira sustentável em jardins e hortas, promovendo a fertilização natural do solo e o fechamento do ciclo de reaproveitamento de resíduos.
Ressaltando que os principais benefícios advindos da compostagem são a redução da quantidade de resíduos aterrados, a redução do potencial de geração de gases e da carga orgânica dos líquidos lixiviados nos aterros, a eliminação dos patógenos e das sementes de ervas daninhas e a produção de um composto orgânico que melhora a estrutura do solo, diminuindo assim, os processos erosivos e aumentando a eficiência de absorção dos fertilizantes minerais.
Mas, toda esta gestão voltada aos resíduos orgânicos não se aplica apenas aos restos de alimentos, produzidos ou pelas residências ou pelos grandes geradores. Esta gestão deve também focar os resíduos oriundos da poda e da capina.
Pois, a poda e a capina geram grandes quantidades de massa verde, que sobrecarregam também o aterro sanitário. Sendo assim, abaixo seguem as metas relacionadas aos resíduos orgânicos:
· Educação Ambiental mostrando a população o que é o resíduo orgânico e a sua importância;
·Mapear os grandes geradores;
·Construir Centros de Tratamento de Resíduos Orgânicos (CTRO);
·Distribuir sacos plásticos especiais para a população acondicionar este resíduo;
·Criar mecanismos de controle.
9.2.13 Educação Ambiental
A gestão de resíduos sólidos urbanos se destaca como um componente singular no contexto do saneamento, pois sua eficácia está intrinsecamente ligada à participação ativa da população. Nesse sentido, é de suma importância sensibilizar os diversos geradores de resíduos no município acerca do papel crucial que desempenham na gestão desses materiais, bem como dos impactos que suas ações e escolhas exercem sobre o meio ambiente, o saneamento e a sociedade.
A Educação Ambiental voltada para os Resíduos Sólidos tem como objetivo primordial fomentar a compreensão e sensibilização em relação à hierarquia estabelecida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), conforme estipulado na Lei nº 12.305/2010. Essa hierarquia prioriza a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento adequado dos resíduos sólidos, além da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
Consoante o Artigo 5º da Lei nº 12.305/10, a Política Nacional de Resíduos Sólidos se insere na Política Nacional do Meio Ambiente e se integra à Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), regulamentada pela Lei nº 9.795/99. Dessa forma, a educação ambiental emerge como um dos principais instrumentos da PNRS, demandando uma ampla divulgação no município por meio de programas e iniciativas que promovam a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem de resíduos sólidos e sua disposição adequada.
Os princípios fundamentais da educação ambiental no país, conforme estabelecidos no Artigo 4º da Política Nacional de Educação Ambiental, incluem:
“I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;
II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade;
III - o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade;
IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais;
V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo;
VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo;
VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais;”
E traça seus objetivos fundamentais no Art. 5º:
“I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;
II - a garantia de democratização das informações ambientais;
III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social;
IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania;
V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade;
VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia;
VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade.”.
a) Espaços Formais de Ensino
A educação ambiental no ensino formal refere-se àquela incorporada nos currículos das instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas. Essa abordagem educacional deve ser concebida como uma prática integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal.
A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) deixa claro que a Educação Ambiental não deve ser ministrada como uma disciplina isolada na grade curricular, mas sim permeando todas as outras matérias, adotando uma perspectiva holística do funcionamento do meio ambiente.
Para efetivar a implementação da educação ambiental conforme preconizado pela Política Nacional, torna-se fundamental capacitar os servidores e colaboradores das instituições de ensino formais, capacitando-os a integrar a dimensão ambiental em sua prática educativa diária. Embora a temática ambiental já seja obrigatória em todas as disciplinas dos cursos de formação de educadores, é recomendável que sejam desenvolvidos cursos de nivelamento e atualização de conhecimentos, como mencionado acima, direcionados aos professores da rede pública.
Os programas, projetos e ações destinados aos ambientes de ensino formais, como orientados pela PNEA, devem estar em sintonia com as instituições de ensino e ser desenvolvidos de maneira colaborativa, envolvendo seus gestores e docentes na construção dessas iniciativas.
No entanto, dado que a componente ambiental já é uma exigência legal no ensino formal, a administração municipal deve garantir a fiscalização da sua aplicação e, indiretamente, estimulá-la por meio de avaliações da abordagem ambiental, concursos e eventos culturais realizados nas escolas.
b) Espaços Não Formais de Ensino
A educação ambiental não formal compreende as iniciativas e atividades educativas direcionadas a sensibilizar e conscientizar a comunidade acerca das questões ambientais, bem como a promover seu envolvimento na preservação da qualidade do meio ambiente, ocorrendo fora dos contextos formais de ensino previamente mencionados. De acordo com a PNEA, é incumbência dos órgãos públicos nos âmbitos federal, estadual e municipal promover o seguinte:
“I - a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em espa- ços nobres, de programas e campanhas educativas, e de informações acerca de temas relacionados ao meio ambiente;
II - a ampla participação da escola, da universidade e de organizações não- governamentais na formulação e execução de programas e atividades vinculadas à educação ambiental não-formal;
III - a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programas de educação ambiental em parceria com a escola, a universidade e as organizações não-governamentais;
IV - a sensibilização da sociedade para a importância das unidades de conservação;
V - a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às unidades de conservação;
VI - a sensibilização ambiental dos agricultores;
VII - o ecoturismo.”
É imprescindível estabelecer uma Política Municipal de Educação Ambiental que regulamente e promova ações de educação ambiental no âmbito do município, alinhando-se com as políticas federal e estadual relacionadas ao tema. Além disso, é fundamental utilizar os recursos culturais e naturais disponíveis na cidade para desenvolver iniciativas que fortaleçam o sentimento de pertencimento e a corresponsabilidade da comunidade em relação ao meio ambiente e ao seu entorno. A abordagem da educação ambiental não formal deve ser construída de forma participativa e colaborativa, considerando as necessidades e expectativas das populações que são o público-alvo dessas ações.
Este plano apresenta projetos de educação ambiental não formal que serão implementados em relação a cada tipo de resíduo e fase de manejo, visando fornecer conceitos e informações à população sobre a gestão dos resíduos sólidos e sua relevância na manutenção da sociedade, dos ecossistemas e dos serviços ambientais que eles prestam.
Outras atividades de educação ambiental não formal, que não estejam relacionadas aos resíduos sólidos, devem ser executadas pelo departamento de educação do município e não estão abrangidas por este Plano.
9.2.14 Descrição das Formas e dos Limites da Participação do Poder Público Local na Gestão dos Resíduos Sólidos
O Artigo 7º da Lei nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, relata que o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos é composto pelas seguintes atividades:
“I – de coleta, transbordo e transporte dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I do caput do art. 3o desta Lei;
II - de triagem para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem, e de disposição final dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I do caput do art. 3o desta Lei;
III - de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana.”
Desta forma, como a limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos são serviços públicos de interesse social, o município é o responsável pela organização e prestação destes serviços, conforme determina o Artigo 30 da Constituição Federal de 1988. Sendo, de acordo com o respectivo Artigo, compete aos municípios:
(...) “V - Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial.” (...)
A administração municipal também deve estabelecer políticas e regulamentos específicos para pequenos, médios e grandes geradores de resíduos, bem como para geradores de resíduos perigosos. Em relação aos pequenos geradores, a Prefeitura pode buscar parcerias para garantir o descarte adequado de lâmpadas queimadas, uma vez que, em muitos casos, empresas especializadas cobram por esse serviço.
No caso dos pneus inservíveis, resíduos eletrônicos e embalagens de óleo lubrificante veicular, existem empresas no Brasil que realizam o descarte adequado desses resíduos sem custos para a Administração Pública, sendo necessário apenas que a Prefeitura colete uma quantidade mínima, armazene adequadamente e comunique a empresa para a coleta.
As Figura 163, Figura 164 e Figura 165 mostram algumas formas de gestão para o manejo dos resíduos sólidos urbanos.
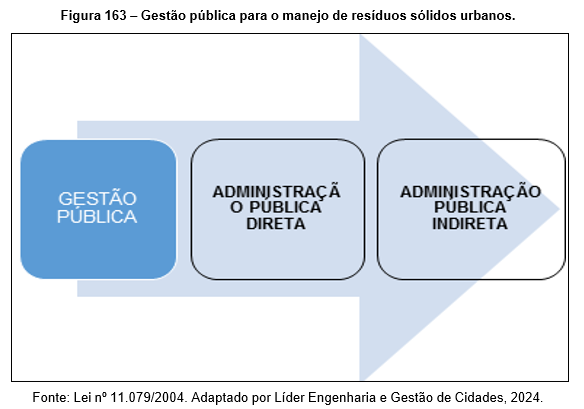
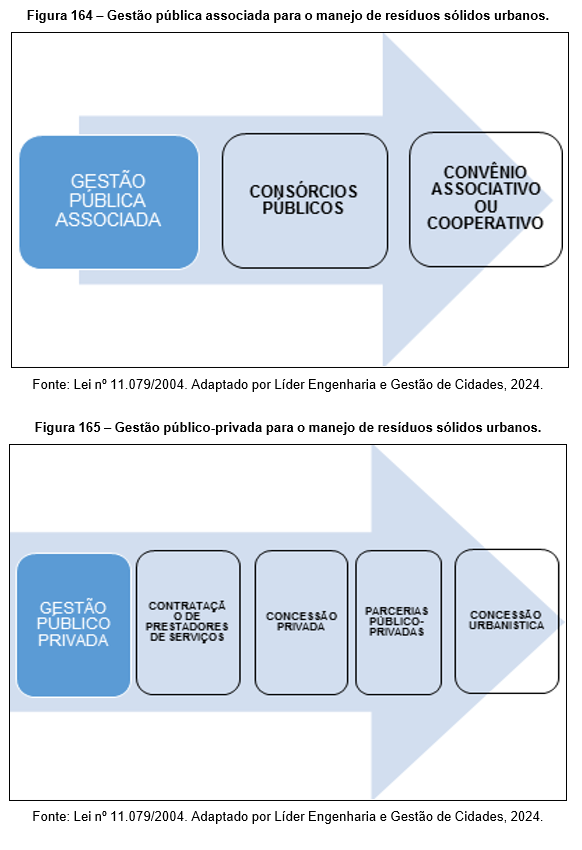
O município tem a opção de escolher entre diferentes modelos de gestão para o manejo de resíduos sólidos, podendo inclusive associar duas ou mais formas, dependendo da viabilidade econômica, financeira e social. Dada a complexidade das atividades correlacionadas envolvidas na gestão de resíduos sólidos urbanos, pode ser vantajoso para o município terceirizar parte do serviço de manejo, enquanto mantém a responsabilidade de fiscalizar todo o sistema de gestão.
Independentemente da opção escolhida, é recomendável realizar análises técnicas, financeiras, políticas e sociais para garantir a qualidade na execução e atendimento das necessidades da população no serviço de manejo dos resíduos sólidos urbanos.
Para definir as modalidades de gestão que atendam às expectativas do município, são necessários estudos mais aprofundados, principalmente nos segmentos mencionados anteriormente. Além da gestão consorciada ou compartilhada de resíduos sólidos urbanos, outra modalidade é a parceria público-privada (PPP).
A implementação de uma PPP requer a observância de procedimentos estabelecidos pela Lei nº 11.079/2004, que normatiza licitações e contratações de parcerias público-privadas no âmbito da Administração Pública. Em resumo, as PPPs são contratos de concessão nos quais o parceiro privado realiza investimentos em infraestrutura para a prestação de um serviço, cuja remuneração ocorre por meio de tarifas dos usuários, subsídio público ou pagamento integral pela Administração Pública.
As PPPs possibilitam que a gestão eficiente da iniciativa privada e seus recur- sos sejam direcionados para os serviços públicos, otimizando o uso dos recursos públicos. Instrumentos da Lei nº 11.079/2004, como os Artigos 5º, 11, 12 e 13, proporcionam flexibilidade no processo licitatório, mecanismos de resolução de disputas, re- partição de riscos, garantias de execução, e compartilhamento dos ganhos econômicos do parceiro privado.
Esses instrumentos evidenciam que a modalidade de PPP é favorável para a prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos para o Muni- cípio de Iúna. Além disso, as PPPs oferecem à sociedade uma execução mais eficiente dos serviços públicos, com maior transparência em suas aplicações, conforme estipulado pela Lei nº 11.079/2004. Independentemente do modelo de gestão adotado, é crucial atentar para todos os trâmites legais, assegurando a regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, com sustentabilidade operacional e financeira.
9.2.15 Meios a Serem Utilizados para o Controle e a Fiscalização, no Âmbito Local, da Implementação e Operacionalização do PMGIRS e dos Sistemas de Logística Reversa
Esta determinação é referente ao Artigo 20 da Lei nº 12.305/2010, de acordo com o respectivo Artigo, estão sujeitos à elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos:
I - Geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas “e”, “f”, “g” e “k” do inciso I do Artigo 13, sendo eles:
e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico;
f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;
g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou em Normas estabelecidas pelos Órgãos do SISNAMA – Sistema Nacional de Meio Ambiente e do SNVS – Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;
k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios;
II - Estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:
a) gerem resíduos perigosos;
b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo Poder Público Municipal;
III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA;
IV - Os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea “j” (as instalações referidas na alínea “j” são: os resíduos de serviços de transportes, originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira), do inciso I do Artigo 13 e, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e, se couber, do SNVS, as empre- sas de transporte;
V - Os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo Órgão competente do SISNAMA, do SNVS ou do SUASA – Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.
A Prefeitura poderá também, realizar inventários anuais sobre os maiores geradores de resíduos sólidos do município, a fim de conhecer melhor os tipos de resíduos gerados e as suas quantidades.
Estes inventários pode ser uma exigência da própria Prefeitura, obrigando o empreendimento a fornecer anualmente ou mensalmente, estas informações. O Artigo 21 da Lei nº 12.305/2010, determina o conteúdo mínimo para a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, sendo eles:
I - Descrição do empreendimento ou atividade;
II - Diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados;
III - Observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do SUASA e, se houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos:
a) Explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos;
b) Definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento de resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador;
IV - Identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores;
V - Ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto ou acidentes;
VI - Metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos e, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do SUASA, à reutilização e reciclagem;
VII - Se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, na forma do Artigo 31;
VIII - Medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos;
IX - Periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da respectiva licença de operação a cargo dos órgãos do SISNAMA.
As informações contidas no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos poderão ser complementadas caso o Órgão responsável, entenda como necessário. O Órgão responsável poderá exigir também que o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, seja um critério utilizado nos processos de Licenciamento Ambiental. Com relatórios de acompanhamentos e monitoramentos da implementação das ações e metas pré-estabelecidas.
No caso de atividades que já se encontram em funcionamento, estes, deverão apresentar o Plano ao Órgão competente, no momento da renovação do Alvará de Funcionamento, da Licença Ambiental de Operação ou, do Atestado de Funciona- mento.
Entretanto, o Órgão responsável pela fiscalização da elaboração e aplicação do Plano, deverá também orientar sobre os procedimentos necessários para a elaboração e implantação do mesmo e, da aplicação das penalidades incluídas na Lei nº 12.305/2010 – PNRS.
9.2.16 Ações Preventivas e Corretivas a serem praticadas, incluindo Programa de Monitoramento
Conforme a Lei Federal nº 12.305/2010, todos os geradores de resíduos sólidos do Município de Iúna deverão ter como objetivos a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
Os resíduos orgânicos devem ser separados dos rejeitos diretamente na origem, de maneira a permitir a reciclagem. Quanto ao grande gerador, empresas de construção civil e gerador de resíduos perigosos, estes são integralmente responsáveis pelos resíduos decorrentes das suas atividades, assim como, por elaborar e apresentar o seu respectivo Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, como já relatado em capítulos anteriores.
A coleta de materiais recicláveis é um importante instrumento na busca de soluções que visem a redução dos resíduos sólidos urbanos, assim, deve-se criar mecanismos para que 100% da população seja atendida.
Manter os serviços de limpeza pública referente a cobertura do serviço de varrição e estabelecendo cronograma para os demais serviços (poda, capina, roçagem, coleta de resíduos volumosos e limpeza das bocas-de-lobo e galerias pluviais).
Não existem cadastros específicos para o atendimento deste serviço pela Prefeitura Municipal. Deve então ser criado um cronograma elaborado através de um estudo de viabilidade, necessidade e urgência para a realização dos serviços de limpeza pública.
Deve-se destacar ainda que existem pontos de disposição irregular de resíduos, como, resíduos da construção civil (RCC), resíduos recicláveis, resíduos volumosos e que não se enquadram na categoria de Construção Civil, sendo de responsabilidade do poder público fiscalizar e multar os responsáveis por estas disposições irregulares e removerem estes resíduos.
9.2.17 Ações de Emergência e Contingência para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos
As ações de emergência e contingência para o sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos são de extrema importância para lidar com situações imprevistas, como desastres naturais, acidentes ambientais ou eventos que possam afetar a gestão dos resíduos.
Essas ações têm como objetivo principal garantir a segurança pública, minimizar impactos ambientais negativos e assegurar a continuidade dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos, mesmo diante de circunstâncias adversas.
Para isso, é essencial desenvolver planos de emergência e contingência, que estabeleçam procedimentos claros e eficientes para lidar com diferentes cenários de crise. Esses planos devem abordar questões como a mobilização rápida de recursos humanos e materiais, a organização de equipes de resposta, a comunicação e coordenação com outras entidades envolvidas, a identificação de locais adequados para descarte de resíduos emergenciais, entre outros aspectos relevantes.
Além disso, é fundamental promover treinamentos e capacitações periódicas para os profissionais envolvidos, a fim de prepará-los para atuar de forma efetiva durante situações de emergência. Também é importante estabelecer parcerias com órgãos públicos, empresas privadas e comunidades locais, visando uma resposta integrada e eficiente diante de eventuais crises.
Dessa forma, as ações de emergência e contingência garantem a resiliência do sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, contribuindo para a proteção do meio ambiente, a preservação da saúde pública e a manutenção da qualidade de vida nas cidades.
A paralisação da coleta de resíduos e limpeza pública, bem como ineficiência da coleta seletiva e inexistência de sistema de compostagem poderão gerar incômodos à população e comprometimento da saúde pública e ambiental.
A limpeza das vias através da varrição trata-se de serviço primordial para a manutenção de uma cidade limpa e salubre. A paralisação dos serviços de destinação de resíduos ao aterro interfere no manejo destes resíduos, provocando mau cheiro, formação excessiva de chorume, aparecimento de vetores transmissores de doenças, comprometendo a saúde pública e a qualidade ambiental. Diante disso, objetivou-se a adoção de medidas de contingência para casos de eventos emergenciais de parali- sação dos serviços relacionados à limpeza pública, coleta e destinação de resíduos. O Quadro 48 mostra as ocorrências, a origem das mesmas e as ações para sua mitigação.
Quadro 48 – Ações de emergências e contingências – Resíduos Sólidos.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 3 | RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA |
| EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS |
| OCORRÊNCIA | ORIGEM | AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA |
| Paralisação dos serviços de varrição | Greve dos funcionários da empresa contratada para os serviços de varrição ou outro fato administrativo (rescisão ou rompimento de contrato, processo licitatório, etc.) | Realizar campanha de comunicação visando mobilizar a sociedade para manter a cidade limpa no caso de paralisação da varrição pública. |
| Contratar empresa especializada em caráter de emergência para varrição e coleta destes resíduos. | ||
| Negociação da prefeitura/empresa com os trabalhadores. | ||
| Cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, contratuais e regulatórias. | ||
| Paralisação dos serviços de coleta de resíduos domiciliares | Greve dos funcionários da empresa contratada para os serviços de coleta de resíduos domiciliares e da Prefeitura Municipal ou outro fato administrativo | Acionar funcionários e veículos da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos, para efetuarem a coleta de resíduos em locais críticos, bem como do entorno de escolas, hospitais, terminais urbanos de ônibus, lixeiras públicas, etc. |
| Realizar campanha de comunicação visando mobilizar a sociedade para manter a cidade limpa no caso de paralisação da coleta de resíduos. | ||
| Contratar empresas especializadas em caráter de emergência para coleta de resíduos. | ||
| Negociação da Prefeitura/empresa com os trabalhadores. | ||
| Cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, contratuais e regulatórias. | ||
| Paralisação dos serviços de segregação de resíduos recicláveis e/ou coleta seletiva | Greve ou problemas operacionais da Cooperativa responsável pela coleta e triagem dos resíduos recicláveis | Acionar funcionários da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos para efetuarem estes serviços temporariamente. |
| Acionar os caminhões Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos para execução dos serviços de coleta seletiva. | ||
| Realizar campanha de comunicação visando mobilizar a sociedade para manter a cidade limpa no caso de paralisação da coleta seletiva. | ||
| Celebrar contratação emergencial de empresa especializada para a coleta e comercialização dos resíduos recicláveis. | ||
| Negociação da prefeitura/empresa com os trabalhadores. | ||
| Cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, contratuais e regulatórias. | ||
| Paralisação dos serviços de coleta e destinação dos resíduos de saúde/ hospitalares | Greve ou problemas operacionais da empresa responsável pela coleta e destinação dos resíduos de saúde/hospitalares | Acionar funcionários da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos para efetuarem estes serviços temporariamente. |
| Acionar os caminhões da Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos para execução dos serviços de coleta dos resíduos de saúde/ hospitalares, bem como o transporte dos resíduos de tratamento. | ||
| Negociação da prefeitura/empresa com os trabalhadores. | ||
| Cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, contratuais e regulatórias. | ||
| Paralisação total dos serviços realizados no aterro | Greve ou problemas operacionais pelo manejo do aterro sanitário. | Encaminhar os resíduos orgânicos para aterro alternativo (aterro particular ou de cidade vizinha), negociação da prefeitura/empresa com os trabalhadores. |
| Cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, contratuais e regulatórias. | ||
| Explosão, incêndio, vazamentos tóxicos no aterro sanitário. | Acionar os caminhões da Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos para execução dos serviços de transporte dos resíduos até o local alternativo. | |
| Ações de remediação do problema e contenção da poluição ambiental. Reparo mediato. | ||
| Cumprimento de todas as obrigações operacionais, normativas, contratuais e regulatórias. | ||
| Paralisação parcial dos serviços realizados no aterro | Ruptura de taludes/células | Evacuar a área do aterro sanitário cumprindo os procedimentos internos de segurança; acionar o órgão ou setor responsável pela administração do equipamento, bem como os bombeiros. |
| Cumprimento de todas as obrigações operacionais, normativas, contratuais e regulatórias. | ||
| Vazamento de Chorume | Excesso de chuvas, vazamento de chorume ou problemas operacionais | Promover a contenção e remoção dos resíduos através de caminhão limpa fossa e encaminhar estes para a estação de tratamento de efluentes mais próxima do aterro. |
| Procedimentos de remediação emergenciais da área. | ||
| Monitoramento constante/cumprimento de todas as obrigações operacionais, normativas, contratuais e regulatórias. |
9.2.18 Identificação de Passivos Ambientais e/ou Locais com Risco de Contaminação por Resíduos Sólidos
A manutenção de práticas inadequadas, seja na gestão e/ou no gerenciamento dos resíduos sólidos, pode ocasionar danos ambientais, sociais e econômicos significativos a população envolvida, uma vez que se trata de uma das vertentes do saneamento básico cujos serviços refletem diretamente na qualidade ambiental e saúde da população.
Notadamente um exemplo de grande impacto no trato inadequado destes mecanismos que compõe o manejo dos RS diz respeito à disposição irregular, podendo ocasionar a proliferação de vetores de forma a contribuir para a disseminação de do- enças, o que consequentemente aumentaria os custos ao poder público para tratamento destas. Além da saúde pública, os prejuízos ao meio ambiente podem ser graves, resultando na contaminação de mananciais, solo, ar, e a geração de passivos ambientais, os quais necessariamente deverão ser submetidos a ações pautadas em aspectos técnicos para remediar os prejuízos causados.
Neste contexto, a Figura 166 apresenta esquematicamente alguns dos riscos relacionados a gestão e/ou gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos, em especial no que tange o acondicionamento e à disposição irregular.
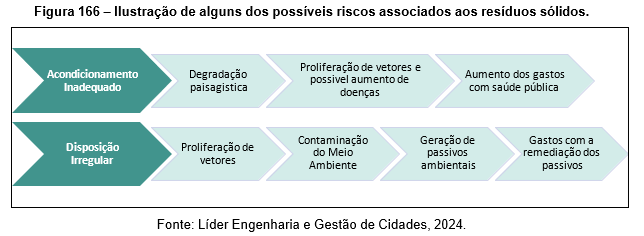
Os pontos de descarte irregular de resíduos sólidos representam um problema recorrente em Iúna, uma vez que diversos destes locais são crônicos, ou seja, habitualmente os munícipes depositam resíduos nestes locais de forma inadequada, muitas vezes em locais próximos a corpos hídricos e outras áreas com risco de contaminação. Esta situação é recorrente para as diferentes tipologias de resíduos, com destaque para o entulho e resíduos volumosos. Alguns casos de descarte irregular foram apresentados no diagnóstico deste plano.
9.2.19 Objetivos, Metas, Programas, Projetos e Ações para o Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos
Os objetivos e metas para atingir tanto a universalização como a qualidade dos serviços relacionados ao sistema de limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos de Iúna foram elencados a seguir, de acordo com o objetivo e a tipologia de resíduo abordada.
·Objetivo 1 – Educação Ambiental;
·Objetivo 2 – Manutenção e Aprimoramento da Coleta Convencional;
·Objetivo 3 – Gestão de Resíduos Orgânicos;
·Objetivo 4 – Ampliar e Manter a Coleta Seletiva;
·Objetivo 5 – Adequar os Serviços de Limpeza Pública;
·Objetivo 6 – Gestão dos Resíduos da Construção Civil;
·Objetivo 7 – Fomentar a responsabilidade compartilhada sobre a Gestão dos Resíduos da Logística Reversa;
·Objetivo 8 – Gestão dos Resíduos de Serviços de Saúde.
Seguem tabelas síntese que foram elaboradas para melhor visualização das metas para cada objetivo. Nestas tabelas, a visualização das propostas pode ser observada tanto sob ótica macro como micro de análise, fluindo numa sequência lógica da fundamentação do objetivo. Também contemplam as metas para atingi-lo, nos diferentes prazos de projeto, assim como os programas, projetos, ações necessárias e os métodos de acompanhamento que indicarão o êxito das tarefas.
Tabela 68 – Síntese do objetivo 1.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 3 | RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA |
| OBJETIVO | 1 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL |
| FUNDAMENTAÇÃO | A base para qualquer projeto na área de gerenciamento de resíduos sólidos e limpeza pública é a Educação Ambiental, quanto mais consciente o cidadão, melhor será o local onde ele vive. Isto independe de sua condição financeira, da sua cor, da sua raça ou do seu credo. População bem educada é sinônimo de rios e córregos limpos, separação de seus resíduos dentro da sua casa, da sua escola, do seu trabalho ou do seu local de lazer, ruas e avenidas limpas e principalmente, cobrar uns dos outros e do Poder Público para manter locais limpos e arborizados. |
| MÉTODO DE ACOMPANHAMENTO (INDICADOR) | Número de ações realizadas, número de pessoas impactadas, entrevistas com garis sobre a diminuição ou não de resíduos em vias públicas, número de terrenos baldios com acúmulo de resíduos, controle de recebimento de embalagens de agrotóxicos, qualidade da água de rios e córregos da região e controle de resíduos da logística reversa e RSS. |
| METAS |
| IMEDIATO – ATÉ 3 ANOS | CURTO PRAZO – ENTRE 4 E 8 ANOS | MÉDIO PRAZO – ENTRE 9 E 12 ANOS | LONGO PRAZO – ENTRE 13 E 20 ANOS |
| -Manter os Programas de Educação Ambiental;- Implementar novos programas de educação ambiental abrangendo cada tipologia de resíduo; | - Manter os Programas de Educação Ambiental; | - Manter os Programas de Educação Ambiental; | - Manter os Programas de Educação Ambiental. |
| PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES (R$) |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PRAZOS E CUSTOS | POSSÍVEIS FONTES | MEMÓRIA DE CÁLCULO |
| IMEDIATO | CURTO | MÉDIO | LONGO | ||||
| 3.1.1 | Implementar programa de Educação Ambiental junto aos comerciantes e aos produtores rurais referente a embalagens de agrotóxicos e produtos veterinários. | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 80.000,00 | RP – FPU – FPR | 1º ano 20.000 + 10 mil/ano até o 20º ano. |
| 3.1.2 | Implementar projeto de Educação Ambiental junto aos geradores para melhorar o controle e garantir a correta destinação dos resíduos da logística reversa. | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 80.000,00 | RP – FPU – FPR | 1º ano 20.000 + 10 mil/ano até o 20º ano. |
| 3.1.3 | Implementar projeto de educação ambiental junto aos geradores de resíduos de construção civil para melhorar a segregação na fonte. | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 80.000,00 | RP – FPU – FPR | 1º ano 20.000 + 10 mil/ano até o 20º ano. |
| 3.1.4 | Implantar projeto de educação ambiental com o objetivo de melhorar a segregação de RSS na fonte, sua identificação e acondicionamento temporário. | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 80.000,00 | RP – FPU – FPR | 1º ano 20.000 + 10 mil/ano até o 20º ano. |
| TOTAIS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 160.000,00 | R$ 320.000,00 | TOTAL DO OBJETIVO | R$ 880.000,00 |
Legenda: RP – Recursos Próprios, FPU – Financiamento Público, FPR – Financiamento Privado.
Tabela 69 – Síntese do objetivo 2.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 3 | REDÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA |
| OBJETIVO | 2 | MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA COLETA CONVENCIONAL |
| FUNDAMENTAÇÃO | Atualmente, Iúna mantém a coleta convencional em toda a área urbana, contando com um planejamento eficaz e veículos especializados. No entanto, nas comunidades rurais mais afastadas, essa prática não é realizada eficazmente, gerando pontos de descarte irregular. Em conformidade com as Leis n° 12.305/2010 e n° 11.445/07, modificada pela Lei nº 14.026/2020, é imperativo aprimorar constantemente os serviços de gestão de resíduos sólidos. |
| MÉTODO DE ACOMPANHAMENTO (INDICADOR) | Geração per capita de RDO; custo unitário da coleta convencional por tonelada de RDO recolhido. |
| METAS |
| IMEDIATO – ATÉ 3 ANOS | CURTO PRAZO – ENTRE 4 E 8 ANOS | MÉDIO PRAZO – ENTRE 9 E 12 ANOS | LONGO PRAZO – ENTRE 13 E 20 ANOS |
| -Manter a coleta convencio- nal de RDO na área urbana; -Ampliar a coleta convenci- onal para áreas rurais; -Implementar e reforçar a eficiência da fiscalização para descartes irregulares | - Manter a coleta convencional de RDO na área urbana;- Reduzir em 10% a geração per capita de RDO; - Atender 50% da área rural para a coleta convencional | - Manter a coleta convencional de RDO na área urbana;- Reduzir em 20% a geração per capita de RDO;- Atender 100% da área rural para a coleta convencional. | -Manter a coleta convencional de RDO na área urbana e rural;-Reduzir em 30% a geração per capita de RDO. |
| PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES (R$) |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PRAZOS E CUSTOS | POSSÍVEIS FONTES | MEMÓRIA DE CÁLCULO |
| IMEDIATO | CURTO | MÉDIO | LONGO | ||||
| 3.2.1 | Implantação de 2 PEVs abrangendo a área rural. | R$ 20.000,00 | - | - | - | RP – FPU FPR | R$20.000,00 o valor de um PEV de 2500 litros. |
| 3.2.2 | Ampliação da coleta convencional para a área rural. | R$ 6.735,83 | R$ 10.103,75 | R$ 7.184,89 | R$ 12.573,55 | RP – FPU – FPR | Geração anual população rural x % de ampliação x custo/ton. x o prazo estipulado. |
| 3.2.3 | Definir rotas e cronogramas para fiscalização. | R$ 36.000,00 | - | - | - | RP - AA | Salário 1 administrativo+ encargos x por 1 ano |
| 3.2.4 | Manter a coleta convencional de RDO. | R$ 336.791,55 | R$ 561.319,25 | R$ 449.055,40 | R$ 898.110,80 | RP | Custo |
| TOTAIS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES | R$ 399.527,38 | R$ 571.423,00 | R$ 456.240,29 | R$ 910.684,35 | TOTAL DO OBJETIVO | R$2.337.875,02 |
Legenda: RP – Recursos Próprios, FPU – Financiamento Público, FPR – Financiamento Privado.
Tabela 70 – Síntese do objetivo 3.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 3 | RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA |
| OBJETIVO | 3 | GESTÃO DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS |
| FUNDAMENTAÇÃO | Atualmente não há ações direcionadas aos resíduos orgânicos em Iúna. Os mesmos são destinados junto aos demais resí- duos da coleta convencional ao transbordo municipal, sobrecarregando o local. Ressalta-se, que a Lei n° 12.305/2010 - PNRS prevê, dentre outras ações, a implementação de práticas voltadas ao reaproveitamento da fração orgânica dos resíduos gerados nas atividades urbanas. A mesma lei também obriga os usuários do sistema a apresentarem os resíduos orgânicos segregados dos demais resíduos para coleta. |
| MÉTODO DE ACOMPANHAMENTO (INDICADOR) | Fração orgânica dos RDO coletados. Grandes geradores cadastrados. Produção de Composto. |
| METAS |
| IMEDIATO – ATÉ 3 ANOS | CURTO PRAZO – ENTRE 4 E 8 ANOS | MÉDIO PRAZO – ENTRE 9 E 12 ANOS | LONGO PRAZO – ENTRE 13 E 20 ANOS |
| -Mapear os grandes geradores de re- síduos orgânicos;-Aquisição de um veículo apropriado para a coleta diferenciada de resíduos orgâ- nicos;-Implantar Usina de Triagem e Com- postagem; -Implementar o projeto piloto de horta e viveiro de mudas junto à central de compostagem; | - Iniciar para 30% da população urbana a coleta diferenciada dos resíduos orgânicos;- Manter projeto de horta comunitária e viveiro de mudas junto à central de compostagem; | -Iniciar para 50% da população urbana a coleta diferenciada dos resíduos orgânicos;- Manter projeto de horta comunitária e viveiro de mudas junto à central de compostagem; | -Iniciar para 100% da população urbana a coleta diferenciada dos resíduos orgânicos;- Manter a coleta diferenciada de re síduos orgânicos para a população ur- bana; - Manter projeto de horta comunitária e viveiro de mudas junto à central de compostagem; |
| PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES (R$) |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PRAZOS E CUSTOS | POSSÍVEIS FONTES | MEMÓRIA DE CÁLCULO |
| IMEDIATO | CURTO | MÉDIO | LONGO | ||||
| 3.3.1 | Cadastrar os grandes geradores de resíduos orgânicos, como por exemplo: restaurantes, escolas, mercados etc. | R$ 15.600,00 | - | - | - | RP – FPU – FPR - AA | 1 Estagiário R$1.300,00 x 12 meses, ação administrativa para manutenção a médio e longo prazo |
| 3.3.2 | Aquisição de caminhão baú para a coleta de orgânicos. | - | R$ 200.000,00 | - | - | RP - FPU – FPR | Média de preço de um caminhão baú |
| 3.3.3 | Elaborar e divulgar a rota e o cronograma de coleta diferenciada para os resíduos orgânicos em toda a área urbana. | - | R$ 15.600,00 | - | - | RP - AA | 1 Estagiário R$1.300,00 x 12 meses, ação administrativa para manutenção a médio e longo prazo |
| 3.3.4 | Realizar estudo para área de Central de Compostagem | R$45.000,00 | - | - | - | RP - FPU – FPR | Média de preço para um estudo de viabilidade |
| 3.3.5 | Implantar Central de Compostagem para o município | - | R$ 2.123.550,00 | - | - | RP - FPU – FPR | R$ 54.450,00 /ton.dia |
| 3.3.6 | Operação de Usina de Compostagem | - | R$ 978.000,00 | R$ 1.304.000,00 | R$ 2.608.000,00 | RP - FPU – FPR | Operação R$ 326.000,00/ano |
| 3.3.7 | Implementar projeto de horta comunitária e viveiro de mudas junto à central de compostagem | R$ 35.000,00 | - | - | - | RP - FPU – FPR | R$5.000,00 implantação da horta+ R$30.000,00 implantação do viveiro |
| 3.3.8 | Manter projeto de horta comunitária e viveiro de mudas junto à central de compostagem | R$ 19.800,00 | R$ 26.400,00 | R$ 33.000,00 | R$ 52.800,00 | RP - FPU – FPR | R$ 1.600,00/ano operação horta + R$5.000,00/ano operação viveiro |
| TOTAIS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES | R$115.400,00 | R$3.343.550,00 | R$1.337.000,00 | R$2.660.800,00 | TOTAL DO OBJETIVO | R$7.456.750,00 |
Legenda: RP – Recursos Próprios, FPU – Financiamento Público, FPR – Financiamento Privado.
Tabela 71 – Síntese do objetivo 4.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 3 | RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA |
| OBJETIVO | 4 | AMPLIAR E MANTER A COLETA SELETIVA |
| FUNDAMENTAÇÃO | A coleta seletiva é essencial para atingir as metas de redução, reutilização e reciclagem. O município de Iúna possui um sistema estabelecido de coleta seletiva, com a coleta efetuada pela associação de catadores, ASCOMRI. |
| MÉTODO DE ACOMPANHAMENTO (INDICADOR) | Massa de recicláveis coletada. Massa de recicláveis enviada ao transbordo. Massa de rejeitos após a triagem dos recicláveis |
| METAS |
| IMEDIATO – ATÉ 3 ANOS | CURTO PRAZO – ENTRE 4 E 8 ANOS | MÉDIO PRAZO – ENTRE 9 E 12 ANOS | LONGO PRAZO – ENTRE 13 E 20 ANOS |
| - Mapear os grandes geradores;- Implementar programa de cadastro e capacitação dos catadores de recicláveis;Implantar 4 PEVs para material reciclável;- Criação e divulgação de novas rotas para coleta de recicláveis na área rural;- Melhoria das dependências da ASCOMRI. | - Iniciar para 50% da população rural a coleta seletiva;- Manter a coleta seletiva; | - Iniciar para 100% da população rural a coleta seletiva;- Manter a coleta seletiva; | - Manter a coleta seletiva; |
| PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES (R$) |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PRAZOS E CUSTOS | POSSÍVEIS FONTES | MEMÓRIA DE CÁLCULO |
| IMEDIATO | CURTO | MÉDIO | LONGO | ||||
| 3.4.1 | Cadastrar os catadores | R$ 15.600,00 | - | - | - | RP – FPU – FPR – AA | 1 Estagiário R$1300,00 x 12meses, ação administrativa para manutenção a médio e longo prazo |
| 3.4.2 | Capacitar os catadores. | R$ 30.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 80.000,00 | RP – FPU – FPR | R$ 10.000,00 por ano |
| 3.4.3 | Projeto para implantação do Centro de Triagem de materiais recicláveis para catadores. | R$ 30.000,00 | - | - | - | RP – FPU – FPR | Geração anual x % de ampliação x custo/ton. x o prazo estipulado. |
| 3.4.4 | Instalar 2 PEVs em área rural não atendida e 2 PEVs na área urbana. | R$ 40.000,00 | R$ 50.000,00 | - | - | RP – FPU – FPR | R$10.000,00 o valor de um PEV de 2500 litros. |
| 3.4.5 | Ampliação da coleta seletiva para a área rural. | R$ 38.880,00 | R$ 64.800,00 | R$ 51.840,00 | R$ 103.680,00 | RP – FPU – FPR | Geração anual po- pulação rural x % de ampliação x custo/ton. x o prazo estipulado. |
| 3.4.6 | Manter a coleta seletiva. | R$ 758.880,00 | R$ 1.264.800,00 | R$ 1.011.840,00 | R$ 2.023.680,00 | RP - FPU | Repasse de R$ 20.000,00 mensais para a ASCOMRI |
| TOTAIS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES | R$913.360,00 | R$1.429.600,00 | R$1.103.680,00 | R$2.207.360,00 | TOTAL DO OBJETIVO | R$5.654.000,00 |
Legenda: RP – Recursos Próprios, FPU – Financiamento Público, FPR – Financiamento Privado.
Tabela 72 – Síntese do objetivo 5.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 3 | RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA |
| OBJETIVO | 5 | ADEQUAR OSSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA |
| FUNDAMENTAÇÃO | Em Iúna existe um cronograma definido para a realização dos serviços de limpeza pública, sendo estes, a varrição, a capina e a poda por demanda. Os resíduos verdes oriundos das podas e cortes de árvores são encaminhados para o bota-fora irregular (não sendo licenciado para tal atividade) localizado no município, e o restante é direcionado ao transbordo. |
| MÉTODO DE ACOMPANHAMENTO (INDICADOR) | Taxa de empregados no manejo de RDO em relação à população; Extensão de vias atendidas. |
| METAS |
| IMEDIATO – ATÉ 3 ANOS | CURTO PRAZO – ENTRE 4 E 8 ANOS | MÉDIO PRAZO – ENTRE 9 E 12 ANOS | LONGO PRAZO – ENTRE 13 E 20 ANOS |
| -Manter o serviço de limpeza pública. | -Manter o serviço de limpeza pública. | -Manter o serviço de limpeza pública. | -Manter o serviço de limpeza pública. |
| PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES (R$) |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PRAZOS E CUSTOS | POSSÍVEIS FONTES | MEMÓRIA DE CÁLCULO |
| IMEDIATO | CURTO | MÉDIO | LONGO | ||||
| 3.5.1 | Capacitar os colaboradores para execução adequada dos serviços. | R$ 5.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 40.000,00 | RP – FPU – FPR | R$ 5.000,00 por ano |
| 3.5.2 | Manter os serviços de limpeza pública. | R$ 6.884.297,13 | R$ 11.473.828,55 | R$ 9.179.062,84 | R$18.358.125,68 | RP | R$ 2.294.765,71 por ano |
| TOTAIS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES | R$6.899.297,13 | R$11.498.828,55 | R$9.199.062,84 | R$18.398.125,68 | TOTAL DO OBJETIVO | R$ 45.995.314,20 |
Legenda: RP – Recursos Próprios, FPU – Financiamento Público, FPR – Financiamento Privado.
Tabela 73 – Síntese do objetivo 6.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 3 | RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA |
| OBJETIVO | 6 | GESTÃO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL |
| FUNDAMENTAÇÃO | Iúna atualmente carece de um Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos da Construção Civil (PMGIRCC). Além dessa lacuna, os residentes têm a opção de solicitar à Prefeitura Municipal a coleta de resíduos provenientes da construção civil, entulhos e materiais volumosos, mediante o pagamento de uma taxa. Entretanto, vale destacar que não há um local apropriado designado para o descarte desses resíduos, resultando na sua dis- posição no pátio de obras da Prefeitura. Informações fornecidas pela prefeitura indicam a ausência de conheci- mento quanto à efetiva cobrança adequada dessa taxa dos munícipes. |
| MÉTODO DE ACOMPANHAMENTO (INDICADOR) | Massa de RCC destinada ao local inapropriado. Autuações administrativas. |
| METAS |
| IMEDIATO – ATÉ 3 ANOS | CURTO PRAZO – ENTRE 4 e 8 ANOS | MÉDIO PRAZO – ENTRE 9 e 12 ANOS | LONGO PRAZO – ENTRE 13 E 20 ANOS |
| - Reduzir a disposição incorreta de RCC;- Fortalecer a fiscalização. | - Reduzir em 50% a massa de RCC destinada incorretamente. | - Reduzir em 70% a massa de RCC destinada incorretamente. | -Reduzir em 90% a massa de RCC destinada incorretamente. |
| PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES (R$) |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PRAZOS E CUSTOS | POSSÍVEIS FONTES | MEMÓRIA DE CÁLCULO |
| IMEDIATO | CURTO | MÉDIO | LONGO | ||||
| 3.6.1 | Adquirir um triturador de RCC | R$ 25.000,00 | - | - | - | RP – FPU | Preço médio de mercado |
| 3.6.2 | Adequar espaço para recebimento dos RCC triturados | R$ 100.000,00 | - | - | - | RP – FPU | Preço médio de uma re- forma para adequação |
| 3.6.3 | Mapear e aumentar a fiscalização sobre os locais de descarte incorreto de RCC | R$ 108.000,00 | R$180.000,00 | R$144.000,00 | R$288.000,00 | RP – FPU | Salário de 1 fiscal + en- cargos x ano |
| 3.6.4 | Implantar 3 PEPVs para recebimento de pe- quenos volumes de RCC | R$ 24.000,00 | - | - | - | RP – FPU | R$ 8.000 x PEV |
| 3.6.5 | Elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Cívil (PGRCC) | R$ 50.000,00 | - | - | - | RP – FPU | Média de preço de ela- boração de um Plano |
| TOTAIS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES | R$307.000,00 | R$180.000,00 | R$144.000,00 | R$288.000,00 | TOTAL DO OBJETIVO | R$919.000,00 |
Legenda: RP – Recursos Próprios, FPU – Financiamento Público, FPR – Financiamento Privado.
Tabela 74 – Síntese do objetivo 7.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 3 | RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA |
| OBJETIVO | 7 | FOMENTAR A RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA SOBRE A GESTÃO DOS RESÍDUOS DA LOGÍSTICA REVERSA |
| FUNDAMENTAÇÃO | No Município de Iúna não há controle da quantidade gerada e coletada dos resíduos de logística reversa. Portanto, faz-se necessário a implantação de programas responsáveis por realizar essa quantificação. Além de promover a correta coleta e destinação de tais resíduos, considerando as implicações legais e ambientais vigentes. |
| MÉTODO DE ACOMPANHAMENTO (INDICADOR) | Responsáveis mapeados. Massa e/ou volume coletados e destinados. |
| METAS |
| IMEDIATO – ATÉ 3 ANOS | CURTO PRAZO – ENTRE 4 E 8 ANOS | MÉDIO PRAZO – ENTRE 9 E 12 ANOS | LONGO PRAZO – ENTRE 13 E 20 ANOS |
| -Quantificar a geração de Resíduos Eletro Eletrônicos (REE) e Resíduo da Logística Reversa Obrigatória (RLO);-Coletar e destinar corretamente 30% dos REE e Resíduos da Logística Reversa;-Fortalecer a fiscalização; | -Coletar e destinar corretamente 50% dos REE e RLO | -Coletar e destinar corretamente 70% dos REE e RLO | -Coletar e destinar corretamente 100% dos REE e RLO |
| PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES (R$) |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PRAZOS E CUSTOS | POSSÍVEIS FONTES | MEMÓRIA DE CÁLCULO |
| IMEDIATO | CURTO | MÉDIO | LONGO | ||||
| 3.7.1 | Mapear e cadastrar os responsáveis pelos resíduos (comerciantes, distribuidores, importadores, fabricantes, etc) em cada tipologia da Logística Reversa dos Resíduos. | R$ 18.000,00 | - | - | - | RP – AA | 1 Estagiário R$1300,00 x 12 meses, ação administrativa para manutenção a médio e longo prazo |
| 3.7.2 | Aumentar os PEVs destinados ao recebimento de pilhas e baterias usadas, lâmpadas fluorescentes e resíduos eletrônicos. | R$ 1.500,00 | - | - | - | RP – FPU – FPR | R$ 150,00/ coletor x 10 coletores x ano |
| 3.7.3 | Implementar a fiscalização e o controle de recebimento de embalagens vazias nos postos de venda. | R$ 136.800,00 | R$ 228.000,00 | R$ 182.400,00 | R$ 364.800,00 | RP – FPU | Salário de 1 fiscal + encargos x ano |
| 3.7.4 | Buscar a destinação correta de pilhas e baterias usadas, lâmpadas fluorescentes e resíduos ele- trônicos (possível consórcio). | - | - | - | - | AA | - |
| TOTAIS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES | R$156.300,00 | R$228.000,00 | R$182.400,00 | R$364.800,00 | TOTAL DO OBJETIVO | R$931.500,00 |
Legenda: RP – Recursos Próprios, FPU – Financiamento Público, FPR – Financiamento Privado.
Tabela 75 – Síntese do objetivo 8.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 3 | RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA |
| OBJETIVO | 8 | GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE |
| FUNDAMENTAÇÃO | O Município de Iúna não possui Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) para as unidades de saúde municipais. A coleta, acondicionamento, transporte, tratamento e disposição final desta tipologia é realizada por em- presa terceirizada nas unidades públicas, não havendo controle nas unidades particulares. |
| MÉTODO DE ACOMPANHAMENTO (INDICADOR) | Massa RSS coletada. Fração reciclável dos RSS coletados. |
| METAS |
| IMEDIATO – ATÉ 3 ANOS | CURTO PRAZO – ENTRE 4 E 8 ANOS | MÉDIO PRAZO – ENTRE 9 E 12 ANOS | LONGO PRAZO – ENTRE 13 E 20 ANOS |
| - Adequar os locais de armazenamento de RSS nas UBS;- Exigir PGRSS de unidades de saúde públicas e privadas; -Manter a destinação correta de RSS no município | - Manter a destinação correta de RSS no município; | - Manter a destinação correta de RSS no município; | - Manter a destinação correta de RSS no município; |
| PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES (R$) |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PRAZOS E CUSTOS | POSSÍVEIS FONTES | MEMÓRIA DE CÁLCULO |
| IMEDIATO | CURTO | MÉDIO | LONGO | ||||
| 3.8.1 | Exigir o PGRSS dos estabelecimentos públicos e particulares de saúde que não o possuem. | R$ 30.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 80.000,00 | RP – AA | R$ 10.000,00 ano |
| 3.8.2 | Fazer melhorias nas condições das USB dos distritos | R$ 150.000,00 | RP – FPU | Estimativa | |||
| 3.8.3 | Manter a destinação correta de RSS. | R$211.466,73 | R$352.444,55 | R$281.955,64 | R$563.911,28 | RP – FPU – FPR | Custo atual x anos |
| TOTAIS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES | R$391.466,73 | R$402.444,55 | R$321.955,64 | R$643.911,28 | TOTAL DO OBJETIVO | R$1.759.778,20 |
Legenda: RP – Recursos Próprios, FPU – Financiamento Público, FPR – Financiamento Privado.
9.2.20 Análise Econômica
O investimento total estimado no setor de resíduos sólidos e limpeza pública do município de Iúna, conforme o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), é de R$ 65.934.217,42. Esses recursos estão distribuídos em programas, projetos e ações, com objetivos que abrangem desde a educação ambiental até a adequação dos serviços de limpeza pública e a gestão de resíduos específicos, como os de saúde e da construção civil.
Esses investimentos estão organizados em diferentes prazos: imediato, curto, médio e longo prazo, garantindo que as ações possam ser implementadas de forma contínua e progressiva, conforme as necessidades e recursos disponíveis ao longo do tempo.
O Gráfico 24 e a Tabela 76 apresentam a estimativa dos investimentos necessários separados por prazo de execução para o setor de resíduos de Iúna.
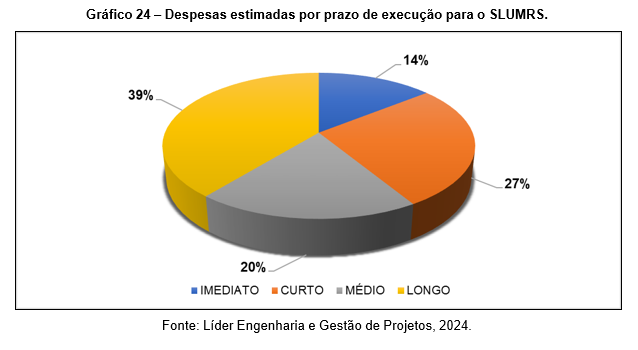
Tabela 76 - Síntese dos totais dos valores estimados para o SLUMRS.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 3 | RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA |
| OBJETIVOS | PRAZOS | TOTAL GERAL |
| IMEDIATO | CURTO | MÉDIO | LONGO | ||
| EDUCAÇÃO AMBIENTAL | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 160.000,00 | R$ 320.000,00 | R$ 880.000,00 |
| MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA COLETA CONVENCIONAL | R$ 399.527,38 | R$ 571.423,00 | R$ 456.240,29 | R$ 910.684,35 | R$ 2.337.875,02 |
| GESTÃO DOS RESIDUOS ORGÂNICOS | R$ 115.400,00 | R$ 3.343.550,00 | R$ 1.337.000,00 | R$ 2.660.800,00 | R$ 7.456.750,00 |
| AMPLIAR E MANTER A COLETA SELETIVA | R$ 913.360,00 | R$ 1.429.600,00 | R$ 1.103.680,00 | R$ 2.207.360,00 | R$ 5.654.000,00 |
| ADEQUAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | R$6.899.297,13 | R$ 11.498.828,55 | R$ 9.199.062,84 | R$ 18.398.125,68 | R$ 45.995.314,20 |
| GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | R$ 307.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 144.000,00 | R$ 288.000,00 | R$ 919.000,00 |
| FOMENTAR A RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA SOBRE A GESTÃO DOS RESÍDUOS DA LOGÍSTICA REVERSA | R$ 156.300,00 | R$ 228.000,00 | R$ 182.400,00 | R$ 364.800,00 | R$ 931.500,00 |
| GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE | R$ 391.466,73 | R$ 402.444,55 | R$ 321.955,64 | R$ 643.911,28 | R$ 1.759.778,20 |
| TOTAL GERAL | R$9.382.351,24 | R$ 17.853.846,10 | R$ 12.904.338,77 | R$ 25.793.681,31 | R$ 65.934.217,42 |
10 SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS - SDMAPU
10.1 DIAGNÓSTICO DO SDMAPU
1.1.1 Caracterização operacional do SDMAPU
O Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas é um conjunto de infraestruturas e práticas projetadas para controlar, conduzir, tratar e, quando possível, reutilizar as águas provenientes das precipitações em áreas urbanas. Este sistema é essencial para mitigar os impactos das chuvas intensas, que podem causar inundações, erosão, poluição das águas superficiais e subterrâneas, além de outros problemas ambientais e socioeconômicos.
Os sistemas de drenagem tradicionais são geralmente divididos em dois componentes: microdrenagem e macrodrenagem, cada um com critérios de planejamento e dimensionamento específicos. A microdrenagem abrange pavimentação de ruas, calçadas, sarjetas, bocas coletoras (bocas de lobo), redes de galerias de águas pluviais e canais de pequena escala, projetados para lidar com vazões de até dez anos de período de retorno.
Por outro lado, a macrodrenagem engloba a canalização de corpos hídricos, a limpeza e o desassoreamento de córregos, a construção de diques de contenção e a readequação de obras de galeria e travessias. Essa parte do sistema é projetada para lidar com inundações que ocorrem em intervalos de cinquenta a cem anos de período de retorno.
Além dos sistemas tradicionais mencionados, observa-se cada vez mais a adoção de práticas sustentáveis que visam controlar o escoamento na fonte. Essas medidas incluem a promoção da infiltração ou detenção das águas pluviais no próprio lote ou loteamento, com o objetivo de preservar as condições naturais pré-existentes de vazão para um risco determinado.
Sistemas de drenagem inadequados impactam diretamente os transportes ter- restres, modificando a dinâmica urbana e causando prejuízos diretos, como danos a estruturas e residências, e indiretos, como a redução da produtividade.
Os componentes principais do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais incluem a coleta, a condução, o armazenamento, o tratamento e a infiltração. A coleta é realizada através de estruturas superficiais como sarjetas, valetas, bocas de lobo e grelhas, e de sistemas subterrâneos de tubulação que transportam a água co- letada. A condução é efetuada por meio de galerias de águas pluviais, canais e valas que direcionam a água para fora das áreas urbanas de forma controlada.
O armazenamento é feito em reservatórios de detenção, que armazenam temporariamente as águas pluviais para liberá-las gradualmente, e em reservatórios de retenção, que mantêm a água de forma permanente para infiltração ou reutilização. O tratamento das águas pluviais é realizado através de sistemas de filtração e biorretenção, como jardins de chuva, que utilizam processos naturais para remover poluentes antes da água ser lançada nos corpos d'água.
A infiltração é promovida por poços de infiltração e pavimentos permeáveis, que permitem a percolação da água no solo, ajudando a recarregar os aquíferos. Estes sistemas são essenciais para reduzir a incidência de inundações, minimizar a poluição hídrica, promover a recarga dos aquíferos e aprimorar o paisagismo urbano, contribuindo para a estética e o microclima das cidades.
A implementação eficaz de sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais é fundamental para a sustentabilidade urbana. No entanto, a urbanização desordenada, a impermeabilização excessiva do solo e a variabilidade climática representam desafios significativos. Portanto, o planejamento urbano deve incluir estratégias de manejo de águas pluviais integradas com outras políticas ambientais e de infraestrutura para garantir a resiliência das cidades frente às mudanças climáticas e ao crescimento populacional.
A avaliação contínua e a adaptação das práticas de manejo, baseadas em dados atualizados e pesquisas contínuas, são vitais para a eficácia e a sustentabilidade dos sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Dessa forma, é possível garantir que as cidades estejam preparadas para lidar com os desafios ambientais e socioeconômicos associados às chuvas intensas, promovendo uma convivência harmoniosa e sustentável com as águas pluviais.
A análise do manejo das águas pluviais no município de Iúna abrangeu a avaliação da situação atual, fundamentada em informações coletadas por meio de levantamentos de campo, reuniões de mobilização social e consultas às equipes da Prefeitura e da Defesa Civil Municipal. Adicionalmente, foram utilizados dados secun- dários provenientes do Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA), do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
De acordo com Tucci (2003), o Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU) é o conjunto de diretrizes que determinam a gestão do sistema de drenagem, minimizando o impacto ambiental devido ao escoamento das águas pluviais. Na elaboração do PDDU, é essencial manter sua coerência com as outras normas urbanísticas do município, bem como com os instrumentos da Política Urbana e da Política Nacional de Recursos Hídricos.
O principal objetivo de um PDDU é criar mecanismos de gestão para a bacia hidrográfica, o zoneamento urbano e as estruturas de macro e microdrenagem. Essa gestão deve ser baseada em um planejamento prévio, que vise evitar perdas econômicas, melhorar as condições de saneamento e a qualidade do meio ambiente urbano. O município de Iúna possui o Plano Diretor de Águas Pluviais e Fluviais, elaborado em 2022. Este plano é fundamentado em uma série de princípios que visam a gestão eficiente e sustentável das águas pluviais e fluviais, abordando tanto os aspectos técnicos quanto ambientais e econômicos. Entre os princípios norteadores estão a abordagem interdisciplinar, o uso da vazão com 25 anos de recorrência como cheia de projeto, a utilização da bacia hidrográfica do rio Pardo como unidade de estudo, e a recomendação de soluções integradas à paisagem e aos mecanismos de conservação do meio ambiente.
Na elaboração do diagnóstico do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, foram utilizadas as informações contidas no PDDU. O plano fornece uma base sólida para a avaliação das condições atuais e para a formulação de estratégias que promovam a sustentabilidade e a resiliência do sistema de drenagem, contribuindo para a mitigação dos impactos das inundações, a melhoria da qualidade da água e a promoção do bem-estar da população.
a) Indicadores Operacionais
Os indicadores desempenham um importante papel na gestão das águas pluviais urbanas, oferecendo informações essenciais para monitorar o desempenho dos sistemas e aprimorar a tomada de decisões. No contexto da drenagem urbana, o SNIS apresenta indicadores específicos que desempenham um papel fundamental no planejamento, tomada de decisões e monitoramento das ações relacionadas à drenagem urbana.
Alguns indicadores incluem:
·Taxa de Cobertura de Pavimentação e Meio-Fio na Área Urbana do Muni- cípio (IN020): mede a extensão de vias pavimentadas em relação ao total de vias nas áreas urbanas. Esse indicador é de suma importância para o manejo das águas pluviais, considerando o impacto direto da pavimentação no escoamento, infiltração e escoamento superficial.
·Volume de Reservação de Águas Pluviais por Unidade de Área Urbana (IN035): avalia o volume total dos reservatórios de amortecimento em relação à área urbana, fornecendo insights sobre a disponibilidade de infraestrutura para o armaze- namento temporário de águas pluviais, essencial para mitigar inundações e alagamentos.
· Densidade de Domicílios na Área Urbana (IN044): determina a densidade de domicílios na área urbana, contribuindo para avaliar o índice de impermeabilização global e seu impacto no sistema de drenagem.
· Densidade de Captações de Águas Pluviais na Área Urbana (IN051): indica a quantidade de pontos de captação de águas pluviais na área urbana, permitindo identificar áreas que demandam investimentos em infraestrutura de manejo das águas pluviais.
· Desembolso de Investimentos Per Capita (IN053): avalia o montante de investimentos em manejo das águas pluviais em relação à população atendida, ofere- cendo insights sobre a efetividade das ações e alocação de recursos.
Esses indicadores, ao fornecerem dados confiáveis e atualizados, orientam o planejamento estratégico, a elaboração de políticas públicas eficientes e a alocação de recursos na infraestrutura de drenagem. Permitem identificar áreas críticas, avaliar a eficiência dos sistemas e monitorar a evolução ao longo do tempo, contribuindo para uma gestão mais resiliente e sustentável dos recursos hídricos urbanos e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida da população.
A Tabela 77 apresenta a evolução de alguns desses indicadores para o Município de Iúna ao longo do tempo.
Tabela 77 – Série histórica (2017 – 2022) dos indicadores de drenagem de Iúna.
| Indicador | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Unidade |
| IN001 - Participação do Pessoal Próprio Sobre o Total de Pessoal Alocado nos Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % |
| IN009 - Despesa Média Praticada para os Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas | 50 | 32,26 | 60,67 | 61,48 | 24,53 | 43,05 | R$/unidades/ ano |
| IN010 - Participação da Despesa Total dos Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas na Despesa Total do Município | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | % |
| IN020 - Taxa de Cobertura de Pavimentação e Meio-Fio na Área Urbana do Município | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 94,6 | 91,1 | 92,9 | % |
| IN021 - Taxa de cobertura de vias públicas com redes ou canais pluviais subterrâneos na área urbana | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 73,2 | % |
| IN025 - Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes em Área Urbana com Parques Lineares | - | - | - | - | - | - | % |
| IN026 - Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes com Canalização Aberta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| IN027 - Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes com Canalização Fechada | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | % |
| IN029 - Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes com Diques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| IN035 - Volume de reservação de águas pluviais por unidade de área urbana | - | - | - | - | - | - | m3/Km2 |
| IN042 - Parcela de área urbana em relação à área total | 0,61 | 0,61 | 0,76 | 0,76 | 2,18 | 2,18 | % |
| IN043 - Densidade Demográfica na Área Urbana | 60 | 59 | 48 | 48 | 17 | - | Pessoas/hectares |
| IN044 - Densidade de Domicílios na Área Urbana | 31 | 31 | 17 | 17 | 7 | 7 | Domicílios/hectares |
| IN048 - Despesa per capita com serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas | 17,56 | 12,05 | 31,66 | 31,94 | 15,32 | - | R$/hab/ano |
| IN049 - Investimento per capita em drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas | 0 | 0 | 23,91 | 27,19 | 21,46 | - | R$/hab/ano |
| IN051 - Densidade de captações de águas pluviais na área urbana | 1057 | 1057 | 854 | 873 | 301 | 306 | un/Km2 |
| IN053 - Desembolso de investimentos per capita | 20,62 | 12,05 | 23,91 | 27,19 | 21,46 | - | R$/hab/ano |
| IN054 - Investimentos totais desembolsados em relação aos investimentos totais contratados | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | % |
Muitos indicadores de 2022 não foram registrados ainda, principalmente os que dependem da população, o que pode decorrer do fato que a população urbana levantada pelo último censo do IBGE ainda não foi divulgada para alguns municípios do país no momento da elaboração deste Diagnóstico.
O indicador IN001, que mede a participação do pessoal próprio sobre o total de pessoal alocado nos serviços, manteve-se constante em 100% durante todo o período. Isso indica que a totalidade dos serviços é realizada por funcionários próprios do município, refletindo uma política de não terceirização desses serviços.
A despesa média praticada para os serviços de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas (IN009) variou significativamente ao longo dos anos, com um pico em 2019 e 2020, seguido por uma queda em 2021. Essas variações podem indicar flutuações nas necessidades operacionais ou nos níveis de serviço prestado. De forma semelhante, a participação da despesa total desses serviços na despesa total do município (IN010) também apresentou pequenas variações, sugerindo ajustes financeiros conforme as demandas específicas.
A taxa de cobertura de pavimentação e meio-fio na área urbana do município (IN020) se manteve alta, com uma leve variação positiva em 2020 e uma pequena redução em 2021. Isso sugere que a infraestrutura urbana é robusta e bem mantida. A cobertura de vias públicas com redes ou canais pluviais subterrâneos (IN021) foi estável, com um pequeno aumento em 2022, indicando uma infraestrutura consolidada e pequenos avanços recentes.
Os indicadores relacionados aos cursos d'água naturais perenes (IN025 a IN029) mostram que não há canalização aberta ou diques, e a canalização fechada diminuiu ligeiramente após 2020. Isso pode refletir mudanças na política de manejo de águas ou no desenvolvimento urbano. A parcela de área urbana em relação à área total (IN042) aumentou significativamente, indicando uma expansão urbana conside- rável, o que pode impactar a demanda por serviços de drenagem.
Os indicadores de densidade demográfica (IN043) e de domicílios (IN044) na área urbana mostram uma redução ao longo dos anos, sugerindo uma possível dispersão urbana que pode afetar a eficiência dos serviços públicos. As despesas per capita com serviços de drenagem (IN048) variaram, com picos em 2019 e 2020, seguidos por uma queda em 2021, refletindo mudanças nos custos ou níveis de serviço per capita.
O investimento per capita em drenagem (IN049) e o desembolso de investimentos per capita (IN053) foram consistentes, indicando um esforço contínuo de in- vestimento em infraestrutura. A densidade de captações de águas pluviais na área urbana (IN051) diminuiu significativamente, possivelmente indicando uma mudança na abordagem de manejo de águas pluviais ou uma redução na manutenção e investimento.
Por fim, o indicador de investimentos totais desembolsados em relação aos investimentos totais contratados (IN054) manteve-se constante, sugerindo que todos os investimentos contratados têm sido efetivamente desembolsados. Em suma, a análise dos indicadores revela um município com uma infraestrutura de drenagem relativamente estável, mas que enfrenta desafios relacionados à expansão urbana e variações nos investimentos e despesas.
b) Sistema de Microdrenagem
No âmbito da microdrenagem, o sistema de drenagem urbana é exclusivo, destinando 100% para águas pluviais. Não existe informação sobre a extensão e nem cadastro.
Em termos de investimentos em Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas contratado pelo município, não foi registrado no ano de referência (2022). Não há informações sobre a existência de cobrança pelos serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas.
Durante os levantamentos em campo os dispositivos ao SDMAPU puderam ser observados, sendo apresentados na Figura 167.

c) Sistema de Macrodrenagem
Parte do núcleo urbano de Iúna - Sede foi estabelecida na planície aluvial do rio Pardo. A sede do município é atravessada pelo rio Pardo, que é margeado por importantes avenidas situadas no centro da cidade, além da rodovia ES-185. Nessa área, se desenvolve boa parte do comércio local e foram construídas muitas residências, armazéns de café, postos de gasolina e outros estabelecimentos.
O trecho urbano do rio Pardo possui cerca de 4,95 km de extensão e, na maior parte desse percurso, suas margens são ocupadas, dificultando a implantação de melhorias contra enchentes, como o alargamento do leito do rio.
O rio Pardo é um dos afluentes do Braço Norte Esquerdo do Rio, possuindo uma área de contribuição de 3.749,3 km². Sua nascente está localizada no município de Ibatiba. Até o início do trecho do rio Pardo a montante da zona urbana de Iúna, este curso d’água drena uma área de 423,75 km². A bacia do rio Pardo está situada majoritariamente em solos capixabas, com apenas 7,8% de sua área no estado de Minas Gerais. Ela abrange os municípios capixabas de Iúna, Irupi e Ibatiba, além do município mineiro de Laginha.
A existência de três pontes com pilares instalados no meio do curso d'água e dimensões inadequadas (Figura 168), que provocam a diminuição da capacidade hidráulica do rio, contribui para o represamento das águas a montante dessas estruturas.
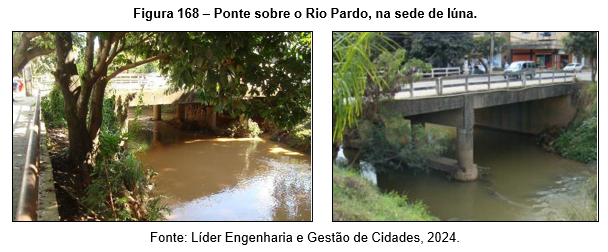
Ao atravessar o núcleo urbano de Iúna, em um trecho de 4.900 metros, as cotas do rio decaem 3,1 metros, resultando em uma declividade média de 0,07%. Além da baixa declividade, o leito do rio é muito irregular, apresentando vários trechos rochosos de baixas profundidades, intercalados por segmentos mais profundos com leito arenoso ou argiloso.
Somando-se à baixa declividade média e às irregularidades do leito, as laterais do rio Pardo, em seu trecho urbano, estão ocupadas por construções, conforme mostra a Figura 169 .
Os aspectos acima mencionados dificultam o escoamento das águas do rio Pardo no trecho urbano de Iúna ocasionando inundações frequentes na cidade

No distrito de Nossa Senhora das Graças, o principal curso d'água que atravessa a região é o Ribeirão da Perdição. Em Santíssima Trindade, o ribeirão que percorre a região é o Ribeirão Trindade.
Observa-se que tanto os distritos quanto a sede do município de Iúna se desenvolveram nas margens de cursos d'água, como o Ribeirão da Perdição em Nossa Senhora das Graças, o Ribeirão Trindade em Santíssima Trindade, e o Rio José Pedro em São João do Príncipe e Pequiá. Este padrão de desenvolvimento urbano tem implicações significativas para a gestão de riscos de inundações e enchentes.
A proximidade dos centros urbanos aos cursos d'água naturalmente aumenta a vulnerabilidade das áreas a eventos de inundação. Durante períodos de chuvas intensas, os rios e ribeirões podem transbordar, afetando diretamente as áreas urbanas adjacentes. Isso é particularmente crítico em bacias hidrográficas que apresentam gradientes elevados e alta densidade de drenagem, como observado nas microbacias analisadas.
Para mitigar os riscos de inundações e enchentes, é fundamental a implementação de infraestrutura adequada de drenagem urbana. Isso inclui a construção de diques, canais de drenagem, reservatórios de retenção e sistemas de esgoto pluvial capazes de lidar com volumes elevados de água durante tempestades.
1.1.2 Áreas de risco a enchentes, inundações e movimentos de massa
O Governo Federal, em conjunto com diversos ministérios, iniciou um programa de mapeamento das áreas de risco, em 2011, coordenado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Esse projeto visa identificar e classificar locais com alto potencial de risco. Os dados obtidos serão compartilhados com as defesas civis municipais e integrados ao banco nacional de dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) e do Centro Nacional de Gerenciamento de Ris- cos e Desastres (CENAD), responsáveis por monitorar e alertar sobre eventos climáticos e desastres em todo o país.
O trabalho de mapeamento de áreas de risco envolve uma abordagem multifacetada que combina visitas de campo a locais com histórico de desastres naturais ou identificados como potencialmente perigosos, juntamente com análises de imagens aéreas e de satélite. A avaliação dos riscos considera uma série de indicadores, como trincas em estruturas, depressões em pavimentos, presença de voçorocas e areia em canais, inclinação de obras e descalçamento de fundações.
No município de Iúna, o mapeamento das áreas de risco foi realizado no ano de 2014 para a área da Sede e para o Distrito de Pequiá. Este processo envolveu uma análise detalhada das condições das construções e do ambiente circundante, incluindo a topografia, a drenagem de águas pluviais e servidas, e quaisquer sinais de instabilidade no terreno. Além disso, foram utilizadas imagens aéreas e de satélite para obter uma visão abrangente da área e identificar padrões geográficos que indicassem potenciais áreas de risco.
Os resultados estão compilados no Quadro 49 abaixo.
Quadro 49 – Descrição dos setores de risco mapeados em Iúna.
| Código | Local | Descrição | Grau de Risco |
| 1 | Bairro Guanabara Parque Industrial | Deslizamento em talude de corte e processos erosivos | Alto |
| 2 | Bairro Guanabara Rua Agenor Goulart | Deslizamento em talude de corte e processos erosivos | Alto |
| 3 | Bairro Quilombo Região das Ruas Pedro Caetano e Rua Raul Caetano da Silva | Deslizamento em talude de corte e processos erosivos | Muito Alto |
| 4 | Bairros Pito e Nossa Senhora de Fátima Rua Claudionor Mariano da Silveira | Deslizamento em talude de corte e processos erosivos | Alto |
| 5 | Bairro Ferreira Vale | Deslizamento em talude de corte e processos erosivos | Alto |
| 6 | Bairro Centro Fórum Prefeitura e adjacências | Deslizamento em talude de corte | Alto |
| 7 | Bairro Centro e Vale Verde | Deslizamento em talude de corte | Alto |
| 8 | Bairro Niterói - margens da ES 185 | Deslizamento em talude de corte e processos erosivos | Alto |
| 9 | Planície de inundação do Rio Pardo - região central de Iúna | Inundação e solapamento de margens | Alto |
| 10 | Distrito de Pequiá | Deslizamento em talude de corte e processos erosivos | Alto |
| 11 | Distrito de Pequiá Rio José Pedro | Inundação e solapamento de margens | Muito Alto |
O Município de Iúna enfrenta principalmente riscos associados a deslizamentos planares em taludes de corte, devido à ausência de sistemas de drenagem adequados e contenções. Além disso, as inundações estão relacionadas às cheias dos rios Pardo e José Pedro, assim como a condições de represamento causadas por infraestruturas mal dimensionadas, como pontes, e à obstrução do leito dos rios devido ao desmatamento das margens ou ao acúmulo de sedimentos.
Historicamente, o município registrou deslizamentos de encostas de pequena magnitude, associados às moradias e ao padrão construtivo das mesmas, bem como episódios anuais de inundações sazonais.
De acordo com levantamentos de campo, cerca de 29% da população de Iúna estava localizada em áreas de risco (CPRM, 2014). No que diz respeito às inundações, destacou-se que o município enfrentou dois eventos significativos, um em 1978, sem registros detalhados, considerado o pior devido à sua extensão, e outro em 2008, quando o nível do rio atingiu entre 5 e 6 metros acima do leito normal (CPRM, 2014).
Além disso, aproximadamente 44 residências encontravam-se em situação de risco, seja por questões estruturais, geológicas ou uma combinação de ambas. Essas residências, identificadas pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, requeriam intervenções urgentes, que podiam incluir a realocação das famílias, a adequação estrutural ou até mesmo a demolição das construções (CPRM, 2014).
Quanto a eventos de inundações ocorridos no município, ressaltam-se os eventos ocorridos em 1978, sem registros, porém considerável em função da extensão de danos, outro em 2008, no qual o nível do rio Pardo subiu de 5 a 6 metros do seu leito normal, e outro em 2020, que, segundo informações fornecidas, o leito do Rio Pardo subiu mais de 10 metros.
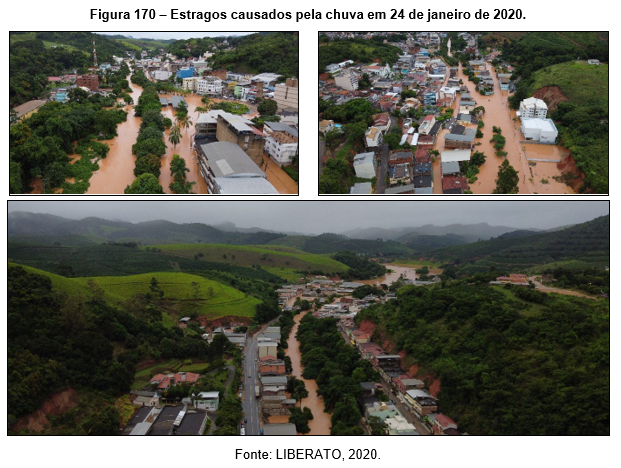
A Figura 171 e a Figura 172 apresentam o mapeamento feito para o município de Iúna, pela CPRM, em 2014, para a Sede e para o distrito de Pequiá, respectivamente.
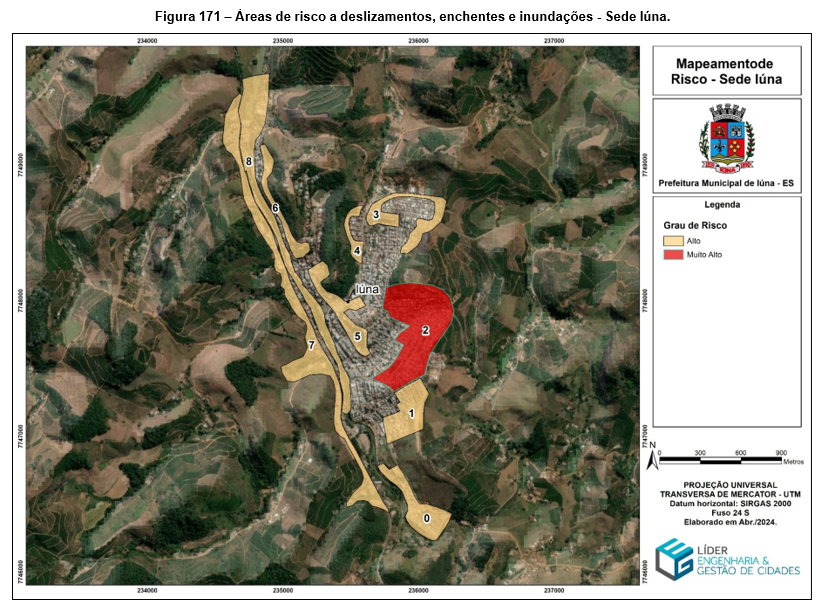
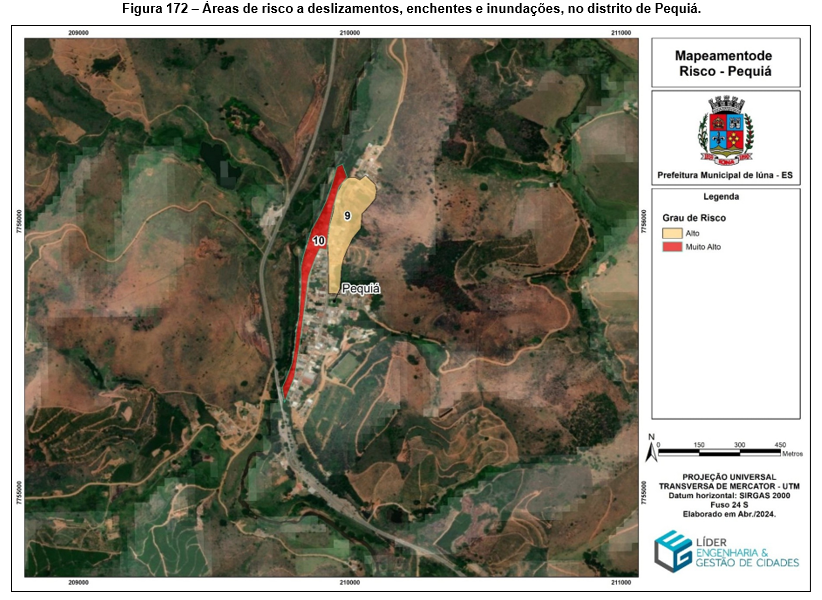
10.1.1 Erosão
A erosão é um fenômeno natural que envolve o desgaste e a transformação da superfície terrestre devido a processos físicos, químicos e biológicos (SUGUIO, 2003). Pode ser definida como o processo de desintegração, transporte e deposição de partículas de solo provocado por diversos agentes, incluindo vento, água e outros fatores (BERTONI E LOMBARDI NETO, 2005; MORGAN, 2005; WISHMEIER & SMITH, 1978). Esses agentes atuam na superfície terrestre, fragmentando as partículas de solo e dispersando-as para áreas diferentes de sua origem, e a interferência humana, por meio de práticas inadequadas de uso e manejo, pode acelerar esse processo.
Existem duas categorias distintas de erosão: erosão acelerada, resultante das atividades humanas, e erosão geológica ou natural. A primeira é caracterizada por sua capacidade de causar danos significativos em um curto período, enquanto a se- gunda é um processo contínuo e gradual na evolução da superfície terrestre. A erosão acelerada do solo representa um problema ambiental.
A erosão diminui a porosidade do solo, impactando sua capacidade de retenção e infiltração de água, resultando em aumento do escoamento superficial, transporte de sedimentos e assoreamento de corpos d'água (Durães e Mello, 2016). Além dos processos naturais de intemperismo, a ação humana pode intensificar significativamente os processos erosivos, incluindo desmatamento, construção de estradas, alterações nos padrões naturais de fluxo de água, como barragens, canalização de rios e sistemas de drenagem mal dimensionados.
É fundamental destacar que áreas suscetíveis à erosão intensa e instabilidade requerem estudos e monitoramento para prevenir desastres e promover a recuperação dessas áreas.
Em Iúna, segundo o mapeamento realizado pela CPRM em 2014, os problemas mais graves foram identificados em áreas onde predomina a ocupação desordenada e irregular. Nesses locais, observou-se a realização de diversas escavações verticais nas encostas naturais, o que desestabiliza as encostas.
As construções das casas frequentemente começam sem o tratamento ade- quado do talude de corte (Figura 173), e essas obras são iniciadas sem o devido licenciamento e sem a análise de risco do local. Essa falta de planejamento e controle pode levar a deslizamentos de terra e outros desastres naturais, colocando em risco a segurança dos moradores e a integridade das construções.
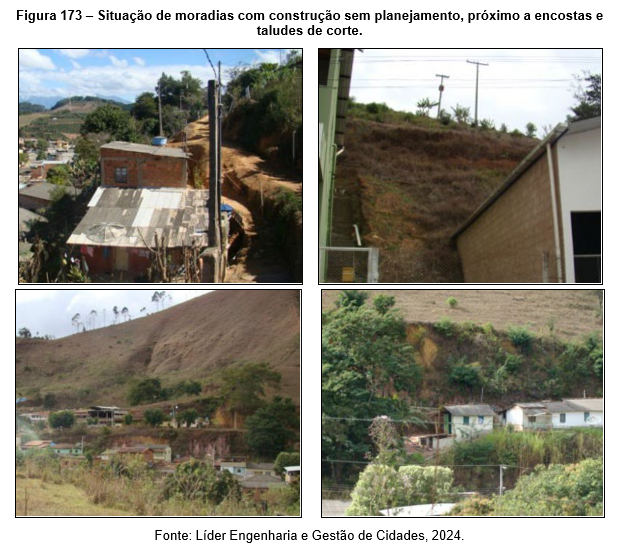
10.1.2 Caracterização das Microbacias Urbanas
Para abordar microbacias urbanas, é necessário primeiro compreender os conceitos de bacia hidrográfica, sub-bacia e microbacia.
Uma bacia hidrográfica é definida como uma área delimitada topograficamente que drena toda a água precipitada para um único ponto de saída, geralmente um rio principal ou corpo d'água maior. Dentro dessa estrutura, encontram-se as sub-bacias, que são áreas de drenagem dos tributários do curso d'água principal. As sub-bacias possuem áreas que variam entre 100 km² e 700 km².
As microbacias são unidades menores de drenagem dentro das sub-bacias. Toda a área de uma microbacia é drenada diretamente para o curso principal de uma sub-bacia. Diversas microbacias se combinam para formar uma sub-bacia. As microbacias possuem áreas inferiores a 100 km² (FAUSTINO, 1996).
Essas divisões são fundamentais para a gestão dos recursos hídricos, especialmente em áreas urbanas, onde a impermeabilização do solo e outras atividades antrópicas afetam significativamente os padrões de drenagem e a qualidade da água. A compreensão das inter-relações entre bacias hidrográficas, sub-bacias e microbacias é essencial para o planejamento e a implementação de medidas de controle de enchentes, gestão de resíduos e proteção dos recursos hídricos.
O município abriga áreas de contribuição de três bacias hidrográficas (Ottobacias nível 5), conforme ilustrado na Figura 174. A bacia hidrográfica do Rio José Pedro (Ottobacias nível 5) faz parte da grande bacia do Rio José Pedro/Manhuaçu (Ottobacias nível 4), que integra a Bacia Hidrográfica do Rio Doce. As outras bacias do município são parte da grande bacia do Rio Itapemirim (Ottobacias nível 4), com alguns afluentes situados no estado vizinho, sendo, portanto, de domínio federal.
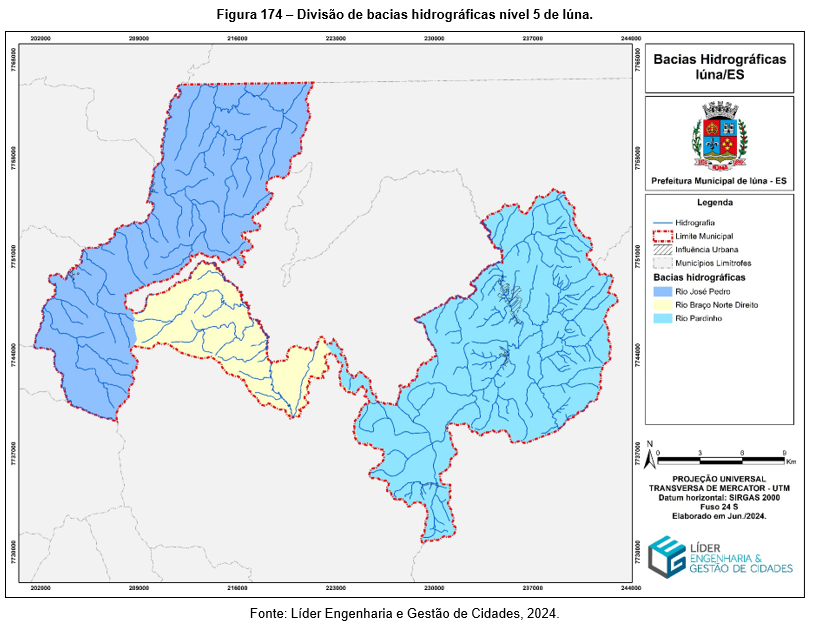
As áreas urbanas da Sede de Iúna, Nossa Senhora das Graças e Santíssima Trindade estão totalmente localizadas na região do Rio Pardinho (Ottobacia nível 5). Na localidade de São João do Príncipe, a área urbana está dentro da região do Rio José Pedro (Ottobacia nível 5), também sendo drenada pelo curso principal desse rio. O distrito de Pequiá é drenado pelos rios José Pedro e Braço Norte Direito.
Visando a condução de um estudo de drenagem urbana para o município de Iúna, foram delimitadas as microbacias com influência direta sobre as áreas urbanas, restringindo-se a análise aos limites do município. Como resultado, foram abrangidas apenas a Sede, Nossa Senhora das Graças e Santíssima Trindade, uma vez que os distritos situados ao norte do município possuem parte de suas microbacias inseridas em áreas pertencentes a municípios vizinhos.
É pertinente ressaltar que, para os distritos localizados nas áreas limítrofes, como Pequiá e São João do Príncipe, a realização de obras de drenagem urbana demanda a elaboração de estudos específicos e detalhados, caso seja do interesse da administração municipal.
Para realizar essa delimitação, utilizou-se o software Arc Hydro Tools, uma extensão do software ESRI ® Arc Map ™ 10.4. As microbacias delimitadas para este estudo encontram-se na Figura 175, Figura 176 e Figura 177.
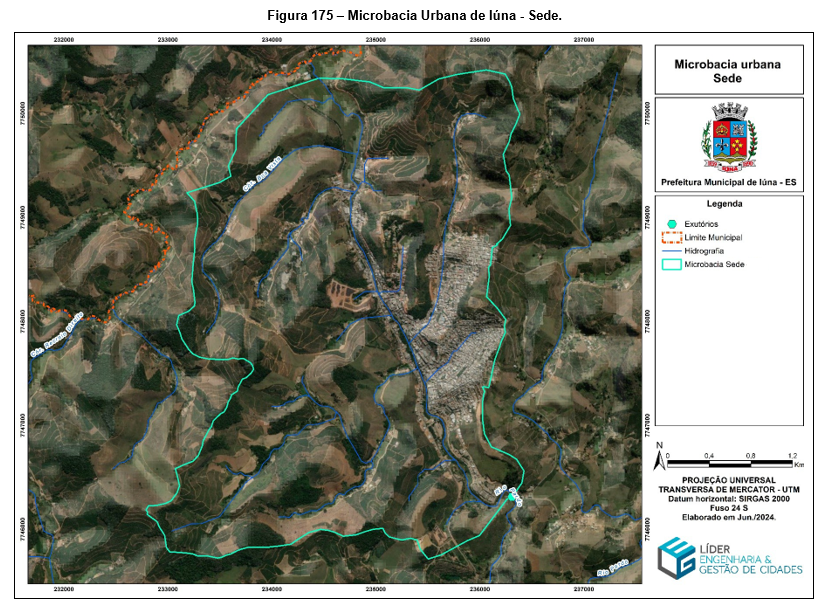
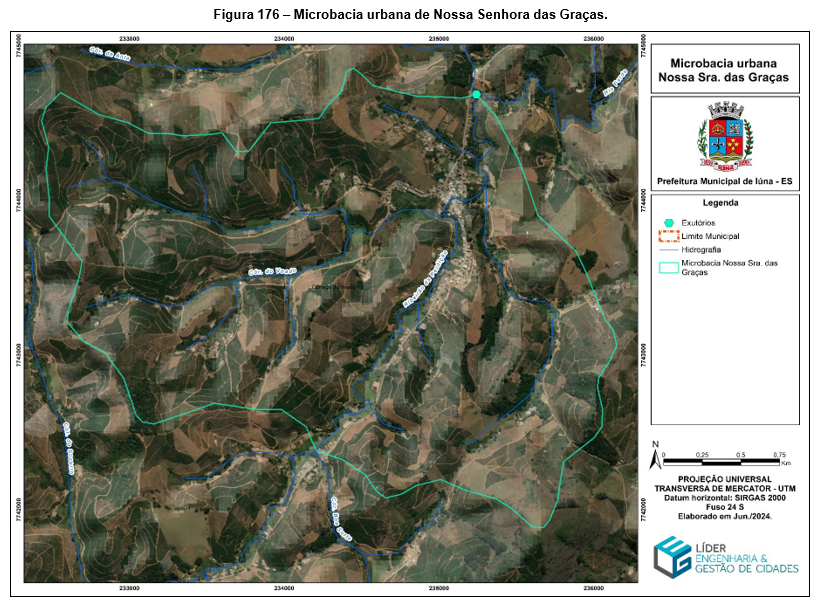
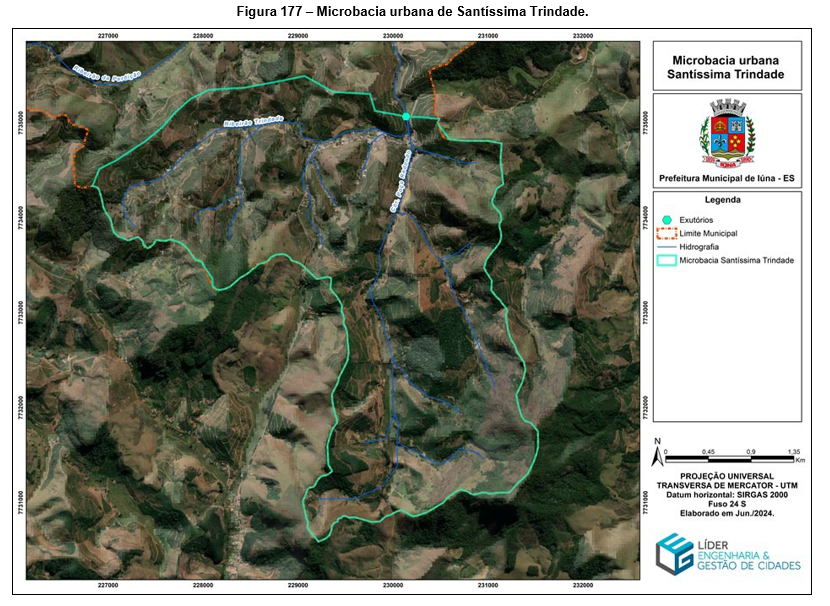
Algumas informações das 3 microbacias delimitadas estão apresentadas na Tabela 78.
Tabela 78 – Microbacias urbanas da Sede e Distritos de Iúna.
| Localidade | Microbacia | Área (km²) | Perímetro (km) | Extensão do canal principal (km) |
| Sede | Rio Pardo | 12,61 | 16,88 | 4,95 |
| Nossa Senhora das Graças | Ribeirão da Perdição | 7,04 | 11,80 | 16,33 |
| Santíssima Trindade | Ribeirão Trindade | 11,58 | 18,14 | 4,76 |
Nos tópicos a seguir serão expostas informações relacionadas com a análise morfométrica, análise linear, análise areal e análise hipsométrica das microbacias de interesse.
a) Análise Morfométrica
A metodologia empregada para a determinação dos parâmetros baseou-se na abordagem proposta por Horton (1945). Esta metodologia foi aplicada considerando as condições ambientais específicas do Brasil, conforme definido por Villela e Mattos (1975) e Christofoletti (1980). Os dados secundários foram armazenados em um ambiente de Sistema de Informações Geográficas (SIG), onde os cálculos foram realizados utilizando ferramentas estatísticas e de geoprocessamento. Para esta finalidade, foram utilizados os seguintes softwares: ESRI ® Arc Map ™ 10.4.1, QGis ™ 3.28.8 e Microsoft ® Excel 2016.
O principal objetivo da análise morfométrica é avaliar as condições de drenagem em diversas microbacias por meio do cálculo de parâmetros, levando em consideração suas características naturais. Neste estudo de caracterização morfométrica, escolheu-se a utilização de uma microbacia a fim de identificar as condições naturais de drenagem.
No programa ESRI ® Arc Map ™ 10.4.1 gerou-se um possível fluxo de drenagem de água com base nos dados do Modelo Digital de Elevação (MDE), e os cálculos foram conduzidos com base nesses dados. As microbacias escolhidas para a análise foram aquelas que exercem influência direta na área urbana do Município.
b) Análise Linear
·Comprimento do canal principal (km) – Lcp:
É a distância que se estende ao longo do canal principal, desde sua nascente até a foz.
·Comprimento da bacia (km) – Lb:
É calculado, através da medição de uma linha reta traçada ao longo do rio principal, desde sua foz até o ponto divisor da bacia.
·Extensão do percurso superficial (km/km²) – Eps:
Representa a distância média percorrida pelas águas entre o interflúvio e o canal permanente. É obtido pela fórmula:
Eps = ½ Dd
Sendo:
Eps = Extensão do percurso superficial (km/km²);
½ = constante;
Dd = Valor da densidade de drenagem (km/km²).
c) Análise Areal
Na análise areal das bacias hidrográficas, estão englobados vários índices, nos quais, intervêm medições planimétricas, além de medições lineares. Pode-se incluir os seguintes índices:
·Coeficiente de compacidade da bacia – Kc:
É a relação entre o perímetro da bacia e a raiz quadrada da área da bacia. Este coeficiente determina a distribuição do deflúvio, ao longo dos cursos d’água, e é em parte responsável pelas características das enchentes, ou seja, quanto mais próximo do índice de referência, que designa uma bacia de forma circular, mais sujeita a enchentes, será a bacia. É obtido através da seguinte fórmula:
Sendo:
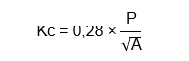
Kc = Coeficiente de compacidade da bacia;
P = Perímetro da bacia (km);
A = Área da bacia (km²).
Pelos índices de referência, 1,0 indica que a forma da bacia é circular e 1,8 indica que a forma da bacia é alongada. Quanto mais próximo de 1,0 for o valor deste coeficiente, mais acentuada será a tendência para maiores enchentes. Isto porque, em bacias circulares, o escoamento será mais rápido, pois a bacia descarregará seu deflúvio direto com maior rapidez, produzindo picos de enchente de maiores magnitudes. Já, nas bacias alongadas, o escoamento será mais lento e a capacidade de armazenamento maior.
· Densidade hidrográfica (rios/km²) - Dh
É a relação entre o número de segmentos de 1ª ordem e a área da bacia, obtida pela fórmula:
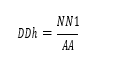
Sendo:
N1 = Número de rios de primeira ordem; A = Área da bacia (km²).
Canali (1986) define três categorias de densidade hidrográfica:
Dh baixa – menos de 5 rios/km²;
Dh média – de 5 a 20 rios/km²;
Dh alta – mais de 20 rios/km².
·Densidade de drenagem (km/km²) - Dd
É a relação entre o comprimento dos canais e a área da bacia. É obtida pela fórmula:
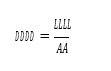
Sendo:
Lt = Comprimento dos canais (km); A = Área da bacia (km²).
Segundo Villela & Mattos (1975), o índice varia de 0,5 km/km², para bacias com pouca capacidade de drenagem, até 3,5 km/km² ou mais, para bacias, excepcionalmente, bem drenadas.
a) Análise Hipsométrica
· Altura do canal principal (m) – Hcp
Para encontrar a altura do canal principal, subtrai-se a cota altimétrica encontrada na nascente pela cota encontrada na foz.
·Altura da bacia (m) – Hb
É a diferença altimétrica entre o ponto mais elevado da bacia (crista) e o ponto mais baixo (foz).
· Gradiente do canal principal (m/km) – Gcp
É a relação entre a altura do canal e o comprimento do respectivo canal, indicando a declividade do curso d’água. É obtido pela fórmula:
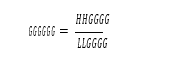
Sendo:
Gcp = Gradiente do canal principal (m/km); Hcp = Altura do canal principal (m);
Lcp = Comprimento do canal principal (km).
Este gradiente, também, pode ser expresso em porcentagem:
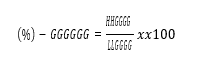
· Resultados
A análise da rede de drenagem permitiu classificar e ordenar os principais cursos de água, resultando na definição da hierarquia fluvial de cada microbacia, conforme aponta a Tabela 79.
Tabela 79 – Hierarquia Fluvial das microbacias.
| Hierarquia Fluvial |
| Localidade | Microbacias | Ordem | Quantidade | Extensão (km) |
| Sede | Rio Pardo | Primária | 18 | 14,48 |
| Secundária | 5 | 2,46 | ||
| Terciária | 2 | 1,91 | ||
| Quaternária | 12 | 5,41 | ||
| Nossa Senhora das Graças | Ribeirão da Perdição | Primária | 11 | 7,13 |
| Secundária | 5 | 2,67 | ||
| Terciária | 1 | 0,68 | ||
| Quaternária | 6 | 3,00 | ||
| Santíssima Trindade | Ribeirão Trindade | Primária | 13 | 17,99 |
| Secundária | 7 | 19,90 | ||
| Terciária | 4 | 9,37 | ||
| Quaternária | - | - |
Também foram analisados os parâmetros lineares, areais e hipsométricos das microbacias localizadas dentro do perímetro municipal de Iúna, cujos dados estão ilustrados na Tabela 80.
Tabela 80 – Dados extraídos das microbacias.
| Microbacias urbana | Parâmetros | Valor |
| Sede – Rio Pardo | Área da bacia - A (Km²) | 12,61 |
| Perímetro da bacia - P (Km) | 16,88 | |
| Comprimento do canal principal - Lcp (Km) | 4,95 | |
| Altura do canal principal - Hcp (m) | 26 | |
| Gradiente do canal principal - Gcp (m/Km) | 5,25 | |
| Extensão do Percurso Superficial - Eps (Km/Km²) | 0,96 | |
| Comprimento da bacia - Lb (Km) | 4,49 | |
| Coeficiente de compacidade (Fator de forma) - Kc | 1,33 | |
| Densidade hidrográfica - Dh (rios/Km²) | 1,43 | |
| Densidade de drenagem - Dd (Km/Km²) | 1,92 | |
| Altura da bacia - Hb (m) | 36 | |
| Nossa Senhora das Graças – Ribeirão da Perdição | Área da bacia - A (Km²) | 7,04 |
| Perímetro da bacia - P (Km) | 11,8 | |
| Comprimento do canal principal - Lcp (Km) | 3 | |
| Altura do canal principal - Hcp (m) | 15 | |
| Gradiente do canal principal - Gcp (m/Km) | 5 | |
| Extensão do Percurso Superficial - Eps (Km/Km²) | 0,96 | |
| Comprimento da bacia - Lb (Km) | 3 | |
| Coeficiente de compacidade (Fator de forma) - Kc | 1,25 | |
| Densidade hidrográfica - Dh (rios/Km²) | 1,56 | |
| Densidade de drenagem - Dd (Km/Km²) | 1,91 | |
| Altura da bacia - Hb (m) | 17 | |
| Santíssima Trindade – Ribeirão Trindade | Área da bacia - A (Km²) | 11,58 |
| Perímetro da bacia - P (Km) | 18,14 | |
| Comprimento do canal principal - Lcp (Km) | 4,76 | |
| Altura do canal principal - Hcp (m) | 183 | |
| Gradiente do canal principal - Gcp (m/Km) | 38,45 | |
| Extensão do Percurso Superficial - Eps (Km/Km²) | 2,04 | |
| Comprimento da bacia - Lb (Km) | 4,55 | |
| Coeficiente de compacidade (Fator de forma) - Kc | 1,49 | |
| Densidade hidrográfica - Dh (rios/Km²) | 1,12 | |
| Densidade de drenagem - Dd (Km/Km²) | 4,08 | |
| Altura da bacia - Hb (m) | 193 |
A microbacia do Rio Pardo possui uma área de 12,61 km² e um perímetro de 16,88 km. O comprimento do canal principal é de 4,95 km, indicando um curso d'água relativamente curto em relação à área da bacia. A altura do canal principal é de 26 metros, resultando em um gradiente de 5,25 m/km, o que sugere uma declividade suave. A extensão do percurso superficial é de 0,96 km/km², indicando uma densidade de drenagem moderada. O coeficiente de compacidade é 1,33, sugerindo uma forma intermediária entre circular e alongada. A densidade hidrográfica é de 1,43 rios/km², considerada baixa, e a densidade de drenagem é de 1,92 km/km², indicando uma capacidade de drenagem moderada. A altura da bacia é de 36 metros, sugerindo um relevo relativamente plano.
A microbacia do Ribeirão da Perdição tem uma área menor de 7,04 km² e um perímetro de 11,8 km. O comprimento do canal principal é de 3 km, com um gradiente de 5 m/km. Comparativamente, esta bacia tem uma densidade hidrográfica ligeiramente maior que a do Rio Pardo, o que pode indicar uma maior quantidade de rios por unidade de área. O coeficiente de compacidade de 1,25 sugere uma forma um pouco mais compacta em comparação com a microbacia do Rio Pardo, podendo levar a um escoamento mais rápido da água superficial.
A microbacia do Ribeirão Trindade possui uma área de 11,58 km² e um perí- metro de 18,14 km. O comprimento do canal principal é de 4,76 km, o que é relativamente curto. A altura do canal principal é de 183 metros, resultando em um gradiente de 38,45 m/km, indicando uma declividade muito acentuada. A extensão do percurso superficial é de 2,04 km/km², sugerindo uma densidade de drenagem alta. O coeficiente de compacidade é 1,49, indicando uma forma intermediária, menos compacta que as outras microbacias, o que pode influenciar a distribuição do escoamento. A densidade hidrográfica é de 1,12 rios/km², considerada moderada, e a densidade de drenagem é de 4,08 km/km², sugerindo uma capacidade de drenagem muito alta. A altura da bacia é de 193 metros, indicando um relevo acentuado.
Comparando as três microbacias, nota-se que o Ribeirão Trindade possui ca- racterísticas distintas, com um gradiente muito mais elevado e uma densidade de drenagem maior, o que sugere uma bacia com potencial para escoamento rápido e erosão significativa. A microbacia do Rio Pardo e do Ribeirão da Perdição possuem gradientes mais moderados e coeficientes de compacidade semelhantes, indicando características de escoamento mais suaves e controladas.
A densidade hidrográfica do Ribeirão da Perdição é ligeiramente maior, indicando uma maior frequência de rios e cursos d'água na área, o que pode influenciar a disponibilidade de água e a resposta da bacia a eventos de precipitação.
Em termos de gestão de recursos hídricos, cada microbacia apresenta desafios e oportunidades específicas que devem ser levadas em conta para planejamento e implementação de estratégias de manejo e conservação da água.
10.1.3 Estudos Hidrológicos
Os estudos hidrológicos desempenham um papel fundamental ao permitir o dimensionamento cuidadoso e econômico das estruturas, levando em consideração o desempenho de todo o sistema de drenagem. A análise hidrológica é de suma importância, uma vez que fornece as metodologias e equações necessárias para caracterizar as bacias hidrográficas abordadas neste estudo. O objetivo é estimar as vazões de enchente utilizadas no dimensionamento de obras hidráulicas.
Para a análise, considerou-se as microbacias identificadas durante o presente plano, pois todas possuem influência direta na área urbanizada do Município de Iúna.
a) Tempo de concentração
O tempo de concentração de uma bacia pode ser definido, de acordo com a ABNT NBR 10.844 como o “intervalo de tempo decorrido entre o início da chuva e o momento em que toda a área de contribuição passa a contribuir para determinada seção transversal de um condutor ou calha”, ou seja, corresponde ao tempo que a partícula de água de chuva que cai no ponto mais remoto da bacia leva para atingir a seção em estudo, escoando superficialmente.
A literatura técnica especializada apresenta diversas equações para o cálculo do tempo de concentração de bacias de drenagem. Em uma delas, definida por Franco (2004), o tempo de concentração foi determinado por meio da equação da California Culverts Practice – Fórmula Empírica, exibida a seguir:
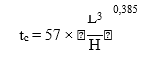
Onde:
tc = tempo de concentração (min);
L = comprimento do curso d’água principal em km; H = diferença de altitude em metros.
b) Coeficiente de escoamento superficial
O coeficiente de escoamento superficial representa a relação entre o volume de escoamento livre na superfície e a quantidade total de precipitação. Segundo o método racional, a obtenção desse coeficiente requer elevada precisão, dada a influência de várias variáveis, como infiltração, armazenamento, evaporação e detenção. Todas essas variáveis tornam imperativa a adoção de um valor apropriado, de forma empírica.
Para a microdrenagem urbana, o método mais utilizado é o do coeficiente de run off, que consiste na utilização de valores tabelados de relação entre escoamento superficial e volume precipitado. Por exemplo, um coeficiente de run off de 0,90 significa que 90% da precipitação são escoadas superficialmente e somente 10% são computados como infiltração ou perdas iniciais. É um método bastante simples e que não considera perdas por evapotranspiração, acumulação em depressões da superfície, etc.
Este método de separação do escoamento é utilizado em conjunto com um método de transformação de chuva em vazão, denominado de método racional.
Foi apresentado por Wilken (1978), uma tabela com proposição de valores de coeficiente de run off (C), conforme a Tabela 81.
Tabela 81 – Valores de Coeficiente de run off.
| Zonas | C (coeficiente) |
| Área Edificadas | 0,70 |
| Solo Exposto | 0,35 |
| Vegetação Rasteira | 0,20 |
| Vegetação Densa | 0,05 |
Para o atual estudo, serão utilizados valores de run off que possuem variações do valor do coeficiente C de acordo com as características específicas de cada bacia analisada (Tabela 82).
Tabela 82 – Variação Coeficiente de run off.
| Natureza da Superfície | C |
| Telhados perfeitos, sem fuga | 0,70 a 0,95 |
| Superfícies asfaltadas e em bom estado | 0,85 a 0,90 |
| Pavimentações de paralelepípedos, ladrilhos ou blocos de madeira com juntas bem tomadas | 0,75 a 0,85 |
| Para as superfícies anteriores sem as juntas tomadas | 0,50 a 0,70 |
| Pavimentações de blocos inferiores sem as juntas tomadas | 0,40 a 0,50 |
| Estradas macadamizadas | 0,25 a 0,60 |
| Estradas e passeios de pedregulho | 0,15 a 0,30 |
| Superfícies não revestidas, pátios de estrada de ferro e terrenos descampados | 0,10 a 0,30 |
| Parques, jardins, gramados e campinas, dependendo da declividade do solo e natureza do subsolo | 0,01 a 0,20 |
O cálculo do coeficiente de escoamento superficial, por meio do coeficiente de run off, é empregado para calcular os coeficientes de deflúvio em bacias urbanas, considerando valores ponderados. Quanto mais próximo de 1 for esse coeficiente,
maior será a tendência de escoamento completo da água da chuva na área analisada, enquanto valores mais próximos de 0 indicam uma maior taxa de infiltração no solo da mesma área.
c) Uso e ocupação do solo urbano
Nesta etapa da análise, realizou-se a avaliação do uso e ocupação do solo em oito microbacias urbanas que desempenham um papel fundamental no estudo hidrológico e impactam direta ou indiretamente o sistema de drenagem urbana do município. Esse procedimento foi conduzido por meio da técnica de fotointerpretação, utili- zando imagens de satélite para a identificação e categorização dos elementos, seguida pelo seu agrupamento. Durante esse processo, elementos visuais semelhantes nas imagens foram generalizados por meio de representações, utilizando polígonos com cores correspondentes.
Para a classificação, foram adotadas cinco categorias distintas, considerando que cada uma delas possui diferentes tendências ao escoamento da água e à infiltração. As classes de uso de solo que foram utilizadas no estudo estão listadas a seguir:
·Solo exposto;
·Vegetação densa;
·Vegetação rasteira;
·Área edificado;
·Vias pavimentadas.
Posteriormente à definição e geração dos polígonos das classes citadas acima, as medidas de área de cada classe criada e seu percentual em relação a área das microbacias foram calculadas por meio dos polígonos que as representam, sendo elas apresentadas na Tabela 83.
Tabela 83 – Classes de uso do solo utilizadas por microbacia.
| Microbacia | Classe de uso | Área (km²) | Porcentagem (%) |
| Sede – Rio Pardo | Área edificada (km²) | 2,33 | 18,5 |
| Solo exposto (km²) | 0,35 | 2,8 | |
| Vegetação densa (km²) | 1,41 | 11,2 | |
| Vegetação rasteira (km²) | 8,46 | 67,1 | |
| Via pavimentada (km²) | 0,05 | 0,4 | |
| Nossa Senhora das Graças –Ribeirão da Perdição | Área edificada (km²) | 0,33 | 4,7 |
| Solo exposto (km²) | 0,02 | 0,3 | |
| Vegetação densa (km²) | 0,44 | 6,3 | |
| Vegetação rasteira (km²) | 6,22 | 88,4 | |
| Via pavimentada (km²) | 0,03 | 0,4 | |
| Santíssima Trindade – Ribeirão Trindade | Área edificada (km²) | 0,41 | 3,5 |
| Solo exposto (km²) | 0,04 | 0,3 | |
| Vegetação densa (km²) | 2,04 | 17,6 | |
| Vegetação rasteira (km²) | 9,07 | 78,3 | |
| Via pavimentada (km²) | 0,02 | 0,2 |
A seguir a Figura 178, Figura 179 e a Figura 180 mostram o mapa da classificação do uso e ocupação do solo da área urbana corresponde a área de abrangência das microbacias.
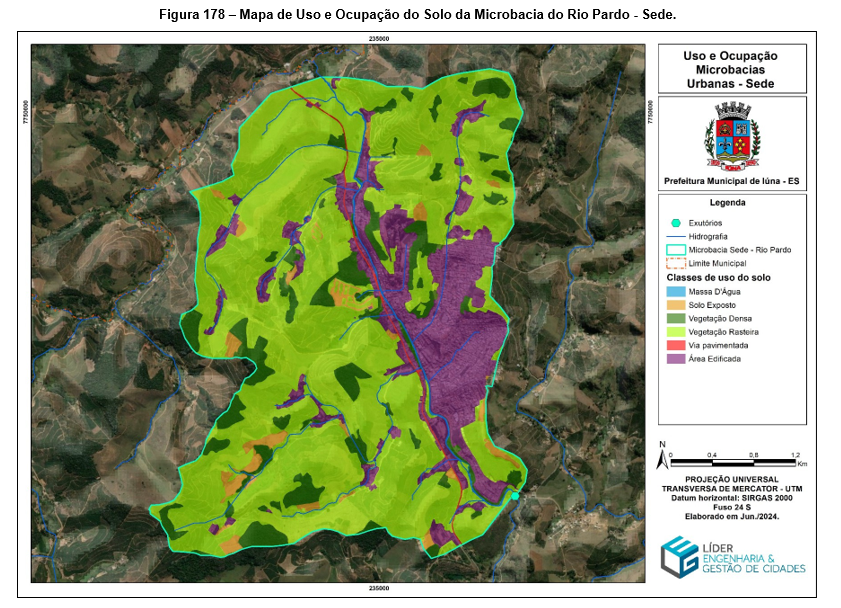
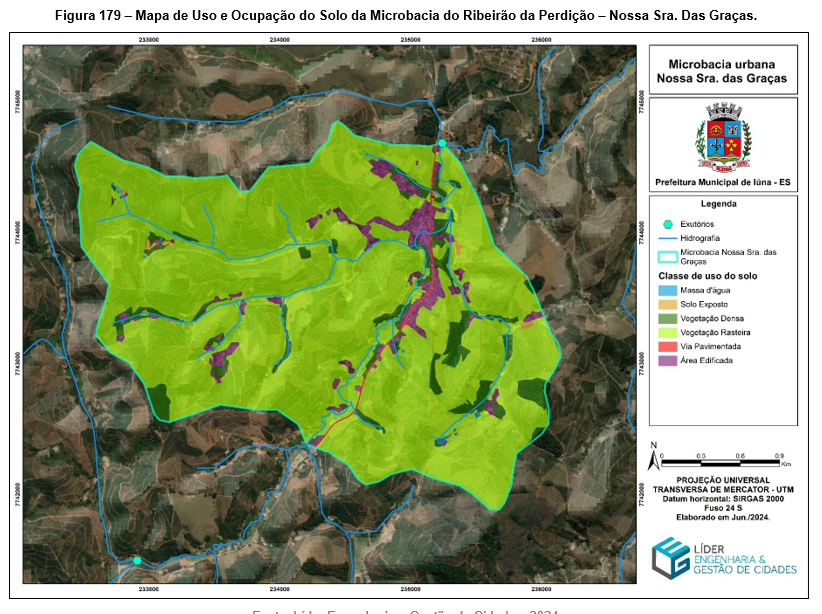
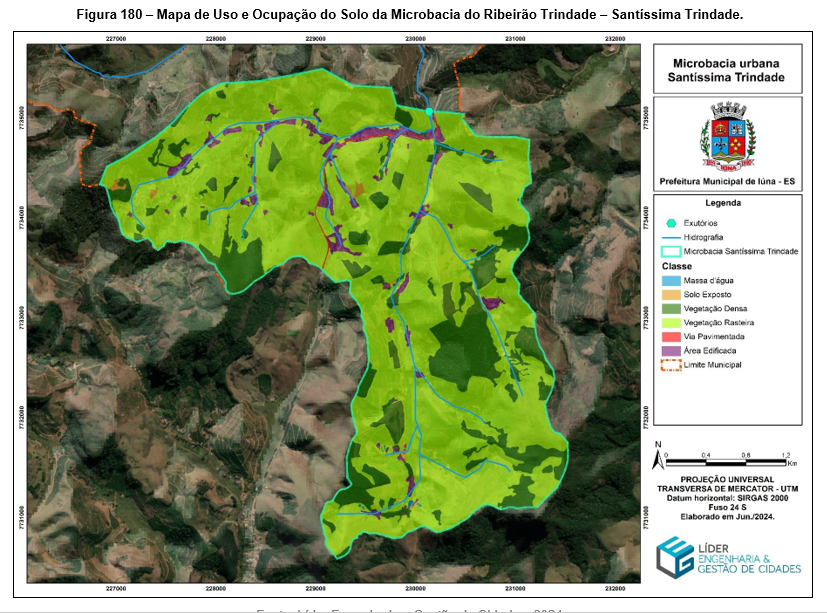
d) Intensidade da chuva
As equações da intensidade da chuva são fórmulas que dependem de estudos hidrológicos realizados na região de estudo. Esses estudos têm por finalidade a ob- tenção de uma equação que melhor descreva o regime de chuvas do local. A determinação da intensidade da chuva é realizada por meio de modelos estatísticos, que utilizam a observação de extensas séries de medidas pluviométricas para formular as curvas IDF (Intensidade-Duração-Frequência) a partir de eventos críticos.
A Estação Pluviométrica Iúna, identificada pelo código ANA 02041013, está lo- calizada na latitude 20°20’45’’S e longitude 41°32’15’’W, dentro do município de Iúna, Espírito Santo (ES). Em operação desde 1948, a estação é atualmente gerida pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e operada pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM).
Na elaboração da equação Intensidade-Duração-Frequência (IDF) para a Estação Pluviométrica de Iúna, com o código ANA 02041013, foram seguidos os procedimentos descritos a seguir, utilizando a série histórica das precipitações diárias máximas anuais, referentes ao período hidrológico disponível, conforme mostra a Tabela 84.
A distribuição de frequência ajustada aos dados diários foi a exponencial, com os parâmetros calculados pelo método dos momentos-L, reconhecido por sua robustez na estimativa de parâmetros de distribuições de probabilidade. Para desagregar os quantis diários em outras durações, foram empregadas as relações IDF estabelecidas pela COPASA em 2001 para o município de Santa Cruz do Caparaó, ES, devido à proximidade geográfica e às características climatológicas semelhantes.
Tabela 84 – Série de dados estação de Iúna – valor máximo por ano hidrológico (mm).
| Data | Prec. Máx. diária | Data | Prec. Máx. diária |
| 01/04/1954 | 45,20 | 13/01/1985 | 73,20 |
| 30/12/1954 | 48,00 | 06/01/1986 | 65,20 |
| 03/03/1956 | 96,40 | 08/11/1986 | 53,20 |
| 28/12/1956 | 70,00 | 10/11/1987 | 71,00 |
| 20/04/1958 | 56,00 | 15/09/1989 | 132,20 |
| 03/11/1958 | 76,90 | 05/04/1990 | 56,60 |
| 07/03/1960 | 70,60 | 27/03/1991 | 92,31 |
| 14/02/1961 | 66,60 | 15/11/1991 | 71,60 |
| 12/11/1961 | 138,40 | 22/01/1993 | 78,10 |
| 20/12/1962 | 84,40 | 25/10/1993 | 85,00 |
| 14/01/1964 | 72,41 | 24/12/1994 | 64,00 |
| 28/10/1964 | 72,40 | 01/01/1996 | 126,00 |
| 15/01/1966 | 56,40 | 27/02/1997 | 100,30 |
| 29/12/1966 | 53,40 | 25/03/1998 | 78,50 |
| 06/01/1968 | 61,60 | 23/11/1998 | 76,80 |
| 09/11/1968 | 64,80 | 20/10/1999 | 55,60 |
| 25/12/1969 | 62,40 | 18/12/2000 | 121,20 |
| 09/03/1971 | 60,40 | 18/02/2002 | 90,80 |
| 20/11/1971 | 108,60 | 15/01/2003 | 71,41 |
| 14/11/1972 | 64,40 | 12/01/2004 | 129,30 |
| 29/10/1973 | 98,80 | 01/03/2005 | 97,30 |
| 26/03/1975 | 71,20 | 03/12/2005 | 83,80 |
| 27/11/1975 | 52,40 | 28/12/2006 | 71,40 |
| 19/12/1976 | 32,40 | 31/01/2008 | 46,00 |
| 22/11/1977 | 48,20 | 18/12/2008 | 92,30 |
| 01/02/1979 | 46,80 | 05/12/2009 | 111,00 |
| 02/01/1980 | 58,20 | 02/11/2010 | 89,00 |
| 02/03/1981 | 58,40 | 29/12/2011 | 80,00 |
| 12/11/1981 | 73,60 | 28/02/2013 | 74,40 |
| 05/12/1982 | 41,20 | 12/12/2013 | 59,00 |
| 20/10/1983 | 43,20 | 29/11/2014 | 80,50 |
A equação adotada para Iúna é do tipo:
i = { [ ( aLn (T) + b ) * Ln (t + ( δ / 60 ) ) ] + cLn (T) + d } / t
Onde:
· i é a intensidade da chuva (mm/h);
·T é o tempo de retorno (anos);
· t é a duração da precipitação (horas);
·a, b, c, d, δ são parâmetros da equação.
A intensidade da precipitação indica a quantidade (altura) precipitada em determinado tempo. Já o conceito de período de retorno (TR) pode ser expresso como o “número médio de anos em que, para a mesma duração de precipitação, uma determinada intensidade pluviométrica igualada ou ultrapassada apenas uma vez” (NBR 10.844).
Para a Estação Iúna, a equação Intensidade-Duração-Frequência (IDF) apresenta diferentes parâmetros para durações variando de 10 minutos a 24 horas, divididos em dois intervalos de tempo, conforme quadro abaixo.
Quadro 50 – Parâmetros da equação de chuva de Iúna.
| Duração da precipitação | a | b | c | d | δ |
| 10 min a 1 h | 9,1033 | 17,0744 | 17,3654 | 32,5444 | 8,1 |
| 1 h até 24 h | 2,4242 | 4,5453 | 22,6116 | 42,3764 | -48,9 |
Os valores das constantes supracitadas, do tempo de concentração e do valor de intensidade da chuva para diferentes tempos de retorno (5, 10, 50 e 100 anos), para cada microbacia do município, estão apresentados na Tabela 85.
Tabela 85 – Intensidade da chuva para diferentes Tempo de Retorno.
| Intensidade para diferentes TR (mm/h) |
| Microbacia | Tc(min) | 5 anos | 10 anos | 50 anos | 100 anos |
| Microbacia Sede – Rio Pardo | 90,98 | 40,1 | 48,1 | 66,6 | 74,6 |
| Microbacia Nossa Sra. Das Graças – Ribeirão da Perdição | 68,11 | 64,5 | 77,3 | 107,2 | 120 |
| Microbacia Santíssima Trindade – Ribeirão Trindade | 45,56 | 75,5 | 90,5 | 125,4 | 140,4 |
e) Método para vazão de pico
Para áreas maiores que 2 km² ou 200 ha, o método Racional apresenta distorções, superestimando as vazões de cheias. Desse modo, para as microbacias urba- nas de Mandaguari será adotado o Método Racional Modificado (I-Pai-Wu), para obter dados mais condizentes com a realidade das bacias de estudo.
O Método Racional Modificado é um aperfeiçoamento do Método Racional e considera fatores intervenientes da bacia hidrográfica, como sua forma, a distribuição da chuva e o armazenamento. A aplicação desse método é mais precisa, porque considera variáveis importantes no desenvolvimento de uma cheia (SCHLICKMANN & BACK, 2019).
O efeito do armazenamento de água na bacia, que ocorre em pontos localizados nos leitos de cursos d’água ou mesmo em galerias e obras afins, é levado em consideração através de um expoente redutor n (adota-se usualmente n = 0,9) aplicado sobre o parâmetro A (área de drenagem da bacia).
O método I-Pai-Wu é definido pela seguinte expressão (TOMAZ, 2014):
Q = 0,278 × C × i × A0,9 × K
Onde:
Q = vazão (m³/s);
C = coeficiente de escoamento superficial ou deflúvio;
i = intensidade de precipitação (mm/h);
A = área da bacia (km²);
K = coeficiente de distribuição espacial da chuva (%).
A obtenção do Coeficiente de Deflúvio depende de fatores da bacia hidrográfica analisada, tais como tipo de solo, declividade, uso da terra e condições de cobertura.
Segundo Tomaz (2014), o coeficiente C pode ser determinado pela equação:
2C = 1+ F × C2 C1
Onde:
C1 = Coeficiente de forma da bacia;
C2 = Coeficiente volumétrico de escoamento;
F = Fator de forma.
Para definição de C1, é necessário obter o valor de F, com a seguinte equação:
L AF = 2 × �1�2�π
Onde:
L = Comprimento do talvegue do curso d’água (km);
A = Área da bacia contribuinte (km²).
Portanto, para encontrar o valor de C1 deve-se utilizar a formula:
Onde:
C1 = Coeficiente de forma da bacia;
F = Fator de forma.
C1 =42 + F
O Fator de Forma ou Índice de Gravelius é expresso como sendo a razão entre a largura média da bacia e o comprimento axial da mesma. O comprimento axial é medido da saída da bacia até seu ponto mais remoto, seguindo-se as grandes curvas do rio principal, sem considerar os meandros. A largura média é obtida dividindo-se a área da bacia em faixas perpendiculares, onde o polígono formado pela união dos pontos extremos dessas perpendicularidades se aproxime da forma da bacia real. Pode ser também obtido pela seguinte fórmula:
B Ff = L
Onde:
Ff = Fator de forma;
L = comprimento da bacia;
B = largura média.
Sendo a largura média obtida pela seguinte fórmula:
1𝑛𝑛𝑛𝑛× � 𝑈𝑈𝐵𝐵𝑙𝑙
A Figura 181 representa a determinação da largura média da bacia:
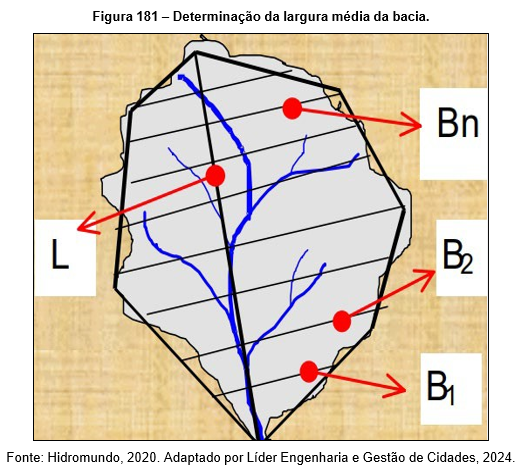
De acordo com o DAEE (2012), o coeficiente volumétrico de escoamento (C2) está relacionado com grau de impermeabilidade da superfície do solo. Podemos ado- tar o C2 de acordo com as características de cada microbacia utilizando a Tabela 86.
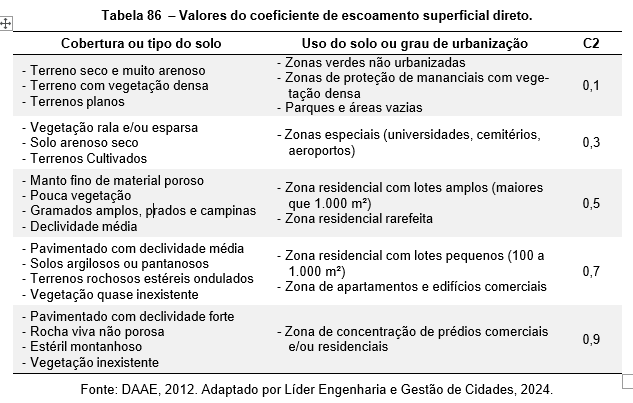
Com isso, a Tabela 87 apresenta os coeficientes de deflúvio encontrados para cada uma das microbacias urbanas:
Tabela 87 – Coeficientes de deflúvio das microbacias urbanas.
| Microbacias | Coeficiente de Deflúvio |
| Microbacia Sede – Rio Pardo | 0,32 |
| Microbacia Nossa Senhora das Graças – Ribeirão da Perdição | 0,23 |
| Microbacia Santíssima Trindade – Ribeirão Trindade | 0,21 |
O coeficiente de distribuição espacial da chuva (K), é dado em função do tempo de concentração das chuvas e da área de drenagem. Seu valor pode ser obtido por meio do gráfico, representado no Gráfico 25, extraído do manual “Diretrizes de Projeto para Estudos Hidrológicos – Método de I-Pai-Wu” (São Paulo, 1999).
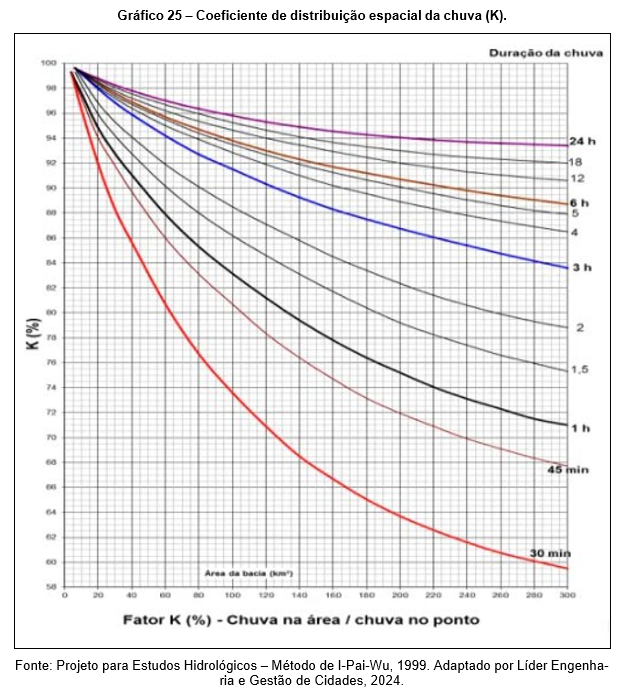
Após a realização dos cálculos através do método I-PAI-WU, foram obtidas as vazões de projeto para as microbacias. A Tabela 88 mostra as vazões de projeto estimadas das microbacias, as quais são ilustradas no Gráfico 26.
Tabela 88 – Vazão de projeto pelo método I-PAI-WU, Iúna/ES.
| Vazão de Projeto Método I-PAI-WU (m³/s) |
| Microbacia | c | 5 anos | 10 anos | 50 anos | 100 anos |
| Microbacia Sede – Rio Pardo | 0,32 | 26,95 | 32,33 | 44,77 | 50,15 |
| Microbacia Nossa Sra. Das Graças – Ribeirão da Perdição | 0,23 | 19,30 | 23,13 | 32,08 | 35,91 |
| Microbacia Santíssima Trindade – Ribeirão Trindade | 0,21 | 30,67 | 36,76 | 50,94 | 57,03 |
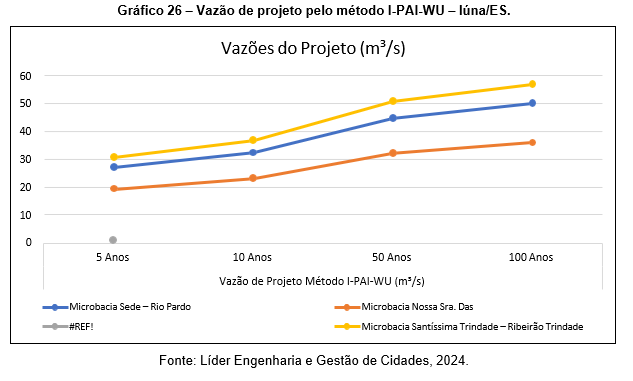
10.1.4 Estrutura de Tarifação, Receitas Operacionais, despesas de custeio e investimentos
Não foram fornecidos detalhes específicos sobre como é feita a tarifação para a drenagem e manejo das águas pluviais no município. No entanto, com base nos indicadores disponíveis, é possível analisar a estrutura financeira associada aos serviços de drenagem e manejo das águas pluviais.
A despesa média praticada para os serviços de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas variou ao longo dos anos. Em 2017, o valor foi de R$ 50,00 por unidade/ano, enquanto em 2018, a despesa média caiu para R$ 32,26. Em 2019 e 2020, houve um aumento para R$ 60,67 e R$ 61,48, respectivamente. Em 2021, a despesa média reduziu significativamente para R$ 24,53, e em 2022, aumentou novamente para R$ 43,05.
A participação da despesa total dos serviços de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas na despesa total do município apresentou variações menores. Em 2017, essa participação foi de 0,4%, mantendo-se em torno de 0,3% em 2018 e 2021.
Em 2019 e 2020, aumentou para 0,8%, e em 2022, foi novamente de 0,4%.
No que diz respeito às despesas per capita com serviços de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, os valores foram de R$ 17,56 em 2017, diminuindo para R$ 12,05 em 2018. Em 2019 e 2020, a despesa per capita aumentou para R$ 31,66 e R$ 31,94, respectivamente. Em 2021, reduziu para R$ 15,32, com dados não disponíveis para 2022.
O investimento per capita em drenagem e manejo das águas pluviais urbanas também variou. Em 2019, foi de R$ 23,91, aumentando para R$ 27,19 em 2020 e reduzindo para R$ 21,46 em 2021. Dados para 2022 não foram fornecidos. O desembolso de investimentos per capita seguiu uma tendência semelhante, com valores de R$ 20,62 em 2017, R$ 12,05 em 2018, e aumentando para R$ 27,19 em 2020, com dados não disponíveis para 2021.
A taxa de cobertura de pavimentação e meio-fio na área urbana do município apresentou uma melhoria ao longo dos anos, alcançando 92,9% em 2022, comparado a 89,3% em 2017. A taxa de cobertura de vias públicas com redes ou canais pluviais subterrâneos foi de 71,4% em 2017 e 2021, aumentando para 73,2% em 2022. Já a parcela de cursos d’água naturais perenes com canalização fechada foi de 50% até 2019, reduzindo para 40% em 2020 e 2021.
10.1.5 Análise Crítica
A análise crítica do Sistema de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas (SDMAPU) de Iúna, considerando o Plano Diretor de Águas Pluviais e Fluviais (PDAP) de 2022 e os indicadores disponíveis, revela as seguintes questões:
Embora Iúna tenha um PDAP em vigor desde 2022, ainda existem lacunas sig- nificativas no manejo das águas pluviais. A falta de priorização contínua e a alocação inadequada de recursos financeiros são evidentes. Apesar da existência de um plano diretor, a falta de legislação atualizada e de mecanismos adequados de implementação pode comprometer a eficácia das medidas propostas. A ausência de um Código Municipal de Obras atualizado e a revisão do zoneamento urbano, embora propostas, ainda não foram completamente implementadas, o que afeta a eficácia das intervenções propostas pelo PDAP.
A inexistência de sistemas de alerta, mapeamento de áreas de risco e dados históricos de inundações representa um problema crítico. Embora o PDAP contemple a necessidade de monitoramento e alerta, a falta de investimento em tecnologias e a priorização de outras necessidades podem ter limitado a implementação efetiva des- ses sistemas. A carência de dados atualizados e de tecnologias adequadas para o monitoramento contribui para uma resposta inadequada a eventos de inundação e à gestão do risco associado.
Além disso, a falta de dados completos e a ausência de uma série histórica robusta prejudicam a capacidade de monitorar e avaliar adequadamente o desempenho do sistema de drenagem. Deficiências nos sistemas de coleta de dados e falhas nos processos de registro estão evidenciadas, assim como a falta de colaboração interinstitucional. Essas lacunas dificultam a capacidade de planejamento e implementação de melhorias necessárias com base em informações precisas e atualizadas.
Em suma, embora o PDAP de 2022 estabeleça diretrizes importantes para o manejo das águas pluviais, a falta de atualização e implementação eficaz das políticas, juntamente com deficiências em tecnologia e coleta de dados, compromete a eficiência do sistema de drenagem em Iúna. A resolução dessas questões requer uma abordagem integrada que inclua a atualização das legislações, a melhoria das infraestruturas de monitoramento e a implementação de sistemas de alerta e gestão de dados mais robustos.
10.2 PROGNÓSTICO DO SDMAPU
O sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas demanda a implementação de medidas destinadas a corrigir e prevenir problemas na rede de drenagem. Essas medidas podem ser categorizadas em medidas estruturais e não estrutu- rais. As medidas estruturais envolvem a execução de obras físicas, como bueiros, canaletas e sistemas de tubulação, além de bacias de detenção e retenção, pavimentos permeáveis e canais de drenagem etc., que são estratégias importantes para direcionar a água pluvial de forma eficaz.
Por outro lado, as medidas não estruturais concentram-se em abordagens que não demandam a construção de infraestrutura física. Elas incluem a implementação de normas, regulamentos e programas que visam disciplinar o uso e ocupação do solo, estabelecer sistemas de alerta e promover a conscientização da população. A educação sobre a importância da manutenção dos dispositivos de drenagem também faz parte dessas medidas não estruturais. A combinação equilibrada entre medidas estruturais e não estruturais é fundamental para uma gestão eficaz das águas pluviais urbanas, promovendo resiliência e sustentabilidade nas áreas urbanas.
10.2.1 Medidas Estruturais
a) Medidas de Controle para Redução do Assoreamento
Os impactos decorrentes da urbanização em um ambiente natural são observáveis por meio da análise do ciclo hidrológico. Em qualquer ecossistema natural, a configuração é influenciada pelas águas e outros fatores físicos. O gerenciamento das águas pluviais ocorre principalmente por meio da evapotranspiração, infiltração e escoamento superficial.
Conforme indicado por Tucci (2003), o escoamento das águas pluviais pode resultar em inundações e impactos em áreas ribeirinhas, especialmente devido à urbanização dos centros urbanos. Esses impactos podem ocorrer de maneira isolada ou combinada. Nas áreas ribeirinhas, a ocorrência de inundações está vinculada à presença de dois leitos nos rios: um leito menor, onde a água flui na maior parte do tempo, e um leito maior, geralmente inundado pelo menos uma vez a cada dois anos, quando o escoamento ultrapassa os níveis do leito menor. Isso afeta áreas suscetíveis a inundações, como fundos de vales, situadas nas partes mais baixas das bacias hidrográficas, próximas aos cursos d'água.
A urbanização intensifica os eventos de inundação devido ao aumento da densidade de construções e infraestrutura viária, resultando em maior impermeabilização do solo. Isso, por sua vez, leva ao aumento das velocidades e volumes de escoamento superficial, reduzindo a recarga do lençol freático pela infiltração. Esse impacto se reflete negativamente nos cursos de drenagem natural, causando erosão, assoreamento e enchentes.
O assoreamento (Figura 182), caracterizado pelo acúmulo de sedimentos nos leitos dos rios, é um processo de degradação ambiental significativo. Esse fenômeno resulta na formação de bancos de areia nas áreas de drenagem, podendo modificar o curso dos rios e, em casos extremos, levar à extinção ou significativa redução de sua vazão.
A principal causa do assoreamento é a intensificação da erosão do solo, muitas vezes provocada ou agravada por atividades humanas, como a remoção da vegetação protetora. Para combater o assoreamento e prevenir problemas de drenagem, é crucial que as autoridades públicas planejem e implementem medidas de controle da erosão, abrangendo toda a bacia hidrográfica.
Uma abordagem eficaz para combater o assoreamento envolve o refloresta- mento das áreas adjacentes à bacia, incluindo a recuperação de Áreas de Preserva- ção Permanente (APP). Essa ação não apenas reduz a erosão, mas também minimiza o impacto direto das chuvas no solo, prolongando o tempo de concentração da bacia e reduzindo os picos de cheias. O combate efetivo ao assoreamento demanda a implementação de ações preventivas para conter o desmatamento nas margens dos cursos d'água e em toda a bacia hidrográfica, diminuindo assim a geração de sedi- mentos durante os períodos chuvosos.
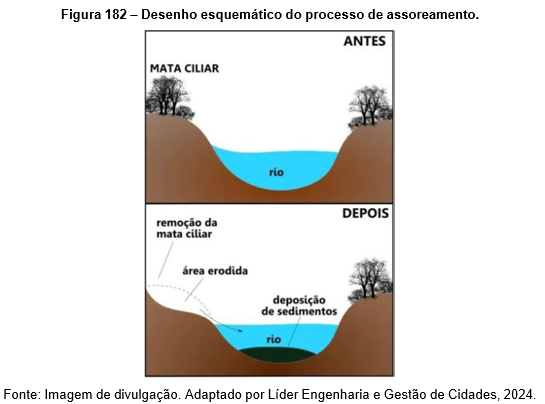
A incidência da erosão é mais comum em áreas não pavimentadas. Dessa forma, uma estratégia para atenuar esses eventos consiste na implementação de pavimentação porosa, aliada à instalação e manutenção de um sistema de drenagem adequado, incluindo bueiros, bocas de lobo, galerias, sarjetas, entre outros. Essa abordagem contribuiria significativamente para evitar complicações relacionadas à erosão em áreas suscetíveis.
b) Reservatórios e Bacias de Retenção ou Detenção
Com o intuito de evitar picos de vazão resultantes da sobreposição de diversas bacias, os quais poderiam exceder a capacidade de drenagem dos cursos d'água e desencadear inundações indesejadas, uma estratégia eficaz consiste na implementação de reservatórios ou bacias de detenção e retenção.
As bacias de detenção atuam como reservatórios de curto prazo, reduzindo as vazões máximas das cheias, prolongando o tempo de base e proporcionando vantagens como a prevenção de inundações localizadas, a diminuição de custos em sistemas de galerias de drenagem e a aprimoração da qualidade da água. Além disso, contribuem para combater a erosão nos pequenos afluentes, ampliam o tempo de resposta do escoamento superficial e facilitam a recarga do aquífero, melhorando as condições para o reuso da água. Há também o potencial de redução das vazões má- ximas de inundações a jusante (Tucci, 2000).
Uma característica fundamental dessa estratégia é a preferência pela utilização de barragens já existentes e áreas de planície de inundação naturais em bacias menos urbanizadas. Esse enfoque simplifica a implementação do projeto do ponto de vista técnico-financeiro e ambiental, aproveitando áreas que já passam por inundação periódica, evitando desapropriações em áreas urbanas e a construção de estruturas hidráulicas complexas.
Autores como Walesh (1989) e Asce (1989), citados por Canholi (2005), fazem distinção entre bacias de detenção e retenção. As bacias de detenção destinam-se a armazenar os escoamentos de drenagem, normalmente secas durante as estiagens, mas projetadas para reter as águas superficiais apenas durante e após as chuvas. Por outro lado, as bacias de retenção são reservatórios de superfície que sempre contêm um volume substancial de água permanente para fins recreacionais, paisagísticos ou de abastecimento. Existem também as bacias de sedimentação, cuja função principal é reter sólidos em suspensão, detritos e poluentes carreados pelos escoamentos superficiais (Canholi, 1995). A Figura 183 apresenta um exemplo de reservatório subterrâneo com área de recreação integrada.
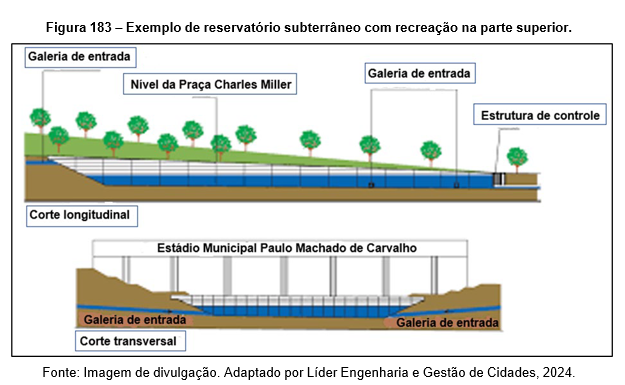
c) Recuperação de Matas Ciliares e APPs
Uma estratégia eficaz para mitigar os problemas relacionados à drenagem con- siste na restauração das matas ciliares, conforme previsto na legislação aplicável às Áreas de Preservação Permanente (APPs), estabelecida pela Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012, conhecida como Lei de Proteção da Vegetação Nativa. A reabilitação dessas áreas deve obedecer às diretrizes estipuladas por esta lei, especialmente em relação à largura das faixas de proteção. A relação entre a largura do leito do rio e o tamanho da APP é ilustrada na Figura 184.
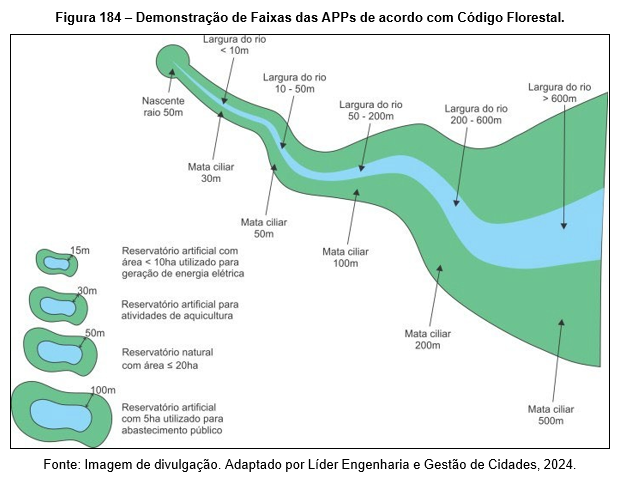
A restauração das matas ciliares deve ser realizada preferencialmente com espécies nativas do bioma em que a bacia está inserida. Além disso, é necessário considerar a perspectiva de futura urbanização, contemplando a possível criação de par- ques lineares para prevenir ocupações irregulares nas planícies aluviais. A recuperação das APPs ao longo dos demais cursos hídricos que atravessam a malha urbana devem ocorrer de maneira simultânea à implementação dos parques lineares, sempre respeitando as larguras estabelecidas por lei e optando por espécies nativas da região.
Essa é apenas uma recomendação geral, já que o município apresentou APPs bem adensadas e com larguras adequadas para os cursos d’água presentes na área urbana, devendo-se ter o cuidado de manter essas características ao longo do horizonte de planejamento municipal.
d) Utilização de Áreas Verdes para Controle Hidrológico
A existência de áreas verdes nos centros urbanos é vital para o controle hidrológico, desempenhando um papel crucial no gerenciamento da drenagem urbana. Isso não apenas busca resolver problemas existentes de inundações no município, mas também visa prevenir a formação de novas áreas de risco.
Além disso, a presença de vegetação desempenha funções ecológicas integradas na bacia, destacando-se na preservação da fauna e flora por meio da criação de corredores ecológicos. Ela contribui para a proteção da qualidade dos recursos hídricos, forma espaços verdes urbanos para atividades esportivas, culturais e de lazer, aprimora a paisagem e a ambiência urbana, promove melhorias nas condições microclimáticas, entre outros aspectos que favorecem o desenvolvimento sustentável do município. Essas melhorias não apenas beneficiam a saúde da população, mas também promovem a saúde ambiental.
Considerando a caracterização do Município, que apresenta características de terreno declivoso, a capacidade de infiltração do solo tende a ser reduzida. A seguir, destaca-se um trecho de conscientização e um conjunto de abordagens para mitigar os alagamentos em centros urbanos.
“O conceito de cidade sustentável reconhece que a cidade precisa atender aos objetivos sociais, ambientais, políticos e culturais, bem como aos objetivos econômicos e físicos de seus cidadãos. É um organismo dinâmico tão complexo quanto à própria sociedade e suficientemente ágil para reagir com rapidez às suas mudanças que, num cenário ideal, deveria operar em ciclo de vida contínuo, sem desperdícios [...]. A cidade sustentável deve operar segundo um modelo de desenvolvimento urbano que procure balancear, de forma eficiente, os recursos necessários ao seu funcionamento, seja nos insumos de entrada (terra urbana e recursos naturais, água, energia, alimento etc.), seja nas fontes de saída (resíduos, esgoto, poluição, etc.).” (BENINI, 2012 apud LEITE; AWAD, 2012, p. 135).
·Corredores Verdes
A concepção de "corredores verdes" teve origem no final do século XX, inicialmente associada ao conceito de ecologia rural. Sua principal finalidade é estabelecer conexões entre diversos elementos da paisagem, como florestas, campos agrícolas, rios e estradas, facilitando o fluxo de água, materiais, animais e seres humanos. Este conceito foi posteriormente adaptado para ambientes urbanos.
A interação entre áreas verdes e espaços urbanos engloba a criação de uma estrutura verde composta por árvores nas ruas, parques lineares e pequenos jardins, formando corredores que conectam grandes parques e jardins, integrando o ambiente natural nas áreas urbanas (FALCÓN, 2007, p. 45, apud BENINI, 2012).
Os corredores verdes proporcionam a oportunidade de conciliar diversos usos urbanos com a convivência diária em espaços naturais ou recuperados. Podem ser planejados ao longo de rios, córregos, lagos, pântanos e áreas sujeitas a alagamentos, assim como em áreas de cumeada e encostas, que são regiões frágeis e ecologicamente significativas (HERZOG, 2008, p. 17, apud BENINI, 2012). A Figura 185 ilustra exemplos de corredores verdes.

Conforme as observações de Franco (2004), a importância dos corredores verdes no contexto urbano é notável. Para além de embelezar a paisagem, esses corre- dores desempenham um papel crucial na melhoria do ambiente urbano, contribuindo para a redução do ruído e dos impactos da poluição do ar. Adicionalmente, eles desempenham um papel vital na regulação da umidade e temperatura urbanas. Além disso, desempenham uma função fundamental na gestão da drenagem urbana, um plano que engloba toda a bacia de drenagem e demanda um projeto integrado, multifuncional e esteticamente alinhado com as características locais.
Esses corredores consistem em ruas arborizadas projetadas com recursos como canteiros pluviais, permitindo uma gestão mais eficiente das águas pluviais. Contribuem para a redução do escoamento superficial durante períodos chuvosos, minimizando a poluição difusa originada de superfícies impermeáveis. Além disso, esses corredores oferecem a vantagem de tornar visíveis os processos hidrológicos e o funcionamento da infraestrutura verde, promovendo uma abordagem mais sustentável e consciente em relação à gestão da água nas áreas urbanas (Herzog, 2010, p. 09, apud Benini, 2012).
·Biovaleta
As biovaletas, também conhecidas como valetas de biorretenção vegetadas, são estruturas semelhantes aos jardins de chuva. Elas geralmente consistem em depressões lineares preenchidas com vegetação, solo e outros elementos filtrantes, com o objetivo de purificar a água da chuva. Simultaneamente, essas estruturas aumentamo tempo de escoamento da água, direcionando-a para jardins de chuva ou sistemas convencionais de retenção e detenção das águas (Cormier; Pellegrino, 2008, p. 32, apud Benini, 2012).
As biovaletas desempenham um papel crucial no tratamento dos escoamentos provenientes de ruas e estacionamentos, contribuindo para a redução da poluição difusa originada de superfícies impermeabilizadas. Além disso, desempenham uma função essencial na filtragem de poluentes retidos na vegetação, por meio da ação do sol, do ar e de microrganismos. A Figura 186 apresenta um desenho esquemático do processo de biorretenção, enquanto a Figura 187 apresenta um exemplo de biovaleta.
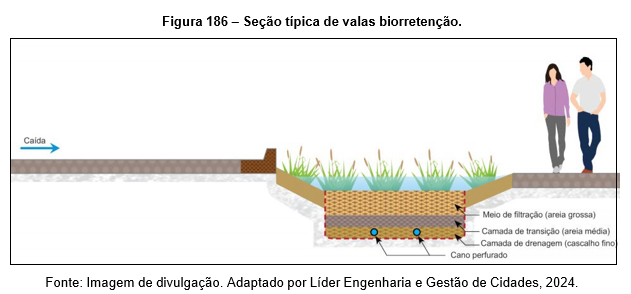
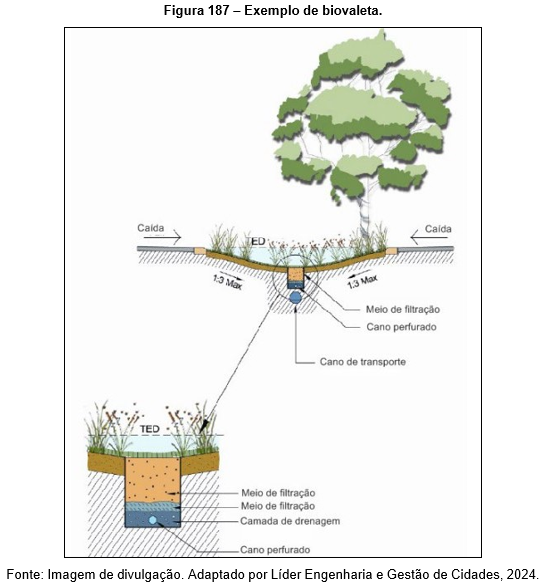
Assim, as Biovaletas se apresentam como uma alternativa viável em cenários futuros, especialmente diante do crescimento populacional esperado no município. A categoria de infraestrutura verde oferece uma solução eficaz para a gestão de águas pluviais, desempenhando um papel essencial na promoção da infiltração e na purificação de sedimentos, tanto por meio de dispositivos de drenagem quanto através dos processos naturais de infiltração.
·Biótopos Purificadores
Os biótopos purificadores desempenham funções de detenção, sedimentação e absorção biológica. São compostos por pântanos artificiais construídos com recirculação, utilizando substratos de baixo teor de nutrientes e plantas de pântanos com habilidades de purificação. Esses biótopos direcionam o fluxo para a bacia de detenção e, posteriormente, para canais ou rios mais próximos, contribuindo para a limpeza da água da chuva.
Essas estruturas representam uma maneira eficaz de tratar o escoamento proveniente de ruas, estacionamentos, áreas residenciais, entre outros. A Figura 188 ilustra um exemplo de biótopo purificador.
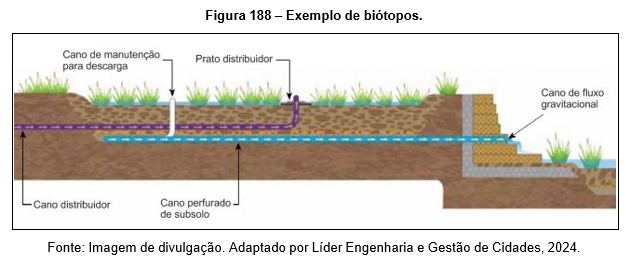
e) Caixas de Expansão
Uma caixa de expansão é uma escolha apropriada quando se busca controlar áreas suscetíveis a inundações, visando mitigar o impacto das cheias que se propagam ao longo dos cursos d'água. Sua função é análoga à de um reservatório de amortecimento de enchentes.
Essas caixas de expansão são frequentemente instaladas na base de regiões de relevo acidentado ou em áreas de planície, podendo ser dispostas em série, paralelas ao curso d'água, ou em uma combinação de ambas as abordagens. Em muitos casos, as próprias planícies naturais desempenham o papel de caixas de expansão, pois durante as enchentes, elas se tornam temporariamente inundadas, retendo um grande volume de água que é gradualmente liberado de volta para o rio principal quando o nível da água começa a diminuir. A Figura 189 ilustra um exemplo desse tipo de estrutura.

f) Diques
Diques são estruturas construídas ao longo das margens de rios, constituídas por barragens ou muros de terra ou concreto, podendo ter formas inclinadas ou retas. São dimensionados para restringir o fluxo de água no canal principal a um valor específico, estabelecido durante o projeto. Essas construções oferecem controle eficaz sobre inundações cujo pico de água está abaixo desse valor limite, mas não proporcionam proteção contra inundações que excedam essa marca, uma vez que a água fluirá sobre esses diques.
Os diques representam uma das estratégias mais antigas para o controle de enchentes. Geralmente expostos às condições climáticas e sujeitos à precipitação, é essencial que permaneçam fechados para conter qualquer vazamento. No entanto, acabam acumulando água da chuva. Para gerenciar essa situação, os diques de contenção frequentemente são equipados com válvulas para facilitar o escoamento dessa água acumulada. A Figura 190 ilustra exemplos dessas estruturas.
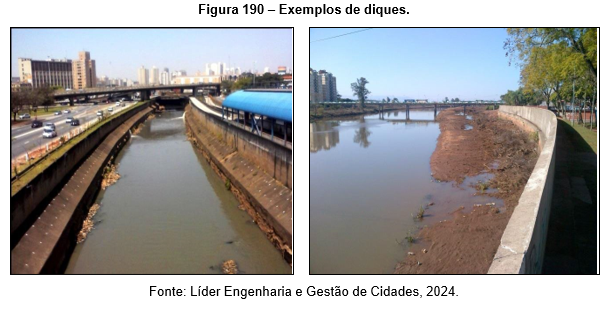
g) Pôlders
Um pôlder (Figura 191) é uma extensão de terreno baixo e plano, criado artificialmente entre diques elevados, com o intuito de possibilitar atividades agrícolas ou habitação. Para manter essa área seca e pronta para uso, é essencial implementar um sistema de drenagem que compreende canais equipados com comportas e/ou bombas. Esse sistema evita o acúmulo excessivo de água no pôlder, prevenindo inundações. Tais estruturas são consideradas componentes essenciais das técnicas tra- dicionais de drenagem para o controle de enchentes, especialmente em regiões costeiras ou próximas a corpos d'água.
Os pôlders são cruciais para a proteção de áreas específicas, transformando regiões urbanas anteriormente propensas a inundações provenientes de rios ou do mar em terras secas aptas para ocupação humana. A principal distinção entre diques e pôlders reside no fato de que estes últimos utilizam estações de bombeamento para remover a água que penetra na área protegida durante eventos de inundação. Além disso, esses projetos frequentemente incorporam a construção de galerias com comportas ajustáveis, destinadas a controlar o acesso da água do rio principal à área protegida e facilitar a saída da água dos riachos em condições normais.
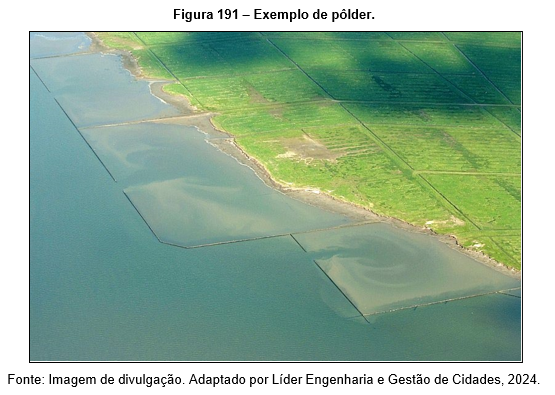
h) Canais de Desvios
Os canais de desvio têm a função de redirecionar parte do volume de água das enchentes do curso d'água principal, resultando na diminuição da descarga do rio na região a ser protegida. Nesse tipo específico de construção, a água desviada geralmente não retorna ao canal principal, mas é direcionada para um lago, outro curso d'água ou diretamente para o oceano.
O inconveniente desse tipo de obra reside na divisão do fluxo entre múltiplos canais, resultando na redução da velocidade da água, o que, por sua vez, diminui a capacidade de transporte de sedimentos. Como consequência, o leito do rio pode elevar-se devido à deposição de sedimentos, anulando os benefícios obtidos com a cons- trução da obra. Portanto, esses projetos requerem um planejamento extremamente cuidadoso.
Outra abordagem é a metodologia do canal paralelo, adotada quando, por diversas razões, não é possível aumentar a capacidade do canal principal. Nesse tipo de construção, o fluxo é distribuído em dois ou mais ramos por um trecho específico, e após o desvio, a água é reintegrada a um único canal. Como resultado, o nível de inundação no trecho do canal principal de interesse é reduzido. Os desafios associa- dos a esse tipo de obra são semelhantes aos mencionados para os canais de desvio.
Outro tipo de canal amplamente utilizado é o canal extravasor. No entanto, ele não se classifica como um canal de desvio ou paralelo. A diferença crucial é que o canal extravasor é alimentado pelo rio apenas durante as cheias mais significativas, quando a descarga na seção do leito, em correspondência com a barragem de transbordamento, supera um valor pré-determinado e ultrapassa o canal principal.
Um canal extravasor geralmente permanece sem água e permite o crescimento de vegetação, mas está sempre pronto para receber uma porção do fluxo do rio quando a vazão ultrapassa o limite pré-determinado. Os desafios associados a esse tipo de canal são semelhantes aos dos canais de desvio e paralelos, mas em menor grau, uma vez que operam de forma intermitente. Devido à sua capacidade de per- manecer seco durante os períodos de ausência de cheias e permitir o desenvolvimento de vegetação, o canal extravasor também é conhecido como "canal verde".
i) Diretrizes para o Controle de Escoamento na Fonte
As medidas de controle de escoamento pluvial na fonte têm como objetivo otimizar a redução e retenção dos sistemas tradicionais de drenagem pluvial, que incluem estruturas subterrâneas como condutos e galerias de águas pluviais, sarjetas, bocas de lobo, calhas para coleta de águas provenientes de telhados e a canalização de rios urbanos.
As BMPs (Best Management Procedures, ou Procedimentos de Melhores Práticas) têm um escopo mais abrangente do que simplesmente controlar a quantidade de água da chuva. Elas incorporam também o controle da poluição, sedimentos e resíduos. Essas medidas podem ser categorizadas em dois tipos principais: dispositivos de armazenamento e dispositivos de infiltração.
Os dispositivos de armazenamento visam retardar o escoamento das águas pluviais para liberá-lo de forma controlada, suavizando picos em direção ao destino, que pode ser um ponto de coleta em uma rede de drenagem existente. Exemplos típicos incluem reservatórios em propriedades residenciais, bacias de retenção e detenção em áreas de loteamento ou em sistemas de macrodrenagem.
Por outro lado, os dispositivos de infiltração removem água do sistema de drenagem, promovendo a absorção no solo para reduzir o escoamento pluvial. Medidas como pavimentos permeáveis, trincheiras de infiltração, faixas e valas gramadas são exemplos típicos de dispositivos de infiltração mais adequados para escalas de lote e loteamento.
Conforme descrito por Nakamura (1988), os dispositivos de infiltração podem ser divididos em dois grupos: métodos dispersivos e métodos em poços. Os métodos dispersivos envolvem dispositivos nos quais a água da superfície infiltra diretamente no solo, enquanto os métodos em poços implicam a recarga do lençol freático pelas águas da superfície. Os métodos dispersivos são mais recomendados quando há uma área mais ampla disponível para sua implementação. A seguir, são descritos os principais dispositivos dispersivos.
· Superfícies de infiltração: considerado o método mais simples para disposição no local, consiste em deixar que as águas superficiais percorram uma área coberta por vegetação. Em terrenos com subsolo argiloso ou pouco permeável pode-se instalar subdrenos para evitar acúmulo de água parada;
· Trincheiras de percolação: as trincheiras de percolação são construídas por meio do preenchimento de uma pequena vala com meio granular para infiltração e/ou detenção do escoamento superficial. Geralmente é instalada juntamente com manta geotêxtil de porosidade maior a do solo para promover o pré-tratamento da água infiltrada. Para fins de projeto, geralmente são dimensionadas com largura e profundidade de 1 a 2 m e comprimento variável. O material granular tem diâmetro aproximado de 40 a 60 mm de forma que a porosidade resulte em pelo menos 30%;
·Valetas de infiltração abertas: constituem-se de valetas revestidas com vegetação, geralmente grama, adjacentes a ruas e estradas, ou próximas a áreas de esta- cionamento para facilitar a infiltração. Podem ou não ser complementadas por trincheiras de percolação ou alagados construídos, formando pequenos bolsões de retenção denominadas valetas úmidas. A vegetação promove a melhoria da qualidade da água e também ajuda a diminuir sua velocidade de escoamento. Para fins de projeto, são dimensionadas com largura de até 2 m, margens com inclinação 3:1 e declividade longitudinal de 1%;
· Lagoas de infiltração: constituem-se de pequenas bacias de detenção especialmente projetadas que facilitam a infiltração pelo aumento do tempo de detenção. Possuem nível de água permanente e um volume de espera;
· Bacias de percolação: usadas desde a década de 70 para a disposição de águas de drenagem, as bacias de percolação são constituídas pela escavação de uma valeta preenchida com brita ou cascalho e posteriormente re-aterrada. O material granular promove a reservação temporária do escoamento, enquanto a percolação se processa lentamente para o subsolo. Para fins de projeto, são dimensionadas com uma profundidade de até 0,6m e grãos de dimensão de 0,5 a 1 mm com uma razão mínima entre comprimento e largura de 2:1;
· Pavimentos porosos: também conhecidos como pavimentos permeáveis, constituem-se normalmente de pavimentos de asfalto ou concreto convencionais dos quais foram retiradas as partículas mais finas e construídos sobre camadas permeáveis, geralmente bases de material granular. Uma variação de pavimento poroso pode ser obtida com a implantação de elementos celulares de concreto sobre uma base granular. Para evitar a passagem de partículas mais finas, usualmente coloca-se mantas geotêxtis entre a base e o pavimento;
· Poços de Infiltração: medida de detenção na fonte mais indicada quando a disponibilidade de área para implantação é baixa, geralmente quando a urbanização, já consolidada, não permite a utilização das medidas dispersivas para aumento de infiltração. Para serem eficientes, os poços devem ser instalados em locais onde a altura do lençol freático se encontre suficientemente baixa em relação a superfície do terreno e o subsolo possua camadas arenosas.
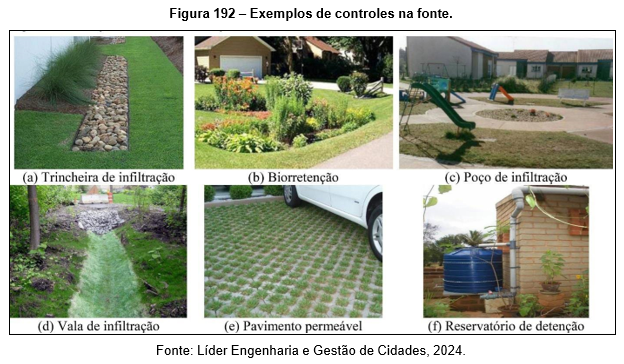
Devido à relevância dos reservatórios de detenção em áreas de lotes ou loteamentos urbanos como componentes cruciais para o planejamento e controle de drenagem em Iúna, está sendo considerada a criação de legislação que exija que as residências possuam reservatórios capazes de coletar e reutilizar a água da chuva. Isso permitiria seu aproveitamento em atividades como descargas sanitárias, lavagem de pisos e irrigação de plantas. Esses reservatórios podem ser implementados tanto subterraneamente quanto na superfície, conforme exemplificado na Figura 193.
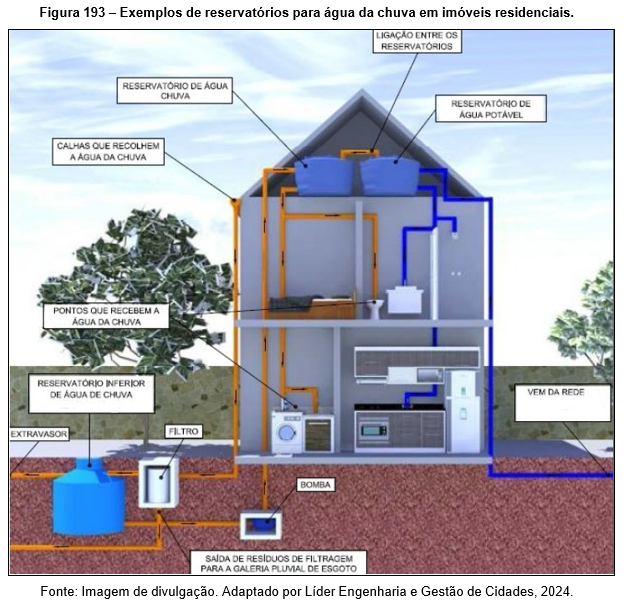
10.2.2 Medidas Não Estruturais
As medidas estruturais, geralmente, não são projetadas para fornecer uma pro- teção completa, requerendo uma proteção contra a maior enchente possível. Nesse sentido, as medidas não estruturais, seja de forma autônoma ou em conjunto com as estruturais, têm a capacidade de reduzir significativamente os danos a um custo inferior.
As medidas não estruturais não recorrem a dispositivos que alterem o padrão natural de escoamento das águas pluviais. Elas se apoiam, principalmente, em solu- ções indiretas, como aquelas voltadas para o ordenamento e uso da terra (em áreas de várzea e bacias), a elaboração de legislação ou a diminuição da vulnerabilidade das comunidades que residem em regiões propensas a inundação. Essas abordagens englobam aspectos culturais e a participação ativa da comunidade, sendo essenciais para sua implementação com investimentos mais leves. O enfoque principal está na conscientização e na educação das pessoas. As medidas não estruturais têm como objetivo fomentar uma convivência mais harmoniosa da população com as enchentes e têm uma natureza predominantemente preventiva.
a) Medidas de Controle para Reduzir o Lançamento de Resíduos nos Corpos D’água
Devido à falta de investimentos adequados em saneamento básico, às complexidades na gestão das águas, ao desmatamento das margens dos rios e à inadequada disposição de resíduos por empresas, somados ao consumo excessivo de produtos plásticos, a restauração dos recursos hídricos em todo o mundo é um desafio de proporções monumentais.
Segundo pesquisa conduzida pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2010, a cada mil litros de água utilizados pelo ser humano, aproximadamente 10 mil litros estão em condições impróprias para uso, devido à poluição (Bandeira, 2018).
Conforme destacado por Bandeira (2018), uma parcela significativa da poluição da água é atribuída à falta de saneamento básico. Portanto, um passo crucial envolve a implementação de programas de fiscalização pelos governos municipais e federais, tanto em relação aos serviços de saneamento quanto à qualidade da água. Além disso, ações de menor escala podem contribuir para a redução da quantidade de resíduos nos ambientes naturais, como:
· Fiscalização de descarte incorreto de resíduos nos rios e córregos;
· Ter lixeiras e placas de conscientização de descarte correto de lixo em locais como mananciais, lagos e cachoeiras etc.;
·Programa de descarte correto de óleos de cozinha;
· Programa de detecção de ligações clandestinas de esgotos;
·Fiscalização de produtos tóxicos em processos químicos e agropecuários sem os filtros adequados.
b) Programas de Fiscalização de Despejo Irregular de Esgoto
Com o intuito de preservar os canais de micro e macrodrenagem na zona urbana de Iúna, torna-se essencial estabelecer um programa dedicado à supervisão, visando identificar possíveis descargas inadequadas de esgotos domésticos. Além de comprometer a qualidade das águas drenadas, essas descargas irregulares têm o potencial de acelerar o processo de assoreamento, reduzindo a capacidade de escoamento dos canais. A degradação biológica natural dos resíduos também pode resultar em problemas como mau odor e proliferação de vetores de pragas urbanas.
c) Regulamentação do Uso da Terra
O zoneamento municipal consiste na formulação de um conjunto de diretrizes para a ocupação de áreas suscetíveis a inundações, visando à mitigação de futuros danos materiais e humanos decorrentes de grandes enchentes. Nesse contexto, o ordenamento territorial municipal, viabilizado pelo zoneamento urbano, possibilita um desenvolvimento planejado dessas áreas de inundação.
A regulamentação do uso das zonas de inundação é baseada em mapas que delineiam áreas com diferentes níveis de risco, considerando critérios tanto para o tipo de ocupação quanto para aspectos construtivos. Para que essa regulamentação seja eficaz em prol das comunidades, é imperativo integrá-la à legislação municipal relacionada a loteamentos, construções e habitações, assegurando sua aderência.
Dessa forma, o regulamento do uso da terra tem como objetivo principal servir de fundamento para a normatização da ocupação nas várzeas de inundação, por meio dos planos diretores urbanos, permitindo que as prefeituras exerçam um controle efetivo sobre o desenvolvimento dessas áreas.
O risco de inundação varia conforme a cota altimétrica da várzea, sendo que as áreas mais baixas naturalmente enfrentam maior frequência de enchentes. Assim, a delimitação das áreas no zoneamento é influenciada pelas cotas altimétricas das regiões urbanas.
A regulamentação da ocupação em áreas urbanas é um processo iterativo, envolvendo uma proposta técnica que passa por discussões com a comunidade antes de ser incorporada ao Plano Diretor da cidade. Portanto, não existem critérios rígidos aplicáveis universalmente, mas sim recomendações básicas que podem ser adaptadas a cada caso.
d) Estudos Hidrológicos e Hidráulicos
Quanto à macrodrenagem, esta compreende a realização de estudos hidroló- gicos e hidráulicos nas sub-bacias ou microbacias que abrangem o município, visando identificar áreas propensas a inundações e acúmulo de sedimentos, como pontes ou travessias em regiões mais baixas. Com base no diagnóstico do processo de elabo- ração deste Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), a ênfase do estudo deve concentrar-se nas dez microbacias delimitadas, as quais tem influência na área urbana do município.
Para ampliação e aprimoramento da rede de drenagem é recomendado que projetos sejam elaborados visando realizar o levantamento da localização da rede existente, identificação de bocas coletoras, poços de visita e a definição da posição de novas redes a serem planejadas, por exemplo, sendo processos essenciais para garantir uma execução coerente e eficaz do planejamento para o sistema de drenagem urbana.
e) Cadastramento da Rede
É fundamental manter um cadastro abrangente de toda a rede de drenagem, incluindo tanto a rede já existente quanto a futura, com o objetivo de prevenir conflitos entre a gestão de águas pluviais e as redes de esgotamento sanitário e abastecimento de água. O uso inadequado dessas redes torna-se mais arriscado durante os períodos de chuva, podendo resultar em transbordos e até mesmo no retorno de efluentes de esgoto doméstico para residências e poços de visita, representando sérios riscos para a saúde pública.
f) Normatização para Contenção de Enchentes e Destinação de Águas Pluviais
Outra medida não estrutural altamente eficaz envolve a imposição de restrições à impermeabilização de áreas em novos loteamentos e empreendimentos imobiliários.
Além disso, a exigência de telhados verdes e/ou reservatórios, com critérios adequados ao porte da obra, é essencial. As técnicas de detenção na fonte, previamente discutidas, devem ser integralmente incorporadas à legislação municipal, especialmente no que se refere ao código de obras e posturas municipal.
Exemplos de outros municípios brasileiros mostram a implementação bem-sucedida da obrigatoriedade de sistemas para captação e retenção de águas pluviais, coletadas por telhados, coberturas, terraços e pavimentos descobertos, em lotes edificados ou não, contanto que apresentem uma área impermeabilizada superior a 400 m². Essa exigência visa atingir os seguintes objetivos:
· Reduzir a velocidade de escoamento de águas pluviais para as bacias hidrográficas em áreas urbanas com alto coeficiente de impermeabilização do solo e difi- culdade de drenagem;
· Controlar a ocorrência de inundações, amortecer e minimizar os problemas das vazões de cheias e, consequentemente, a extensão dos prejuízos;
· Contribuir para a redução do consumo e o uso adequado da água potável tratada.
Para estacionamentos e espaços similares, é requerido que 30% da área total ocupada seja revestida com piso drenante ou mantida como área naturalmente permeável. A água armazenada nos reservatórios deverá:
·Infiltrar-se no solo, preferencialmente;
· Ser utilizada em finalidades não potáveis, caso as edificações tenham reservatório específico para essa finalidade.
O dimensionamento adequado dos reservatórios, quando viável, deve ser conduzido de maneira a preservar as condições naturais de infiltração e vazão do escoamento superficial, aproximando-as ao máximo das características pré-existentes antes da implementação dos empreendimentos. Com base em experiências descritas por Asce (1992), conforme citado por Porto (1995), recomenda-se a captação e infiltração dos primeiros 10 mm de precipitação em novas construções em lotes com área superior a 400 m². Essa prática resulta em uma redução significativa nos picos de vazão a jusante em bacias propensas à expansão urbana.
Assim, o critério para a construção de caixas de retenção em cenários futuros, integradas aos projetos de drenagem de águas pluviais de cada empreendimento urbanístico, é fundamentado em uma capacidade de dez litros por metro quadrado de superfície impermeabilizada. No caso das vias urbanas, ao pavimentar as estradas municipais, é aconselhável a instalação de uma caixa de retenção com capacidade de 10 m³ para cada 1.000 m² de pavimento impermeável.
Num cenário em que uma edificação em um lote impermeabiliza uma área de 500 m², o proprietário deve obrigatoriamente implantar uma caixa de retenção com um volume de 5,0 m³. Contudo, se a impermeabilização no lote ultrapassar 65% da área total, a área impermeabilizada adicional deve ser compensada com um aumento no volume da caixa de retenção, equivalente a 87 litros por metro quadrado de impermeabilização adicional. Esse valor representa 85% do volume de água decorrente de uma precipitação de 102,44 mm, com duração de duas horas, utilizada para a simu- lação hidrológica da bacia. Essa compensação é necessária apenas quando a implantação de bacias de detenção, por si só, não seria suficiente para mitigar os impactos da urbanização com a impermeabilização máxima de 65% no lote.
Portanto, em um lote de 500 m², onde o proprietário impermeabilize 450 m², ou seja, 90% da área, será obrigatória a instalação de uma caixa de retenção com um volume calculado da seguinte forma:
· Vcaixa de retenção (m³) = (0,65 x Alote x 0,010) + (0,25 x Alote x 0,087);
· Vcaixa de retenção (m³) = (0,65 x 500 x 0,010) + (0,25 x 500 x 0,087);
· Vcaixa de retenção (m³) = (3,25) + (10,875);
·Vcaixa de retenção = 14,13 m³.
g) Educação Ambiental
A educação ambiental no âmbito das infraestruturas de águas pluviais abrange uma ampla variedade de tópicos e deve ser integrada em todos os níveis educacionais, adotando uma abordagem interdisciplinar e holística. O objetivo é assegurar que os indivíduos desenvolvam uma perspectiva crítica sobre seu papel na sociedade e na preservação do meio ambiente.
No contexto específico da drenagem urbana, é crucial implementar ações con- tínuas e direcionadas de educação ambiental para conscientizar e sensibilizar a população sobre o impacto de suas ações e escolhas no ambiente urbano. Essas ações devem ser adaptadas conforme o público-alvo e estender-se para além dos ambientes educacionais formais, alcançando toda a comunidade.
Os principais temas de educação ambiental a serem abordados no contexto da drenagem urbana incluem:
·O ciclo da água;
·O conceito de bacia hidrográfica;
·Escoamento superficial;
·Impactos da urbanização no escoamento superficial;
·Importância dos canais naturais de drenagem;
·Função e importância das matas ciliares para a proteção dos cursos d’água;
· O papel do correto gerenciamento de resíduos sólidos para a drenagem urbana;
· A necessidade de se manter áreas permeáveis nos lotes comerciais e residenciais;
·Medidas de contenção e mitigação de escoamentos superficiais na fonte;
·Captação e utilização de águas pluviais.
h) Sistemas de Alerta e Previsão de Inundações
O monitoramento em tempo real desempenha um importante papel na avaliação contínua da condição do sistema de drenagem urbana e seus equipamentos. Essa prática envolve a criação de uma rede de coleta de dados pluviométricos e fluviométricos, que são transmitidos às centrais de processamento e informações em tempo real.
Estações automáticas pluviométricas e fluviométricas são capazes de transmitir informações em tempo real por meio de satélites ou tecnologia GPRS (Serviço de Rádio de Pacote Geral). Esses dispositivos possibilitam o desenvolvimento de procedimentos de previsão hidrometeorológica e a gestão de contingências em tempo real, oferecendo supervisão remota dessas operações.
Os dados obtidos por meio desse sistema de monitoramento em tempo real permitem antecipar impactos, prevendo situações com base nas informações disponíveis. Isso facilita a intervenção em situações de risco emergencial para o controle de inundações e permite a ativação de recursos humanos e materiais para lidar com eventos extremos.
A automação oferecida pelo monitoramento em tempo real possibilita a detecção imediata de defeitos ou falhas no funcionamento dos equipamentos do sistema de drenagem, permitindo que o operador tome medidas corretivas prontamente.
O sistema de previsão e alerta de inundação abrange a coleta de dados em tempo real, transmissão dessas informações a um centro de análise, previsão atualizada com base em modelos matemáticos e implementação de um plano de contingência e defesa civil. Esse plano envolve ações individuais e coletivas para reduzir perdas durante as inundações. Um sistema de alerta baseado em previsão em tempo real engloba aspectos como:
·Sistema de coleta e transmissão de informações do tempo e hidrológicas: sistema de monitoramento por rede telemétrica, satélite ou radar e transmissão destas informações para o centro de previsão;
· Centro de Previsão: recepção e processamento de informações, modelo de previsão, avaliação e alerta;
·Defesa Civil: programas preventivos: educação, mapa de alerta, locais críticos; alerta aos sistemas públicos: escolas, hospitais, infraestrutura; alerta a população de risco, remoção e proteção à população atingida durante a emergência ou nas enchentes.
Na ocorrência de eventos chuvosos críticos, há três níveis referentes ao sistema de alerta:
·Nível de acompanhamento: nível onde existe um acompanhamento por parte da equipe técnica na evolução da enchente. A partir desse momento a Defesa Civil é alertada sobre a chegada de uma enchente. É iniciada então a previsão de níveis em tempo real;
·Nível de alerta: a partir deste nível é previsto que um nível futuro crítico será atingido dentro de um horizonte de tempo da previsão. Tanto a Defesa Civil como os administradores municipais passam a receber regularmente as previsões para a cidade e então a população recebe o alerta e as instruções da Defesa Civil;
·Nível de emergência: neste nível ocorrem os prejuízos materiais e humanos. Essas informações são o nível real e previsto com antecedência, e o intervalo provável dos erros, obtidos dos modelos. A fase de mitigação consiste em medidas que devem ser executadas para diminuir o prejuízo da população quando a enchente ocorre, isolando ruas e áreas de risco, remoção da população, animais e proteção de locais onde haja interesse público.
A viabilidade da implementação de sistemas de alerta em um município está sujeita a uma análise abrangente. É crucial considerar fatores como os riscos de de- sastres, a vulnerabilidade da população, os recursos financeiros disponíveis, a infra- estrutura de comunicação, a capacidade técnica, o monitoramento e a previsão, a integração com a defesa civil, o envolvimento da comunidade, além da análise de custo-benefício. A existência de legislação e normas que promovam a instalação de sistemas de alerta também desempenha um papel importante. Essa avaliação deve ser conduzida com a participação de diversas partes interessadas, ajudando a determinar a necessidade e a propriabilidade da implementação de sistemas de alerta para o município em questão.
A possibilidade de instalação desses sistemas no município deve ser avaliada para cenários futuros, levando em conta possíveis mudanças nas condições e na infraestrutura. A Figura 194 fornece um exemplo ilustrativo de uma estação pluviométrica.
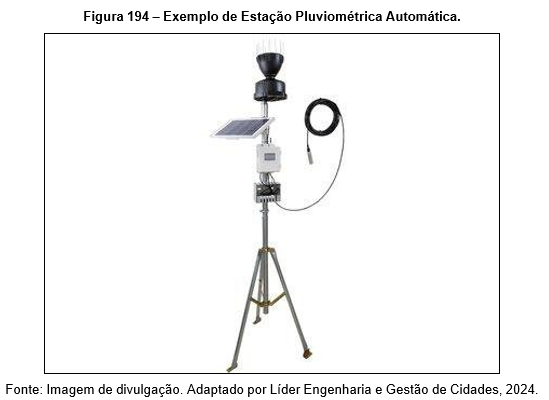
i) Programa de Manutenção e Limpeza das Estruturas de Microdrenagem
Para garantir a eficácia e o desempenho dos sistemas de microdrenagem, é essencial manter essas estruturas livres de obstruções, sejam causadas pelo crescimento de vegetação nos canais a céu aberto ou pela acumulação de resíduos sólidos e partículas do solo transportados pelo escoamento superficial. Essa responsabilidade requer a implementação de um programa contínuo de monitoramento das condições dessas estruturas, mobilizando equipes encarregadas da limpeza de bueiros, capina e outras atividades de manutenção geral.
Quando identificadas anomalias na rede de microdrenagem, uma análise de seu impacto no sistema total é crucial, classificando a necessidade de manutenção como prioritária ou não, conforme a situação exige. Essa classificação determinará se a manutenção deve ser programada a curto, médio ou longo prazo, considerando a sazonalidade. Durante os períodos chuvosos, é altamente recomendável que quaisquer reparos sejam realizados no menor prazo possível, enquanto nos períodos de estiagem, a manutenção pode ser agendada com prazos mais flexíveis.
j) Programa de Fiscalização de Despejo Irregular de Esgoto
Com o intuito de preservar os canais de micro e macrodrenagem da rede de Iúna, é fundamental estabelecer um programa de fiscalização voltado para a identifi- cação de despejos irregulares de esgotos domésticos nesses dispositivos. Além de comprometer a qualidade das águas drenadas, a presença de esgoto tende a causar assoreamento e reduzir a capacidade de escoamento dos canais. A decomposição biológica natural dos resíduos também pode resultar em odores desagradáveis e proliferação de pragas urbanas.
10.2.3 Ações de Emergência e Contingência
Áreas com sistemas de drenagem deficientes, incluindo emissários e dissipadores de energia inadequados, enfrentam desafios como erosão, acúmulo de sedimentos e inundações, comprometendo a eficácia desse serviço. Torna-se crucial a implementação de ações de resposta e um planejamento eficaz para lidar com situações incomuns e de contingência.
Quadro 51 – Ações para emergências e contingências referentes a ocorrência de alagamentos, inundações e enchentes.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 4 | DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS |
| OBJETIVO | 1 | ALTERNATIVAS PARA EVITAR ALAGAMENTOS LOCALIZADOS POR INEFICÊNCIA DO SISTEMA |
| METAS | Criar e implantar sistema de correção e manutenção das redes e ramais para resolução dos problemas de alagamentos. |
| EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS |
| OCORRÊNCIA | ORIGEM | AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA |
| Alagamentos localizados. | Boca de lobo e ramal assoreado/entupido ou subdimensionado da rede existente. | Comunicar à Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros sobre o alagamento das áreas afetadas, acionar o socorro e desobstruir redes e ramais. |
| Comunicar o alagamento à Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos, responsável pela limpeza das áreas afetadas, para desobstrução das redes e ramais. | ||
| Sensibilizar e mobilizar a comunidade através de iniciativas de educação ambiental como meio de evitar o lançamento de resíduos nas vias públicas e nos sistemas de drenagem. | ||
| Deficiência no “engolimento” das bocas de lobo. | Promover estudo e verificação do sistema de drenagem existente para identificar e resolver problemas na rede e ramais de drenagem urbana (entupimento, estrangulamento, ligações clandestinas etc.) (Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos). | |
| Deficiência ou inexistência de emissário. | Promover reestruturação/reforma/adaptação ou construção de emissários e dissipadores adequados nos pontos finais do sistema de drenagem urbana (Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos). | |
| Inundações e enchentes | Transbordamento de rios, córregos ou canais de drenagem, devido à ineficiência do sistema de drenagem urbana. | Identificar a intensidade do fenômeno e comunicar a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros sobre o alagamento das áreas afetadas, acionar o socorro e desobstruir redes e ramais. Comunicar o setor de assistência social para que sejam mobilizadas as equipes necessárias e a formação dos abrigos, quando necessários. |
Quadro 52 – Ações para emergências e contingências referentes a alternativas para resolução dos problemas com processos erosivos.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 4 | DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS |
| OBJETIVO | 2 | ALTERNATIVAS PARA RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COM PROCESSOS EROSIVOS PROVENIENTES DA INEFICIÊNCIA DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA |
| METAS | Criar e implantar sistema de controle e recuperação de processos erosivos. |
| EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS |
| OCORRÊNCIA | ORIGEM | AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA |
| Processos erosivos | Inexistência ou ineficiência de rede de drenagem urbana. | Elaborar e implantar projetos de drenagem urbana, iniciando pelas áreas, bairros e loteamentos mais afetados por processos erosivos (Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos). |
| Inexistência ou ineficiência de emissário e dissipadores de energia. | Recuperar e readequar os emissários e dissipadores de energia existentes (Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos). | |
| Recompor APP dos principais cursos hídricos, principalmente dos que recebem água do sistema de drenagem urbana (Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos). | ||
| Inexistência de APP/áreas desprotegidas. | Ampliar a fiscalização e o monitoramento das áreas de recomposição de APP (Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos). | |
| Executar obras de contenção de taludes (Defesa Civil e Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos). |
Quadro 53 – Ações para emergências e contingências referentes a alternativas para resolução dos problemas.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 4 | DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS |
| OBJETIVO | 3 | ALTERNATIVAS PARA RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS de LIMPEZA E MAU CHEIRO PROVENIENTE DOS SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA |
| METAS | Ampliar o sistema de fiscalização, manutenção e limpeza do sistema de drenagem urbana (boca de lobo, ramais, redes). |
| EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS |
| OCORRÊNCIA | ORIGEM | AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA |
| Limpeza e mau cheiro dos sistemas de drenagem do município | Interligação clandestina de esgoto nas galerias pluviais. | Comunicar à prestadora de serviços sobre a possibilidade da existência de ligações clandestinas de esgoto na rede de drenagem urbana (para sistemas separadores) para posterior detecção do ponto de lançamento, regularização da ocorrência e aplicação de penalidades. |
| Resíduos lançados nas bocas de lobo. | ||
| Ineficiência da limpeza das bocas de lobo. | Sensibilizar e mobilizar a comunidade através de iniciativas de educação ambiental como meio de evitar o lançamento de resíduos nas vias públicas e nos sistemas de drenagem (Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos). | |
| Ampliar a frequência de limpeza e manutenção das bocas de lobo, ramais e redes de drenagem urbana (Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos). |
10.2.4 Objetivos, Metas, Programas, Projetos e Ações para o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais
No âmbito do PMSB, este item se dedica de maneira específica aos Objetivos, Programas, Projetos e Ações relacionados à drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. O correto gerenciamento das águas pluviais é fundamental para promover a sustentabilidade urbana, prevenir inundações e garantir a preservação ambiental. Neste contexto, serão delineados os objetivos a serem alcançados, os programas que nortearão as ações, bem como os projetos e as iniciativas a serem implementadas. Essa seção representa uma peça-chave para a construção de ambientes urbanos mais resilientes e adaptados às demandas hídricas, alinhando-se aos princípios do desenvolvimento sustentável.
A saber, os objetivos gerais para o eixo foram:
·Objetivo 1 – Mapeamento, Digitalização e Georreferenciamento do Sistema de Drenagem do Município;
· Objetivo 2 – Implementar Ações Não Estruturais que Minimizem os Problemas no Sistema de Drenagem Urbana;
·Objetivo 3 – Implementar Ações Estruturais que Minimizem os Problemas no Sistema de Drenagem Urbana;
·Objetivo 4 – Controle das Águas Pluviais na Fonte (Lotes ou Loteamentos);
·Objetivo 5 – Implantação da Taxa de Drenagem.
Tabela 89 – Síntese do objetivo 1.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 4 | DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS |
| OBJETIVO | 1 | MAPEAMENTO, DIGITALIZAÇÃO E GEORREFERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO |
| FUNDAMENTAÇÃO | Se faz necessária a criação do mapeamento das áreas, digitalização dos projetos em meios físicos existentes e o georreferenciamento de todo o sistema de drenagem urbana municipal. E também, observou-se no município que há a necessidade de melhorar as informações capazes de formular os indicadores necessários para apresentar a evolução e a qualidade dos serviços prestados. |
| MÉTODO DE ACOMPANHAMENTO (INDICADOR) | Índice de área atendida por sistema de drenagem e com projeto digitalizado e georreferenciado, o qual corresponde ao percentual da área atendida, pelo sistema e com projeto digitalizado e georreferenciado, em relação à área total atendida pelo sistema de drenagem urbana. |
| METAS |
| IMEDIATO - ATÉ 3 ANOS | CURTO - 4 A 8 ANOS | MÉDIO PRAZO - 9 A 12 ANOS | LONGO PRAZO - 13 A 20 ANOS |
| - Aumentar o mapeamento e o cadastramento para 100% do sistema de drenagem urbana. | - Alimentação do banco de dados. | - Alimentação do banco de dados. | - Alimentação do banco de dados. |
| PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES (R$) |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PRAZOS | POSSÍVEIS FONTES | MEMÓRIA DE CÁLCULO |
| IMEDIATO | CURTO | MÉDIO | LONGO | ||||
| 4.1.1 | Elaborar mapeamento e cadastramento/banco de dados do sistema de drenagem com o auxílio da ferramenta Sistema de Informações Georreferenciadas - SIG, com o objetivo de promover meios de identificação dos pontos críticos, sistemas existentes, pessoas atingidas, entre outros | R$ 272.160,00 | R$ 362.880,00 | - | - | RP - FPU - FPR | R$60,00 / H.S.(6 horas/dia). |
| 4.1.2 | Atualização e Manutenção do banco de dados. | R$ 25.200,00 | R$ 42.000,00 | R$ 33.600,00 | R$ 67.200,00 | RP | R$8.400/ano. |
| TOTAIS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES | R$ 297.360,00 | R$ 404.880,00 | R$ 33.600,00 | R$ 67.200,00 | TOTAL DO OBJETIVO | R$ 803.040,00 |
Legenda: RP – Recursos Próprios, FPU – Financiamento Público, FPR – Financiamento Privado.
Tabela 90 – Síntese do objetivo 2.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 4 | DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS |
| OBJETIVO | 2 | IMPLEMENTAR AÇÕES NÃO ESTRUTURAIS QUE MINIMIZEM OS PROBLEMAS NO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA |
| FUNDAMENTAÇÃO | As medidas não estruturais englobam um conjunto de instrumentos definidos como soluções indiretas, destinadas ao controle do uso e ocupação do solo ou à diminuição da vulnerabilidade dos ocupantes das áreas de risco como consequência das inundações. Envolvem aspectos de natureza cultural e participação do público, indispensável para implantação. É baseado principalmente na conscientização e educação da população. |
| MÉTODO DE ACOMPANHAMENTO (INDICADOR) | Identificação da implementação da ação. |
| METAS |
| IMEDIATO - ATÉ 3 ANOS | CURTO - 4 A 8 ANOS | MÉDIO - 9 A 12 ANOS | LONGO - 13 A 20 ANOS |
| - Elaboração de Políticas de Planejamento Urbano que regulamentem o uso da terra, restringindo a ocupação nas áreas aluviais que ainda não foram urbanizadas;- Normatização para contenção de enchentes;-Programa de manutenção e limpeza da microdrenagem;-Programa de fiscalização de despejo irregular de esgoto na rede de drenagem. | - Aplicação de Políticas de Planejamento Urbano ordenando a expansão urbana; -aplicação de normas que visem a restrição de área impermeabilizada nos novos loteamentos e empreendimentos imobiliários. | -Fiscalizar e manter um cronograma de manutenção e limpeza da microdrenagem;-Fiscalização de despejo irregular de esgoto. | - Fiscalização da eficiência da aplicação de Políticas de Planejamento Urbano ordenando a expansão urbana;-Fiscalização da eficiência da aplicação de normas que visem a restrição de área impermeabilizada nos novos loteamentos e empreendimentos imobiliários. |
| PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES (R$) |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PRAZOS | POSSÍVEIS FONTES | MEMÓRIA DE CÁLCULO |
| IMEDIATO | CURTO | MÉDIO | LONGO | ||||
| 4.2.1 | Elaboração de Políticas de Planejamento Urbano, regulamentando o uso das zonas de inundação, permitindo um desenvolvimento racional dessas áreas. | R$50.000,00 | - | - | - | AA - RP | Custo médio |
| 4.2.2 | Criação de normas para restrição de área impermeabilizada nos novos loteamentos e empreendi- mentos imobiliários, bem como a exigência de telhados verdes e/ou reservatórios de acordo com o porte da obra. Tais práticas devem ser incorporadas à legislação municipal, garantindo sua aplicabilidade. | R$50.000,00 | - | - | - | AA - RP | Custo médio |
| 4.2.3 | Implantação de um Programa de manutenção e limpeza das estruturas de microdrenagem, garantindo a eficiência e eficácia desses dispositivos. | R$30.000,00 | R$50.000,00 | R$40.000,00 | R$80.000,00 | AA - RP | R$10.000/ano |
| 4.2.4 | Programa de fiscalização de despejo irregular de esgoto, com a finalidade de preservar os canais de micro e macrodrenagem, além da qualidade dos corpos hídricos. | R$82.800,00 | R$138.000,00 | R$110.400,00 | R$220.800,00 | AA - RP | Fiscal para monitoramento (R$2.300/mês) |
| 4.2.5 | Implantação de um Sistema de alerta e previsões de inundações, estabelecendo uma rede de trans- missão de dados pluviométricos e fluviométricos às centrais de processamento e informação. | R$65.000,00 | - | - | - | FPU - RP | Custo médio |
| 4.2.6 | Elaboração de um Plano de Micro e Macrodrenagem e Manejo de Águas pluviais | R$100.000,00 | - | - | - | FPU - RP | Custo médio |
| TOTAIS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES | R$327.800,00 | R$188.000,00 | R$150.400,00 | R$300.800,00 | TOTAL DO OBJETIVO | R$967.000,00 |
Legenda: RP – Recursos Próprios, FPU – Financiamento Público, FPR – Financiamento Privado.
Tabela 91 – Síntese do objetivo 3.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 4 | DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS |
| OBJETIVO | 3 | IMPLEMENTAR AÇÕES ESTRUTURAIS QUE MINIMIZEM OS PROBLEMAS NO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA |
| FUNDAMENTAÇÃO | O Município não apresenta problemas graves relacionados com assoreamento ou erosão, contudo ressalta-se sobre a necessidade de uma frequência maior de limpeza e/ou manutenção no sistema de drenagem das águas pluviais, a fim de garantir o funcionamento adequado do sistema, aumentar a vida útil do equipamento e evitar problemas em cenários futuros. Torna-se de interesse a realização de estudos de identificação de locais com o sistema de drenagem deficitário, visando garantir a continuidade do serviço considerando a expansão da malha urbana. |
| MÉTODO DE ACOMPANHAMENTO (INDICADOR) | Identificação da implementação do programa. |
| METAS |
| IMEDIATO - ATÉ 3 ANOS | CURTO - 4 A 8 ANOS | MÉDIO - 9 A 12 ANOS | LONGO - 13 A 20 ANOS |
| - Elaboração de projeto para implantação de dispositivos de controle de drenagem;-Promover a implementação e a correção nos locais que apresentam insuficiências ou deficiências nas galerias e que causem problemas de alagamento, erosão, enxurrada, correnteza de água e empoçamento, eliminando 40% das deficiências. | -Promover a correção nos locais que apresentam insuficiências ou deficiências nas galerias e que causem problemas de alagamento, erosão, enxurrada, correnteza de água e empoçamento, eliminando 60% das deficiências;-Obras do projeto para implantação de dispositivos de controle de drenagem. | - Promover a correção nos locais que apresentam insuficiências ou deficiências nas galerias e que causem problemas de alagamento, erosão, enxurrada, correnteza de água e empoçamento, eliminando 80% das deficiências;-Obras do projeto para implantação de dispositivos de controle de drenagem. | -Promover a correção nos locais que apresentam insuficiências ou defici- ências nas galerias e que causem problemas de alagamento, erosão, enxurrada, correnteza de água e empoçamento, eliminando 100% das deficiências;-Obras do projeto para implantação de dispositivos de controle de drenagem;-Instalar equipamentos de convivência |
| PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES (R$) |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PRAZOS | POSSÍVEIS FONTES | MEMÓRIA DE CÁLCULO |
| IMEDIATO | CURTO | MÉDIO | LONGO | ||||
| 4.3.1 | Elaborar e executar Projeto Executivo para rede pluvial no Município, em especial nas áreas com necessidade de implantação de sistemas e dispositivos de microdrenagem. | R$ 30.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 80.000,00 | RP - FPU - FPR | Custo médio de execução (R$200.000). |
| 4.3.2 | Elaborar e implementar Projeto Executivo para captação e reaproveitamento de água pluvial para edificações públicas que possuem capacidade de desenvolver tal projeto. | R$ 50.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 100.000,00 | RP - FPU - FPR | Custo médio de execução (R$650.000). |
| 4.3.3 | Promover limpeza e remoção de detritos acumulados nas tubulações e canais de drenagem de águas pluviais que impedem o fluxo contínuo de águas e reduzem a área útil da rede. | R$ 90.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 240.000,00 | RP | R$30.000/ano. |
| 4.3.4 | Dimensionamento e Implantação de dispositivos de controle de drenagem como bacias de retenção e bacias de detenção. | R$ 200.000,00 | RP - FPU - FPR | Custo médio |
| TOTAIS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES | R$ 370.000,00 | R$ 510.000,00 | R$ 380.000,00 | R$ 420.000,00 | TOTAL DO OBJETIVO | R$ 1.680.000,00 |
Legenda: RP – Recursos Próprios, FPU – Financiamento Público, FPR – Financiamento Privado.
Tabela 92 – Síntese do objetivo 4.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 4 | DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS |
| OBJETIVO | 4 | CONTROLE DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA FONTE (LOTES OU LOTEAMENTOS) |
| FUNDAMENTAÇÃO | Uma forma de amenizar a maioria dos problemas na drenagem das águas pluviais urbanas é realizar o controle das águas na fonte, ou seja, criar mecanismos para que os lotes ou loteamentos realizem a retenção das águas que precipitam em suas áreas para que a contribuição a jusante não aumente, assim, os dispositivos já construídos não sofreriam sobrecarga e a água retida poderia ser utilizada para fins não potáveis. Assim, o município deve realizar tal controle nos prédios públicos, assim como, fiscalizar a execução dos novos projetos de edificações em lotes e loteamentos particulares, conforme consta na legislação proposta pelo Plano. |
| MÉTODO DE ACOMPANHAMENTO (INDICADOR) | Índice de empreendimentos públicos que realizam controle das águas pluviais na fonte, o qual corresponde ao número de empreendimentos públicos que realizam o controle das águas pluviais na fonte em relação ao número total de empreendimentos públicos. |
| METAS |
| IMEDIATO - ATÉ 3 ANOS | CURTO - 4 A 8 ANOS | MÉDIO - 9 A 12 ANOS | LONGO - 13 A 20 ANOS |
| -Elaborar legislação que regulamente o controle das águas pluviais na fonte para prédios públicos e novos empreendimentos (loteamentos). Deverá também realizar campanhas para orientar e estimular o armazenamento da água da chuva. | -Fiscalização dos Lotes e Atualização da Planta Genérica de Cadastro e atingir 50% dos prédios públicos e os empreendimentos com dispositivos de captação das águas da chuva. | -Fiscalização dos Lotes e Atualização da Planta Genérica de Cadastro e atingir 100% dos prédios públicos e os empreendimentos com dispositivos de captação das águas da chuva. | -Fiscalização dos Lotes e Atualização da Planta Genérica de Cadastro dos prédios públicos e os empreendimentos com dispositivos de captação das águas da chuva. |
| PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES (R$) |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PRAZOS | POSSÍVEIS FONTES | MEMÓRIA DE CÁLCULO |
| IMEDIATO | CURTO | MÉDIO | LONGO | ||||
| 4.4.1 | Elaborar projetos de lei e ações para que todos os empreendimentos públicos, privados, e lotes residenciais realizem o controle e reutilização das águas pluviais na fonte, além da priorização de uso de calçadas ecológicas e beneficiamento tributário (IPTU) para proprietários que aderirem à ação. | R$ 30.000,00 | AA - RP | R$10.000/ano. | |||
| 4.4.2 | Fiscalização dos lotes urbanos beneficiados para aferir os índices de permeabilidade do solo. Realizar juntamente com a atualização da Planta Genérica de Valores a cada 4 anos. | R$ 37.500,00 | R$ 62.500,00 | R$ 50.000,00 | R$ 100.000,00 | AA - RP | R$50.000 a cada 4 anos. |
| TOTAIS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES | R$ 67.500,00 | R$ 62.500,00 | R$ 50.000,00 | R$ 100.000,00 | TOTAL DO OBJETIVO | R$ 280.000,00 |
Legenda: RP – Recursos Próprios, FPU – Financiamento Público, FPR – Financiamento Privado.
Tabela 93 – Síntese do objetivo 5.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 4 | DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS |
| OBJETIVO | 5 | IMPLANTAÇÃO DA TAXA DE DRENAGEM |
| FUNDAMENTAÇÃO | A definição adequada da taxa possibilita que esta cumpra algumas funções, o que depende do objetivo a ser alcançado com a receita aferida. Na ausência de informações precisas sobre a demanda dos serviços de drenagem e sem experiências de medição do consumo individual e a sua cobrança, deve definir-se uma taxa equivalente ao custo médio de produção, priorizando o financiamento do sistema. Como o sistema de drenagem urbana foi concebido para controlar o escoamento pluvial excedente, decorrente da impermeabilização do solo, parece aceitável que a cobrança pelo serviço incida sobre a área impermeável da propriedade. Diante das deficiências atuais, sugere-se a regularização da qualidade do serviço, mediante cumprimento das ações anteriores para se iniciar a discussão sobre a cobrança. |
| MÉTODO DE ACOMPANHAMENTO (INDICADOR) | Identificação da implementação da ação. |
| METAS |
| IMEDIATO - ATÉ 3 ANOS | CURTO - 4 A 8 ANOS | MÉDIO - 9 A 12 ANOS | LONGO - 13 A 20 ANOS |
| -Realizar estudos e debates com a população para a definição da taxa de drenagem urbana | -Implantar a Taxa de Drenagem | -Fiscalizar | -Fiscalizar |
| PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES (R$) |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PRAZOS | POSSÍVEIS FONTES | MEMÓRIA DE CÁLCULO |
| IMEDIATO | CURTO | MÉDIO | LONGO | ||||
| 4.5.1 | Realizar estudos e debates para a definição da taxa de drenagem urbana | R$ 50.000,00 | AA - RP | Custo de Ações de Cons- cientização e eventos para discussão da taxa. | |||
| 4.5.2 | Implantar a taxa de drenagem urbana | R$ 41.000,00 | AA - RP | 1 funcionário administra- tivo + sistema + gastos manutenção (R$28.200/ano). | |||
| 4.5.3 | Fiscalizar a tarifação após sua implementação | R$ 40.000,00 | R$ 80.000,00 | AA - RP | Custos administrativos re- lacionados à gestão do sistema (R$10.000/ano) |
| TOTAIS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES | R$ 50.000,00 | R$ 41.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 80.000,00 | TOTAL DO OBJETIVO |
Legenda: RP – Recursos Próprios, FPU – Financiamento Público, FPR – Financiamento Privado
10.2.5 Análise Econômica
O setor de drenagem urbana e manejo das águas pluviais no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Iúna, ES, contempla um conjunto de programas, projetos e ações com o objetivo de minimizar os impactos causados pelas águas pluviais e melhorar a infraestrutura de drenagem do município. O valor total estimado é R$ 4.041.040,00.
A Tabela 94 detalha os valores estimados para as intervenções propostas, distribuídas em diferentes prazos de implementação, e o Gráfico 27 mostra as porcenta- gens para cada prazo.
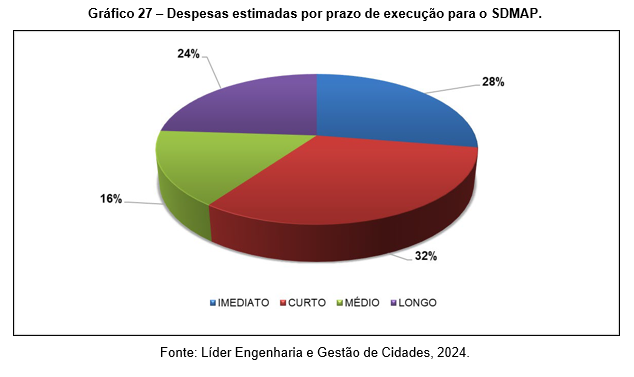
Tabela 94 – Síntese dos totais dos valores estimados para o SDMAP.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 4 | DRENAGEM URBANA E O MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS |
| PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES - TOTAIS DOS VALORES ESTIMADOS (R$) |
| OBJETIVOS | PRAZOS | TOTAL GERAL |
| IMEDIATO | CURTO | MÉDIO | LONGO | |||
| MAPEAMENTO, DIGITALIZAÇÃO E GEORREFERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO | R$297.360,00 | R$404.880,00 | R$ 33.600,00 | R$ 67.200,00 | R$ 803.040,00 | |
| IMPLEMENTAR AÇÕES NÃO ESTRUTURAIS QUE MINIMIZEM OS PROBLEMAS NO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA | R$327.800,00 | R$188.000,00 | R$150.400,00 | R$300.800,00 | R$ 967.000,00 | |
| IMPLEMENTAR AÇÕES ESTRUTURAIS QUE MINIMIZEM OS PROBLEMAS NO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA | R$370.000,00 | R$510.000,00 | R$380.000,00 | R$420.000,00 | R$1.680.000,00 | |
| CONTROLE DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA FONTE (LOTES OU LOTEAMENTOS) | R$ 67.500,00 | R$ 62.500,00 | R$ 50.000,00 | R$100.000,00 | R$ 280.000,00 | |
| CRIAÇÃO DE TAXA DE DRENAGEM | R$ 50.000,00 | R$141.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 311.000,00 | |
| TOTAL GERAL | R$1.112.660,00 | R$1.306.380,00 | R$654.000,00 | R$968.000,00 | R$4.041.040,00 |
11 ANÁLISE GLOBAL DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO EXISTENTES
Os sistemas de saneamento básico abrangem quatro eixos principais: abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais. Cada um desses eixos enfrenta desafios específicos que impactam diretamente a qualidade de vida da população e a sustentabilidade ambiental do município. No Quadro 54, são detalhados os principais problemas diagnosticados no município de Iúna, bem como suas possíveis causas.
Entre os principais problemas identificados, destacam-se a falta de fiscalização adequada, a inconsistência e incompletude dos dados preenchidos no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), e a insuficiência de investimentos em infraestrutura e manutenção. Esses fatores, associados a questões de conscientização e envolvimento da comunidade, contribuem para a persistência de falhas nos serviços de saneamento básico, afetando a saúde pública e o meio ambiente.
Quadro 54 – Quadro resumo do diagnóstico da situação do saneamento básico em Iúna.
| Eixo | Principais Problemas Diagnosticados | Principais Causas dos Problemas Identificados |
| Abastecimento de Água | - Necessidade de reduzir perdas de água;-Problemas de infraestrutura: São João do Príncipe e Trindade;-Problemas na qualidade da água distribuída, principalmente nos distritos. | - Vazamentos, rupturas de tubulações, roubos de água e outros;- Falta de Investimentos em Infraestrutura;- Falta de monitoramento e ampla divulgação de relatórios de qualidade;Falta de envolvimento da comunidade – conscientização – educação ambiental. |
| Esgotamento Sanitário | - Áreas não atendidas de forma adequada; - Ausência do cadastro ou fiscalização na disposição de efluentes; - Redes clandestinas; - Ausência de alguns indicadores do SNIS, e possíveis equívocos nos dados preenchidos;- A ausência de técnicos responsáveis por instruir os morado- res a realizarem o lançamento do efluente da forma adequada | - Desafios Topográficos e Ambientais;- Limitações Orçamentárias;- Redes clandestinas – falta de fiscalização;- Falta de envolvimento da comunidade – conscientização – educação ambiental;- Falta de Coleta de Dados;-Falhas nos Processos de Validação de Dados. |
| Manejo de Resíduos Sólidos | - Ineficiência na coleta e transporte de resíduos; - Descarte de resíduos em áreas irregulares; - Problemas no local do transbordo, como presença de animais e mau cheiro; - Ineficiência da coleta seletiva;- Falta de gestão de resíduos especiais (logística reversa). | - Falta de envolvimento da comunidade – conscientização – educação ambiental;- Ausência de cobertura para a coleta domiciliar na área rural;- Monitoramento e fiscalização por parte da Prefeitura inexistentes ou falho, principalmente para empresas;- Falta de transparência no funcionamento da associação de catadores do municipio, bem como pouco estimulo à segregação nos domicílios;- Falta de sistema de gestão para resíduos da construção civil e de limpeza pública;- Falta de cadastro para estabelecimentos geradores de resíduos especiais;-Pouco ou nenhum PEV destinados ao recebimento desses materiais. |
| Drenagem e Manejo das Águas Pluviais | - Ineficiência das medidas propostas no PDDU; - Ligações clandestinas de esgoto em rede pluvial; - Entupimento de bueiros e mau cheiro;- A inexistência de sistemas de alerta;- Falta de Dados Atualizados - SNIS | - Falta de Investimento;- Falta de fiscalização;- Falta de cronograma de limpeza preventiva em bueiros e galerias;- Dados incompletos e inconsistentes no SNIS;- Deficiências nos Sistemas de Coleta de Dados;Falta de envolvimento da comunidade – conscientização – educação ambiental. |
12 IMPACTOS NA SAÚDE, NA CIDADANIA E NOS RECURSOS NATURAIS
A implementação de um Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é fun- damental para assegurar a saúde pública, a qualidade de vida dos cidadãos e a sus- tentabilidade dos recursos naturais. No contexto do município de Iúna, a análise dos impactos decorrentes das ações de saneamento básico é fundamental para identificar benefícios e desafios, bem como para orientar políticas públicas eficazes e sustentáveis.
O saneamento básico é diretamente relacionado à saúde pública, uma vez que a ausência ou precariedade dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana pode levar à proliferação de doenças de veiculação hídrica e outras enfermidades. A falta de saneamento adequado é um fator determinante na ocorrência de doenças como diarreias, hepatites, verminoses e outras infecções, que afetam de forma significativa a população, especialmente os grupos mais vulneráveis, como crianças e idosos.
O acesso aos serviços de saneamento básico é um direito fundamental e está intrinsicamente ligado ao exercício da cidadania. A garantia desses serviços promove a dignidade humana, a inclusão social e a igualdade de oportunidades. Além disso, a participação ativa da comunidade na gestão e fiscalização das ações de saneamento reforça o empoderamento cidadão e a responsabilidade coletiva na preservação dos recursos ambientais e na melhoria das condições de vida.
A gestão eficiente dos recursos naturais é essencial para a sustentabilidade ambiental e para o bem-estar das gerações futuras. O manejo adequado do saneamento básico contribui para a preservação dos corpos hídricos, solos e ecossistemas, prevenindo a contaminação e degradação ambiental. Em Iúna, a proteção dos recursos hídricos é particularmente importante devido à sua relevância para o abastecimento da população e para a agricultura local, que é uma das principais atividades econômicas do município.
A interseção entre saúde, cidadania e recursos naturais no contexto do sanea- mento básico é complexa e demanda uma abordagem integrada e multifacetada. O PMSB de Iúna visa não apenas cumprir com as exigências legais e regulamentares, mas também promover uma melhoria real e perceptível na qualidade de vida dos seus cidadãos, assegurando a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável do município.
13 AVALIAÇÃO GLOBAL DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS PARA O SANEA- MENTO BÁSICO
O saneamento básico, sendo um serviço essencial, deve ser gerido de forma adequada pelo poder público local, que detém a responsabilidade como titular dos serviços. Mesmo quando não executados diretamente pelo município, como ocorre em algumas áreas da gestão de resíduos sólidos, o município concedente deve assegurar a boa administração desses serviços, garantindo a participação da sociedade, conforme estipulado pela Lei nº 11.445/2007. A prestação inadequada ou de baixa qualidade resulta em sérios riscos à saúde pública e impactos ambientais negativos.
A análise econômico-financeira apresentada busca conscientizar sobre as reais necessidades para alcançar a universalização dos serviços de saneamento. Esta seção tem como objetivo destacar as possíveis dificuldades que os gestores enfrentarão na captação de recursos para a implementação das ações planejadas, assim como enfatizar as metas e os valores projetados para cada componente do saneamento.
Conforme observado na maioria dos municípios brasileiros, a escassez de re- cursos para melhorar a qualidade dos serviços ou mesmo para sua manutenção bá- sica é uma constante preocupação dos gestores locais. Essa limitação torna o desafio de melhorar os indicadores de saneamento ainda maior, o que impacta diretamente na qualidade de vida e na preservação ambiental. Apesar da necessidade de planejar todos os passos rumo à universalização, é amplamente reconhecido que os municípios, em geral, enfrentam restrições de investimento, exigindo contrapartidas signifi- cativas dos governos federal e estadual, além de outras linhas de crédito internacionais.
Nesta etapa, é apresentada uma análise detalhada para cada serviço de saneamento básico, com a identificação das responsabilidades, dos recursos e dos investimentos necessários para os próximos 20 anos. A seguir, encontra-se a avaliação econômico-financeira de cada eixo do saneamento.
Tabela 95 – Análise total dos investimentos previstos para o PMSB.
| PRAZO |
| SETOR | IMEDIATO | CURTO | MÉDIO | LONGO | TOTAL |
| ABASTECIMENTO DE ÁGUA | R$ 1.474.661,52 | R$ 2.267.743,76 | R$ 1.862.916,00 | R$ 3.958.828,28 | R$ 9.564.149,6 |
| ESGOTAMENTO SANITÁRIO | R$ 3.241.727,65 | R$ 5.424.023,58 | R$ 4.358.515,50 | R$ 8.865.030,29 | R$ 21.889.297,0 |
| RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA | R$ 9.382.351,24 | R$17.853.846,10 | R$12.904.338,77 | R$25.793.681,31 | R$ 65.934.217,4 |
| DRENAGEM URBANA E O MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS | R$ 1.112.660,00 | R$ 1.306.380,00 | R$ 654.000,00 | R$ 968.000,00 | R$ 4.041.040,0 |
| TOTAL | R$10.495.011,24 | R$19.160.226,10 | R$13.558.338,77 | R$26.761.681,31 | R$101.428.704,0 |
A distribuição dos investimentos previstos no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Iúna, ES, foi planejada de forma a atender às diferentes necessidades ao longo do tempo, com uma abordagem progressiva.
O investimento imediato representa 15% do total, direcionado para ações urgentes que exigem respostas rápidas, de modo a mitigar problemas críticos no sistema de saneamento.
O curto prazo, por sua vez, recebe 28% dos recursos, abrangendo intervenções essenciais para consolidar melhorias iniciais e garantir a continuidade do planejamento a médio prazo.
O investimento de médio prazo é responsável por 19% do total e foca na expansão da infraestrutura e na eficiência dos serviços.
Já o longo prazo, que representa a maior fatia, com 38%, destina-se a interven- ções de maior escala e impacto, garantindo a sustentabilidade do sistema de saneamento e o atendimento das demandas futuras.
Essa distribuição equilibrada é mostrada no Gráfico 28.
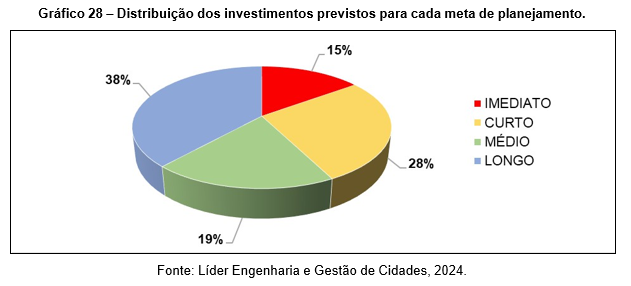
Quanto à distribuição por eixo, apresentada no Gráfico 29, O abastecimento de água corresponde a 9% do total de investimentos, evidenciando a necessidade de otimizar o sistema existente, garantindo a segurança hídrica e o atendimento regular à população.

O esgotamento sanitário, por sua vez, representa 22% do montante, o que demonstra a importância atribuída à expansão e melhoria da infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto, essencial para a saúde pública e a preservação dos corpos hídricos locais.
A maior parte dos recursos, 65%, está alocada para o eixo de resíduos sólidos e limpeza pública, indicando um foco claro em melhorar a gestão de resíduos, ampliar a coleta seletiva, promover a reciclagem e garantir a correta destinação final dos resíduos. Esse elevado percentual reflete o reconhecimento da necessidade de ações estruturais e operacionais robustas para enfrentar os desafios associados aos resíduos urbanos.
Por fim, 4% dos investimentos estão destinados à drenagem urbana e ao manejo de águas pluviais, com o objetivo de minimizar problemas relacionados a inundações, enchentes e a sobrecarga do sistema de drenagem durante os períodos de chuvas intensas.
14 DIAGNÓSTICO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL
A participação social desempenha um papel central no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Iúna, ES. O envolvimento da população foi incentivado por meio de oficinas participativas, questionários e debates, visando assegurar que as demandas da comunidade fossem consideradas na formulação das diretrizes do plano.
14.1 OFICINAS PARTICIPATIVAS
Em 07 de agosto de 2024, realizou-se a primeira oficina participativa por videoconferência, com a presença de 11 munícipes e do engenheiro Rodolfo Pimentel, da Prefeitura Municipal. A reunião, realizada na Casa da Cultura, teve início às 14h30 e durou cerca de duas horas. Foram apresentados os objetivos do PMSB, as etapas de desenvolvimento do plano e discutidos os desafios identificados no diagnóstico. Além disso, um questionário foi distribuído aos participantes para registrar suas percepções sobre os pontos positivos e negativos de cada eixo do PMSB.
A pauta da oficina foi:
• Apresentação da empresa e sua equipe técnica;
• Importância do PMSB;
• Equipes de trabalho e suas atribuições;
• Apresentação das Etapas de desenvolvimento do Plano;
• Nivelamento de conceitos;
• Abertura para sugestões da sociedade.
A segunda oficina ocorreu em 26 de agosto de 2024, na Câmara Municipal de Iúna, também por videoconferência, contou também com 11 participantes e seguiu a mesma pauta da primeira, com duração de cerca de 1h e 35 min. O engenheiro Rodolfo Pimentel conduziu o início do encontro, seguido pela apresentação do engenheiro sanitarista Henrique Morais, da Líder Engenharia e Gestão de Cidades. Novamente, um questionário foi distribuído para coleta de sugestões. Os questionários respondidos nas oficinas, as listas de presença preenchidas e a apresentação em Power Point utilizada estão disponíveis no Anexo II – Oficinas participativas.
As mídias de divulgação das 2 oficinas realizadas estão apresentadas na Figura 195 e Figura 196.
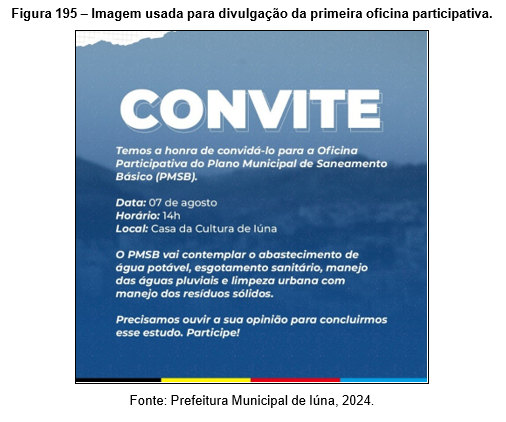

O perfil dos participantes das duas oficinas realizadas em Iúna, no âmbito da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), foi bastante diverso, refletindo a pluralidade de setores envolvidos no processo. Estiveram presentes 8 pessoas que atuam no setor público, distribuídas entre instituições como a APAE e a Polícia Militar, além de 4 pessoas também ligadas ao setor público, mas diretamente relacionadas ao saneamento básico. Entre estas, destacaram-se a participação de um técnico da CESAN (Companhia Espírito Santense de Saneamento), 2 profissionais da vigilância sanitária e um membro da associação do Pró-rural da comunidade de Nossa Senhora das Graças.
Além destes, a educação foi representada por 3 participantes vinculados a essa área, contribuindo com suas perspectivas para o processo. Por fim, o setor privado também esteve representado por 2 pessoas, sendo um empresário e outro colaborador de uma empresa privada especializada em georreferenciamento
O Gráfico 30 apresenta a distribuição da participação social, em termos de porcentagem, nas 2 oficinas realizadas em Iúna.
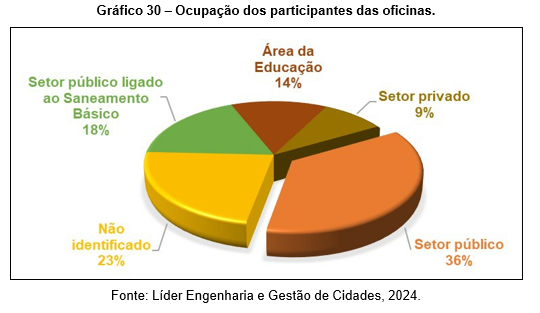
A partir da análise das respostas e contribuições oferecidas pelos participantes das oficinas, tanto por meio dos questionários quanto durante a reunião por videoconferência, foram compilados os principais pontos levantados, detalhados no Quadro 55.
Quadro 55 – Resultados levantados durante participação social.
| Eixo | Pontos levantados |
| Abastecimento de Água | - Falta de educação ambiental; - Falta de divulgação de relatórios de qualidade por bairros ou distritos; -Falta de apoio e investimentos na produção de água (reflorestamento) |
| Esgotamento Sanitário | - Esgoto a céu aberto; - Três escolas sem rede de esgoto; - Falta de esgotamento em vários pontos; - Redes clandestinas – falta de fiscalização; -Falta de educação ambiental |
| Resíduos Sólidos | - Insuficiência de lixeiras em pontos estratégicos;- Falta de horário fixo para coleta; - Falta de divulgação dos horários de coleta; -Falta de transparência na reciclagem |
| Drenagem Urbana | - Ligações clandestinas de esgoto na rede pluvial; - Falta de cronograma preventivo de limpeza de bueiros; - Bueiros sempre entupidos em época de chuva; -Falta de educação ambiental |
No eixo de abastecimento de água, os participantes destacaram a necessidade de maior educação ambiental, a falta de divulgação regular dos relatórios de análise de qualidade por bairros ou distritos, bem como a ausência de apoio e investimentos voltados à produção de água, especialmente em ações de reflorestamento.
Em relação ao esgotamento sanitário, foram apontadas situações de esgoto a céu aberto, a inexistência de rede de esgoto em três escolas, além da falta de fiscalização das redes clandestinas e insuficiência de ações de educação ambiental na área.
No que se refere aos resíduos sólidos, os pontos mencionados incluem a in- suficiência de lixeiras em locais estratégicos, a falta de um horário fixo e de maior divulgação da coleta de lixo, além da falta de transparência no processo de reciclagem, o que desestimula a participação da população. A questão da drenagem urbana também foi abordada, com destaque para a existência de ligações clandestinas de esgoto na rede pluvial, a falta de um cronograma de limpeza preventiva de bueiros e a necessidade de maior educação ambiental sobre o tema. Esses pontos refletem as principais preocupações e sugestões dos participantes para a melhoria dos serviços de saneamento no município.
Abaixo segue o registro fotográfico da 1ª (Figura 197) e da 2ª (Figura 198) oficinas participativas.


![]()
14.2 AUDIÊNCIA PÚBLICA
No dia 11 de fevereiro de 2025, às 19h30, na Câmara Municipal de Iúna-ES, teve início a reunião conduzida pelo Secretário de Meio Ambiente, Sr. Manoel Arcângelo Rafael Gomes. Na sequência, a Engenheira Ambiental, Dra. em Geociências e Meio Ambiente, Ana Maria Carrascosa do Amaral, representante da empresa Líder Engenharia e Gestão de Cidades, realizou a apresentação conforme a seguinte pauta:
· Apresentação da empresa e sua equipe técnica;
· Importância da implantação do Planos
·Apresentação do Diagnóstico;
· Apresentação do Prognóstico: objetivos, metas e investimentos;
· Abertura para manifestações da sociedade.
Durante a reunião, foram abordados os principais aspectos da elaboração e execução dos Planos, destacando a necessidade de planejamento adequado e investimentos para garantir sua eficácia. A reunião contou com a participação de cerca de sete pessoas.
O perfil dos participantes incluiu uma representante do Instituto Maria da Mata, um representante da Secretaria de Turismo, vereadores e um morador da comunidade, contribuindo com questionamentos e sugestões.
Abaixo, segue o convite de divulgação da Audiência Pública realizada, bem como o registro fotográfico.
A lista de presença e a apresentação em Power Point estão disponíveis no Anexo III.
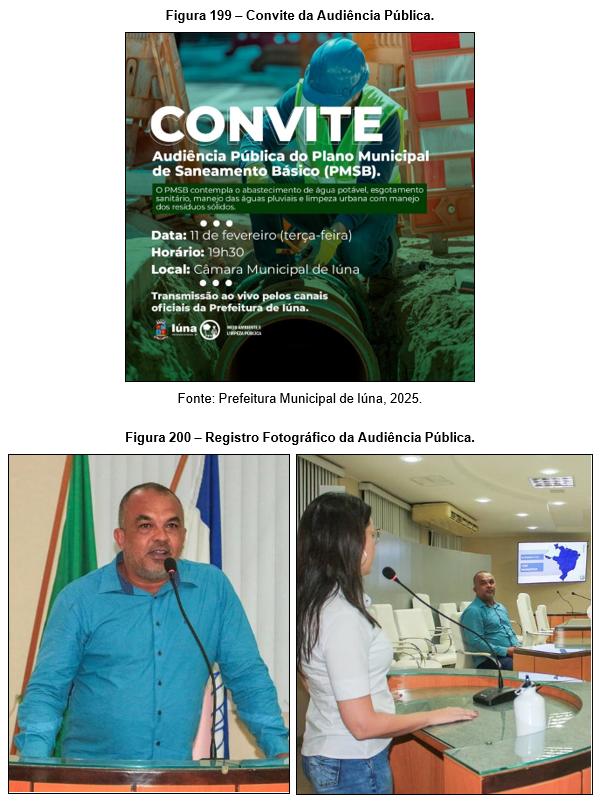

15 FONTES DE FINANCIAMENTO
No contexto orçamentário dos municípios brasileiros, a busca por fontes alternativas de financiamento torna-se vital para garantir a implementação e execução de planos e ações de governo. Muitas vezes, os recursos provenientes dos órgãos do governo federal representam a principal fonte de sustento para os serviços básicos e atividades administrativas, mas frequentemente são insuficientes para cobrir todas as despesas e investimentos necessários.
Apesar de pouco exploradas pelos gestores públicos municipais, existem outras fontes de receita que podem contribuir significativamente para o desenvolvimento local em diversas áreas. Desde projetos simples e específicos até arranjos multidisciplinares mais complexos, as prefeituras podem obter benefícios como implementação de projetos, melhorias em infraestrutura e ampliação dos serviços oferecidos à população.
Essas fontes de recursos incluem linhas do governo federal, órgãos estaduais e bancos públicos, programas de desenvolvimento regional e fundos globais para projetos multilaterais. Além disso, agências de fomento de governos estrangeiros também oferecem programas de financiamento com forte atuação no Brasil.
Embora o acesso a esses fundos nem sempre seja simples para as prefeituras, muitos deles visam justamente fortalecer a capacidade técnica e administrativa dos municípios. Para tanto, é importante que as prefeituras estejam atentas aos editais e chamamentos públicos divulgados pelos sites dessas instituições, além de investirem na qualificação de suas equipes técnicas e na melhoria de sua capacidade de gestão e prestação de contas.
Os financiamentos podem ser categorizados como voluntários, quando integram o orçamento público, ou compulsórios, quando são recursos direcionados obrigatoriamente para fins específicos. Exemplos incluem linhas de crédito, como empréstimos com taxas de juros mais baixas oferecidos por agentes financeiros, e incentivos fiscais concedidos pelo governo à iniciativa privada na forma de deduções de impostos.
Recursos a fundo perdido também são uma opção, sujeitos a critérios preestabelecidos e fornecidos sem a necessidade de reembolso, provenientes de fundos nacionais, estaduais e municipais.
Por outro lado, as fontes privadas de recursos originam-se de diversas instituições, como associações, empresas, fundações e bancos. Essas instituições geralmente possuem modelos específicos para apresentação de projetos e linhas de finan- ciamento bem definidas. Exemplos incluem empresas que oferecem financiamento para projetos, associações que realizam doações ou financiamentos em sua área de atuação, fundações que buscam apoiar projetos sociais, ambientais e culturais, e alguns bancos, tanto nacionais quanto internacionais, que disponibilizam financiamentos não reembolsáveis para projetos socioambientais e socioculturais.
No contexto estadual, as administrações municipais têm à disposição uma série de recursos, incentivos financeiros e assistência técnica especializada oferecidos por órgãos como a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (SEDEST) e o Instituto Água e Terra (IAT). Essas instituições desempenham um papel fundamental na promoção e no apoio às iniciativas municipais voltadas para a gestão ambiental, o desenvolvimento sustentável e a preservação dos recursos hídricos. Por meio de programas e projetos específicos, esses órgãos estaduais oferecem recursos financeiros, capacitação técnica, monitoramento ambiental e orientação para a elaboração e implementação de políticas e ações municipais relacionadas ao meio ambiente e aos recursos hídricos. Essa parceria entre os municípios e os órgãos estaduais é essencial para fortalecer as políticas ambientais locais e promover uma gestão sustentável do meio ambiente em todo o estado do Espírito Santo.
Considerando as limitações financeiras dos municípios e os elevados investimentos necessários para a implementação do Plano, apresentam-se aqui diversas fontes de recursos financeiros às quais os municípios podem recorrer.
15.1 RECURSOS ORDINÁRIOS
Recursos ordinários são aqueles que fazem parte do orçamento público de forma regular e recorrente, ou seja, são receitas que o governo arrecada de maneira constante ao longo do tempo para financiar suas atividades rotineiras e essenciais. Esses recursos são gerados principalmente por meio de impostos, taxas e contribuições, bem como outras fontes de receitas correntes, como as transferências intergovernamentais e as receitas próprias dos entes federativos. Em resumo, os recursos ordinários representam a base financeira estável e contínua do governo, permitindo lhe custear suas despesas regulares, como folha de pagamento, manutenção de ser- viços públicos básicos e investimentos em infraestrutura.
Os municípios dispõem de recursos ordinários decorrentes de impostos descritos a seguir.
·Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU):
“como o nome indica, é o imposto voltado a propriedades com construção no meio urbano. Ou seja, ele é cobrado anualmente de todos os proprietários de casas, prédios ou estabelecimentos comerciais nas cidades (Teixeira, 2020).”
·Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN):
“é um imposto previsto no art. 156 da Constituição da República Federativa do Brasil. É um imposto brasileiro municipal, ou seja, somente os municípios têm competência para instituí-lo.”
· Imposto sobre a Transmissão Onerosa de Bens Imóveis (ITBI):
“é um tributo municipal obrigatório e cobrado pelas prefeituras ao comprador do imóvel.”
· ICMS:
“repasse do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação.”
· Fundo de Participação do Municípios (FPM);
“Recursos recebidos pelos Municípios a título de participação na arrecadação de tributos federais (Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados).”
· Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR);
“é um tributo federal que se cobra anualmente das propriedades rurais. Precisa ser pago pelo proprietário da terra, pelo titular do domínio útil ou pelo possuidor a qualquer título.”
Esses recursos são empregados para financiar projetos de infraestrutura, que poderiam incluir obras de melhoria na área de saneamento e gestão de resíduos. No entanto, esses recursos são de caráter obrigatório, e os municípios terão acesso a eles mesmo se não corresponder as condições estabelecidas pela PNRS (BRASIL, 2010).
Assim, enquanto os recursos ordinários fornecem uma base financeira estável para os municípios, é necessário que haja uma gestão eficaz desses recursos para garantir que sejam alocados de forma adequada e prioritária para áreas críticas, como o saneamento e a gestão de resíduos. Isso envolve a implementação de políticas e projetos que promovam a sustentabilidade ambiental e o bem-estar da população, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela legislação ambiental e de resíduos sólidos.
15.2 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
A construção e aprovação deste Plano pelo município, nos termos previstos pela PNRS, autoriza o acesso a recursos extraordinários da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados aos resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. Sendo assim, é importante saber os meios que se tem disponíveis para financiamento da gestão dos resíduos sólidos. Em seguida os subitens apresentam algumas alternativas de recursos extraordinários existentes.
No contexto do saneamento básico municipal, os recursos extraordinários referem-se a fontes de financiamento não recorrentes que podem ser utilizadas para investimentos específicos ou para lidar com situações emergenciais relacionadas ao saneamento.
É importante ressaltar que, embora os recursos extraordinários possam fornecer um impulso financeiro significativo para projetos de saneamento básico, eles não devem substituir os investimentos regulares e contínuos necessários para a manuten- ção e melhoria dos sistemas de saneamento. Os municípios devem buscar um equilíbrio entre o uso de recursos ordinários e extraordinários para garantir a sustentabilidade e eficácia de suas políticas de saneamento básico.
Abaixo, serão apresentadas algumas alternativas concretas que podem ser exploradas pelos municípios para potencializar seus esforços no campo do saneamento básico. Estas linhas de crédito podem ser de dois tipos:
· Reembolsável: o recurso financeiro é obtido em condições mais vantajosas (taxa, carência e amortização), porém deve ser devolvido.
· Não reembolsável: o recurso obtido não precisa ser devolvido,
15.2.1 Os programas de financiamento reembolsáveis
Estes programas proporcionam para as concessionárias a possibilidade de captarem empréstimos financeiros, que são destinados para os municípios com a finalidade de contribuir com a evolução de algum setor relacionado ao saneamento básico, entretanto, o mesmo valor deve ser devolvido ao longo do tempo com reajustes e correções monetárias.
a) Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES):
Uma das principais finalidades do BNDES é apoiar o desenvolvimento local por meio de parcerias estabelecidas com governos estaduais e prefeituras, viabilizando e implementando os investimentos necessários.
As instâncias de governo podem solicitar financiamentos a projetos de investimentos, aquisição de equipamentos e exportação de bens e serviços. Esse tipo de financiamento é reembolsável. Quando requerido pelo Município, é necessário que na lei orçamentária esteja contida a previsão do pagamento do valor do empréstimo, bem como haja a permissão para a assunção da dívida em nome do município.
b) Banco do Brasil (BB)
Seguindo a mesma estratégia do BNDES, o Banco do Brasil proporciona financiamentos para a aquisição de máquinas, equipamentos novos e insumos. Tais finan- ciamentos só podem ser requeridos por sociedades empresárias (micro, pequenas e médias empresas) ou por associações e cooperativas.
Além disso, o Banco do Brasil disponibiliza uma variedade de linhas de crédito específicas para atender às necessidades de investimento desses segmentos, visando promover o desenvolvimento e a competitividade das empresas. Essas linhas de financiamento podem incluir condições especiais, como prazos estendidos, taxas de juros atrativas e carência para pagamento, com o objetivo de facilitar o acesso ao crédito e impulsionar o crescimento dos negócios.
c) Caixa Econômica Federal (CEF)
A CEF oferece financiamento e repasse de recursos para entes públicos e pri- vados, que busquem ações de implementação ou ampliação do saneamento básico, infraestrutura e saúde, visando a melhoria da qualidade de vida da população. Dessa forma, dentre as operações estimuladas e incentivadas pela CEF, tem-se também:
· Iniciativas voltadas à eficiência energética;
· Ações de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequada dos esgotos sanitários;
· Ações de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino do lixo doméstico e do originário da varrição e limpeza de logradouro e vias públicas;
· Ações de limpeza urbana;
· Projetos de MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) para a promoção da sustentabilidade ambiental e social, e a redução de gases de efeito estufa na atmosfera.
Além disso, dentre as linhas de financiamento disponibilizadas pela Caixa Econômica Federal, tem-se:
· Financiamento para Investimentos em Saneamento (FINISA): esta linha de crédito é destinada a financiar investimentos em projetos de saneamento básico, incluindo obras de ampliação e melhoria dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, construção de estações de tratamento de água e esgoto, implantação de redes de distribuição e coleta, entre outros;
· Programa de Aceleração do Crescimento (PAC): a Caixa participa do financia- mento de projetos de saneamento básico inseridos no âmbito do PAC, que tem como objetivo promover o crescimento econômico e o desenvolvimento social por meio de investimentos em infraestrutura, incluindo obras de saneamento;
· Programa Saneamento para Todos: a CEF oferece apoio financeiro para a implementação de projetos de saneamento básico voltados para comunidades de baixa renda, visando a universalização do acesso aos serviços de água e esgoto em áreas carentes.
d) Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
O BID propicia o desenvolvimento econômico, social e sustentável na América Latina e no Caribe mediante suas operações de crédito, liderança em iniciativas regionais, pesquisa e atividades, institutos e programas que promovem a divulgação de conhecimento.
O BID auxilia na elaboração de projetos e oferece financiamento, assistência técnica e conhecimentos para apoiar intervenções de desenvolvimento. Empresta a governos nacionais, estaduais e municipais, bem como a instituições públicas autônomas. Organizações da sociedade civil e empresas do setor privado também são elegíveis para financiamentos do BID.
e) Banco Mundial (The World Bank)
O Banco Mundial é reconhecido como uma instituição de destaque, fornecendo assistência para o desenvolvimento em escala global. Com um volume significativo de cerca de US$30 bilhões anuais em empréstimos para seus países membros, desempenha um papel crucial na promoção do crescimento econômico sustentável e equilibrado em todo o mundo. Utilizando recursos financeiros substanciais, uma equipe altamente qualificada e uma vasta base de conhecimento, o Banco Mundial trabalha em estreita colaboração com países em desenvolvimento, oferecendo su- porte para trilharem caminhos de crescimento estável e duradouro.
O objetivo primordial do Banco Mundial é ajudar as populações mais pobres e os países menos desenvolvidos. Para alcançar esse objetivo, a instituição não apenas fornece financiamento, mas também oferece orientação e assistência técnica. Isso inclui o apoio aos países na implementação de reformas econômicas, no fortalecimento de seus sistemas financeiros e no investimento em recursos humanos, infraestrutura e proteção ambiental. Por meio dessas ações, o Banco Mundial contribui para aumentar a capacidade dos países de atrair e reter investimentos privados, impulsionando assim o desenvolvimento econômico e social.
Além disso, o Banco Mundial desempenha um papel fundamental na promoção do investimento privado nos países em desenvolvimento. Ao trabalhar em conjunto com os governos para reformar suas economias e melhorar o ambiente de negócios, a instituição ajuda a criar condições favoráveis para que o setor privado invista de maneira sustentável. Isso não apenas estimula o crescimento econômico, mas também contribui para a criação de empregos, o desenvolvimento de infraestrutura e a proteção do meio ambiente, beneficiando assim as comunidades locais e promovendo um desenvolvimento inclusivo e duradouro.
f) Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
O PAC é um projeto do governo federal que incentiva o crescimento da economia brasileira mediante o investimento em obras de infraestrutura. É uma das prioridades de investimentos em infraestrutura estão eixos como o saneamento básico (PAC Cidade Melhor), a habitação (PAC Habitação), o transporte (PAC Transporte), a energia (PAC Energia) e os recursos hídricos (PAC Água e Luz Para Todos).
Visando no desenvolvimento social e econômico, o Programa de Aceleração do Crescimento é uma maneira de acessar aos recursos federais, já que o capital utilizado pode ser de recursos da União (orçamento do governo federal), capitais de investimentos de empresas estatais e de investimentos privados com estímulos de investimentos públicos e parcerias.
Sendo assim, cabe ao gestor público analisar as opções para, em parceria, poder atender à PNRS com base nos recursos disponibilizados pelo governo federal.
15.2.2 Programas de financiamento não reembolsáveis
Esses programas são formas de ajudar financeiramente os municípios em projetos que tragam evoluções ao local, esses mesmos não precisam ser devolvidos as fundações.
a) Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA)
A Lei Federal nº 7.797 (BRASIL, 1989) instituiu o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, com o propósito de prover recursos para capacitação de gestores em diversas áreas relacionadas ao meio ambiente, como água, florestas, fauna, projetos sustentáveis e planejamento territorial. Este fundo visa apoiar iniciativas que promovam a proteção da biodiversidade e da natureza, bem como a implementação de projetos voltados para o desenvolvimento sustentável.
As propostas de projetos podem ser submetidas de acordo com os temas estabelecidos anualmente pelo Conselho Deliberativo do FNMA. Para isso, é necessário seguir as orientações disponibilizadas na página eletrônica do FNMA. As linhas de investimento do FNMA concentram-se no uso racional e sustentável dos recursos naturais, visando à preservação, melhoria ou recuperação do meio ambiente, com o objetivo de elevar a qualidade de vida da população.
Dentre as áreas prioritárias para investimento, destacam-se:
· Educação Ambiental, visando sensibilizar e conscientizar a população sobre questões ambientais e promover a mudança de comportamento;
· Controle Ambiental, que engloba ações de monitoramento, fiscalização e controle de atividades que impactam o meio ambiente;
· Unidades de Conservação, destinadas à proteção e preservação de ecossistemas naturais e da biodiversidade;
· Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, voltados para a produção de conhecimento e inovação em temas ambientais;
· Manejo e Extensão Florestal, envolvendo práticas sustentáveis de manejo de florestas e ações de educação e capacitação;
· Desenvolvimento Institucional, com o fortalecimento de instituições e organizações voltadas para a gestão ambiental;
· Aproveitamento Econômico Racional e Sustentável da Flora e Fauna Nativas, visando o uso sustentável dos recursos naturais sem comprometer sua renovação e preservação;
· Aproveitamento Econômico Racional e Sustentável da Flora e Fauna Nativas.
b) Fundo Brasileiro de Educação Ambiental (FunBEA)
O FunBEA (Fundo Brasileiro de Educação Ambiental) representa o resultado de um processo colaborativo e articulado entre diversos atores sociais, incluindo gestores, educadores, pesquisadores, cientistas e profissionais, que enfrentam os desafios cotidianos relacionados à promoção da Educação Ambiental (EA) no Brasil. Criado em 2010, o FunBEA tem como propósito facilitar e potencializar iniciativas, projetos e programas de EA que historicamente encontram dificuldades para obter financiamento por meio das formas tradicionais.
A iniciativa surgiu da necessidade de superar barreiras jurídicas, operacionais, pedagógicas e de inovação social que muitas vezes limitam o financiamento de pro- jetos de EA. Educadores e gestores ambientais, provenientes de diferentes esferas da sociedade, como academia, sociedade civil organizada, setor empresarial e governo, foram os responsáveis por impulsionar o surgimento do FunBEA, com o apoio e presença do Ministério do Meio Ambiente.
Essa colaboração interdisciplinar e multissetorial permitiu a criação de um mecanismo flexível e ágil, capaz de responder de forma eficaz às demandas e necessidades dos projetos de EA em todo o país.
c) Ministério da Saúde
A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), órgão vinculado ao Ministério da Saúde, concede autorização aos municípios interessados em obter recursos para fortalecer a gestão de resíduos sólidos, para apresentarem seus projetos de pesquisa nas áreas de engenharia de saúde pública e saneamento ambiental. O objetivo primordial é aprimorar as medidas de saúde pública por meio da implementação de sistemas que ampliem a coleta, transporte, tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos, visando controlar doenças decorrentes da deficiência no sistema de limpeza urbana.
Os projetos podem ser submetidos por municípios que possuam uma população total de até 50 mil habitantes e/ou estejam contemplados no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). É essencial que a temática abordada nos projetos esteja em conformidade com o manual de orientações técnicas para a Elaboração de Projetos de Resíduos Sólidos, disponível no site oficial da FUNASA. Este manual serve como guia para garantir a qualidade e eficácia dos projetos apresentados, proporcionando diretrizes claras e específicas para a elaboração de propostas bem fundamentadas e alinhadas às necessidades locais e às diretrizes nacionais de saneamento básico.
d) Ministério das Cidades – Sistema Nacional de Saneamento Ambiental
O Ministério das Cidades, por meio da Instrução Normativa nº 22/2018, esta- beleceu diretrizes para a contratação de operações de crédito voltadas para a execução de ações de saneamento, com foco nos Mutuários Públicos. Publicada em 6 de agosto, essa regulamentação visa financiar investimentos em saneamento ambiental e infraestrutura, abrangendo uma gama de projetos que visam melhorar a qualidade de vida e o bem-estar das comunidades. O processo de seleção dos projetos é contínuo, permitindo que o cadastramento seja feito em qualquer momento por meio do site do Ministério, facilitando o acesso e a participação dos interessados.
Os beneficiários dessas operações de crédito incluem o Distrito Federal, Governos Estaduais, Prefeituras Municipais e prestadores de serviços constituídos como empresa pública ou sociedade de economia mista. Para garantir uma gestão eficiente, o Ministério estabelece critérios específicos para diferentes tipos de entidades proponentes, como autarquias municipais e Consórcios Públicos, visando garantir a transparência e a eficácia na aplicação dos recursos.
Dentre os projetos elegíveis estão diversas áreas essenciais para o saneamento, como abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e planos de saneamento básico. A diversidade de áreas contempladas reflete a abrangência e a complexidade dos desafios enfrentados na área do saneamento, visando atender às necessidades variadas das comunidades em todo o país.
Os recursos para essas operações de crédito provêm do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com o montante disponível considerando o orçamento destinado ao FGTS para o exercício. As taxas de juros, estabelecidas em TR + 9% ao ano, são acessíveis, e a exigência de contrapartida de 5% do valor do projeto busca incentivar o comprometimento dos beneficiários e garantir a viabilidade financeira dos empreendimentos.
Com prazo flexível, que inclui carência de até 4 anos e amortização em até 20 anos, as operações de crédito oferecem uma oportunidade significativa para investimentos de longo prazo no setor de saneamento. Através dessas iniciativas, espera- se promover avanços significativos na qualidade dos serviços de saneamento, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar das comunidades em todo o Brasil.
e) Ministério da Justiça – Fundo de Direito Difuso (FDD)
O Fundo de Direito Difuso (FDD), gerido pelo Ministério da Justiça, tem como propósito remediar danos causados ao meio ambiente, aos consumidores e a bens de valor artístico, estético, histórico e turístico, além de infrações à ordem econômica e outros interesses difusos e coletivos. Os recursos destinados a esse fundo são pro- venientes de diversas fontes, como multas aplicadas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), multas decorrentes do descumprimento de Termos de Ajustamento de Conduta e condenações judiciais em ações civis públicas.
Estes recursos são direcionados exclusivamente a entidades que atuam na de- fesa dos direitos difusos, como preservação e recuperação do meio ambiente, prote- ção e defesa do consumidor, promoção e defesa da concorrência, entre outros.
Projetos que incentivem a gestão de resíduos sólidos, coleta seletiva ou outras iniciativas alinhadas aos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) podem ser apoiados com esses recursos, que visam a redução, reutilização, reaproveitamento e reciclagem do lixo.
Para ter acesso aos recursos do FDD, é necessário submeter uma carta-consulta, cujo modelo é disponibilizado no site do Ministério da Justiça, após um processo de candidatura. As entidades elegíveis para solicitar esses recursos incluem instituições governamentais da administração direta e indireta dos governos federal, estadual e municipal, bem como organizações não governamentais brasileiras relacionadas à atuação em projetos ambientais, de defesa do consumidor, de valor artístico ou histórico.
f) Fundo Nacional de Compensação Ambiental (FNCA)
Em 2005, para garantir a aplicação adequada dos recursos da compensação ambiental dos processos de licenciamento federal, o MMA e o Ibama criaram o Fundo Nacional de Compensação Ambiental (FNCA) em cooperação com a CAIXA. Os recursos eram depositados em um fundo de investimento gerido pelo banco, a partir da adesão do empreendedor, e executado pelo Ibama.
O FNCA evitava a entrada dos recursos no caixa único do Tesouro Federal e os tornava mais disponíveis para a aplicação direta nas unidades de conservação federais. O FNCA foi criado para investir quantias originárias de compensações ambientais, pagas por empreendimentos de infraestrutura ou outros igualmente impactantes.
g) Fundo Vale
Criado em 2009 pela Cia. Vale do Rio Doce, como contribuição da empresa para a busca de soluções globais de sustentabilidade, o fundo iniciou suas ações pelo Bioma Amazônia, apoiando iniciativas que unem a conservação dos recursos naturais à melhoria da qualidade de vida e ao fortalecimento dos territórios amazônicos e suas comunidades.
Os recursos são oriundos da Vale, mas alguns projetos são desenvolvidos a partir de parcerias com o poder público e outras organizações. Parceiros institucionais: Fundação Avina, Forest Trends, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), Articulação Regional Amazônica (ARA) e Iniciativa Amapá.
As ações desenvolvidas pelo Fundo Vale estão agrupadas em três programas de trabalho, sendo que os projetos podem abranger mais de um programa em suas atividades:
· Programa Municípios Verdes: que apoia uma agenda de desenvolvimento sustentável nos municípios, com engajamento dos atores locais, conciliando gestão ambiental e economia local de base sustentável;
· Programa Áreas Protegidas e Biodiversidade: visa promover a gestão integrada das áreas protegidas, em conexão com as estratégias de desenvolvimento local, regional e nacional, de forma a demonstrar a sua contribuição para os territórios e ga- rantir a sustentabilidade destas áreas e de seus povos; e
· Programa Monitoramento Estratégico: busca potencializar iniciativas de monitoramento e políticas de intervenção, com base na geração e uso de informação estratégica para a conservação dos recursos naturais, a redução da sua degradação e o desenvolvimento sustentável das populações locais.
Além dos programas mencionados, o Fundo Vale também pode apoiar projetos que envolvam outras áreas de interesse, desde que estejam alinhados com seus objetivos de promover a sustentabilidade e o desenvolvimento local. Esses projetos podem incluir iniciativas de educação ambiental, recuperação de áreas degradadas, promoção do uso sustentável dos recursos naturais, entre outros.
É importante destacar que o Fundo Vale atua de forma integrada com as comunidades locais, os governos e outras partes interessadas, buscando garantir que suas iniciativas tenham um impacto positivo e duradouro no meio ambiente e na qualidade de vida das pessoas. A transparência e a prestação de contas são princípios fundamentais na gestão e execução dos projetos financiados pelo fundo, visando assegurar a eficiência e a eficácia das ações desenvolvidas.
16 INDICADORES DE DESEMPENHO DOS SERVIÇOS E DA IMPLANTAÇÃO DO PMSB
O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) deve ser revisado periodicamente, permitindo o acompanhamento contínuo e a adaptação a novas circunstâncias que possam surgir ao longo de sua implementação. Essa revisão garante não apenas a adequação das ações planejadas, mas também verifica se as metas estabelecidas estão sendo atingidas de forma efetiva.
Este capítulo tem como objetivo apresentar os indicadores que serão utilizados como instrumentos de monitoramento e avaliação dos resultados do PMSB, proporcionando ao poder público municipal os meios para avaliar o impacto de suas ações na qualidade dos serviços de saneamento básico e a eficácia na implementação do plano.
A gestão adequada dos serviços de saneamento básico exige um acompanhamento contínuo, realizado por representantes de diversas instituições do Poder Público Municipal, Estadual e Federal, em conjunto com membros do Conselho Municipal de Saneamento, além de secretarias e organizações da sociedade civil, como movimentos sociais, entidades ambientais e grupos de defesa do consumidor.
A avaliação dos indicadores de desempenho facilita a análise dos procedimentos adotados na execução do PMSB, permitindo medir os impactos e benefícios gerados para a população e, sobretudo, verificar se as metas estabelecidas estão sendo alcançadas, assegurando uma gestão eficiente e transparente.
16.1 DEFINIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PARA MAXIMIZAÇÃO DA EFICÁCIA DAS AÇÕES E RESULTADOS
Os instrumentos de gestão para maximizar a eficácia das ações e resultados no âmbito do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) em Iúna, no estado do Espírito Santo, incluem uma série de mecanismos, legislações e ferramentas de controle e regulação que visam a garantir a efetividade das políticas de saneamento. Esses instrumentos podem ser classificados em duas categorias principais: instrumentos diretos e indiretos. A seguir, apresenta-se uma explicação detalhada sobre cada tipo.
16.1.1 Instrumentos Diretos
Os instrumentos diretos são aqueles que abordam diretamente as questões relacionadas ao saneamento básico e ao meio ambiente. Esses instrumentos incluem:
· Legislações e Normas Específicas: A legislação que rege o saneamento básico em Iúna e em todo o Brasil é fundamental para o estabelecimento de regras e diretrizes claras. Exemplos incluem:
Ø Lei Federal nº 11.445/07: Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, determinando que cada município, incluindo Iúna, elabore um plano de saneamento que atenda às necessidades da população.
Ø Lei Federal nº 12.305/10: Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecendo diretrizes para a gestão de resíduos em municípios como Iúna.
· Mecanismos de Comando e Controle: Referem-se a normas que estabelecem padrões obrigatórios de atuação, como limites de poluição e requisitos de tratamento de água e esgoto. A fiscalização do cumprimento dessas normas é essencial, podendo incluir penalidades em casos de descumprimento.
· Regulamentações: A execução das leis é detalhada por meio de regulamentações. Exemplos incluem o Decreto Federal nº 7.217/10, que regulamenta a Lei nº 11.445/07, e o Decreto Federal nº 7.404/10, que regula a Lei de Resíduos Sólidos.
16.1.2 Instrumentos Indiretos
Esses mecanismos, embora não sejam elaborados especificamente para o saneamento, influenciam positivamente a gestão e a melhoria dos serviços ambientais. Exemplos incluem:
·Mecanismos de Mercado: Incentivos econômicos que promovem boas práticas ambientais são fundamentais para a gestão do saneamento. Exemplos incluem:
Ø Incentivos Fiscais: Reduções ou isenções de impostos para em- presas que adotam práticas sustentáveis ou investem em tecnologias que minimizam impactos ambientais.
Ø Tarifas e Taxas Ambientais: Aplicação de taxas sobre práticas ina- dequadas de descarte de resíduos ou poluição, estimulando a conformidade com as normas ambientais.
· Certificados de Conduta Ambiental: Reconhecimentos concedidos a empresas que demonstram comprometimento com a sustentabilidade, promovendo uma imagem positiva no mercado e atraindo investimentos.
Os órgãos, secretarias, associações e membros da sociedade civil organizada listados abaixo foram identificados como primordiais para o fortalecimento institucional e para auxiliar na maximização e eficácia da gestão e cumprimento dos objetivos, metas e ações nos prazos estabelecidos:
·Ministério Público: buscar junto ao órgão o cumprimento das obrigatoriedades estabelecidas em cláusulas contratuais;
· Agência Nacional das Águas: auxiliar nos projetos de macro e microdrenagem, disponibilizando um banco de dados eficiente, assim como operar as estações pluvio e/ou fluviométricas;
·Secretaria do Estado de Saúde: fornecer os índices e ocorrências das doenças relacionadas ao saneamento, a fim de controle dos indicadores, bem como favorecer o aporte para avaliação das análises de água do município;
· Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper): contribuir com o fortalecimento institucional, disponibilizando tecnologia e mão- de-obra para fortalecer a produção de dados e informações específicas que auxiliem a preservação dos corpos hídricos e o desenvolvimento das comunidades rurais;
· Câmara dos Vereadores: aprovação de leis e decretos municipais, a fim de viabilizar as ações propostas no PMSB;
· Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos: auxiliar na elaboração de planos. Esta secretaria também tem a função de viabilizar os arranjos e o fortalecimento institucional para contribuir com a implantação do Plano de Saneamento do Município, principalmente nas questões relacionas aos serviços de limpeza urbana e ao sistema de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas;
· Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública: auxiliar no processo de estreitar relações institucionais para fortalecer a fiscalização de práticas irregulares (tanto no meio rural quanto urbano) e no desenvolvimento de ações e programas que necessitam da articulação entre instituições e lideranças comunitárias, principalmente nas questões preservacionistas, voltadas à educação ambiental e relacionadas à limpeza urbana e gestão dos resíduos sólidos;
·Vigilância Sanitária: intensificar a fiscalização e aplicar medidas mitigadoras com o intuito da promoção da saúde pública. Ressalta-se que a Vigilância Sanitária é uma instituição fundamental e com poderes legais para auxiliar no processo do cumprimento de leis e, principalmente, para implantação eficaz do PMSB;
· Sociedade Civil Organizada (líderes comunitários): representar os anseios e as demandas da população do município, bem como auxiliar na divulgação de programas e ações que serão desenvolvidas para atender os objetivos do PMSB;
·Associações dos Produtores Rurais: adesão de projetos e programas de educação ambiental, assim como outros projetos de caráter para mitigação dos problemas ambientais com a finalidade de minimizar os impactos causados sobre o solo e água, pelo uso inadequado de agrotóxicos, lançamento de efluente animal e doméstico;
· Setor Privado: contribuir com a divulgação dos programas e alterações realizadas devido a implantação do PMSB, assim como orientar a população e contribuir com discussões pertinentes aos interesses da esfera empresarial e do meio ambiente;
· Instituições de Ensino: auxiliar na implantação de projetos e programas do PMSB, contribuindo com o desenvolvimento tecnológico e dando suporte para o município quando solicitado. As instituições devem ser grandes parceiras, exercendo uma atuação direta na contribuição de programas e ações de caráter ambiental.
A interação entre esses órgãos deve ser realizada de maneira igualitária, de- mocrática e transparente, com o intuito de que todos cooperem para o alcance dos objetivos propostos.
16.2 DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS, BENEFÍ- CIOS E AFERIÇÃO DE RESULTADOS PELA SOCIEDADE CIVIL
A formulação e aferição de resultados de políticas públicas deve ter como base conceitual sólida o atendimento às necessidades do cidadão e confiar valor real e agregado à sociedade.
O objetivo desta fase é dar ao agente público instrumentos teóricos e práticos para que ele possa desenvolver um sistema de avaliação de impactos, benefícios e aferição de resultados dentro dos objetivos, programas, metas e ações, aprovados no Plano de Saneamento Básico do município.
Um processo de avaliação e aferição de resultados deve se pautar em:
· Estudos de satisfação dos usuários de serviços públicos quanto à eficácia e eficiência da organização pública;
· Estudos sobre percepções de equidade das políticas públicas, aferindo a visão dos cidadãos sobre a imagem da organização pública e o impacto das ações executadas;
· Monitoramento do nível de consistência do cumprimento de procedimentos de qualidade e eficiência de atendimento dos usuários pelos serviços públicos;
· Acompanhamento de Indicadores de Desempenho no Saneamento Básico, utilizando como base os indicadores de desempenho propostos no PMSB ou aqueles adotados por órgãos oficiais do governo.
O sistema de monitoramento da implantação das políticas públicas e a sistemática de acompanhamento pelos gestores é necessidade crucial e urgente, visando o aumento da eficiência e da eficácia dos investimentos e programas governamentais. Uma vez que o poder público passa a delegar às agências autônomas e empresas privadas a execução de seus serviços, cresce a necessidade de avaliação.
A desestatização de serviços públicos do saneamento básico e a autonomia conferida às agências públicas de regulação necessitam da adoção de formas de avaliação de desempenho dos contratos, baseadas na prévia definição e escolha de indicadores. O cumprimento de metas impõe à administração pública a necessidade de desenvolver instrumentos e metodologias de avaliação.
A avaliação de resultados passa a ser, portanto, peça fundamental na condução da política de saneamento, essencial para a tomada de decisões. Durante o processo de avaliação, o desempenho das agências de regulamento e dos serviços contratados ou concedidos será apreciado sem esquecer-se dos serviços prestados pela própria Administração Municipal.
Sendo a avaliação uma forma de mensurar o desempenho de programas e ações, é necessário definir medidas para a aferição dos resultados obtidos. Elas são denominadas de critérios de avaliação, mas existindo diversas metodologias conceituais, o que dificulta ou representa obstáculo ao uso mais frequente dessa ferramenta gerencial no setor público.
A escolha dos indicadores e os critérios a serem utilizados dependem dos aspectos que se deseja privilegiar na avaliação. Contudo, os mais comuns são:
·Eficiência: termo econômico que significa a menor relação custo/benefício possível para o alcance dos objetivos estabelecidos;
· Eficácia: medida do grau em que o programa atinge os seus objetivos e metas;
·Impacto de resultados (ou efetividade): indica se o projeto tem efeitos (positivos) em termos técnicos, econômicos, socioculturais, institucionais e ambientais;
· Sustentabilidade: mede a capacidade de continuidade dos efeitos benéficos;
· Satisfação do beneficiário: avalia a atitude do usuário em relação à qualidade do atendimento e dos serviços prestados;
· Equidade: procura avaliar o grau em que os benefícios de um programa estão sendo distribuídos de maneira justa e compatível com as necessidades do segmento social.
Como modelo para os objetivos e ações do PMSB pode se adotar o método de gerenciamento do Ciclo PDCA (Planejamento, Desenvolvimento, Acompanhamento e Controle), conforme figura abaixo:

16.3 INDICADORES DE DESEMPENHO
A construção dos indicadores é elemento fundamental na avaliação do cumprimento das metas e aferição dos avanços dos serviços de saneamento básico.
O modelo mais tradicional de aferição tem como propósito medir o grau de êxito que um programa obtém com relação ao alcance de metas previamente estabelecidas.
A avaliação busca verificar não apenas se as atividades previstas foram executadas, como também se os resultados finais que se esperavam foram igualmente alcançados.
O foco pretendido é, em última análise, detectar mudanças nas condições de vida da população-alvo ou de uma comunidade, como resultado dos programas, projetos e ações propostos no presente PMSB.
A principal característica dos indicadores é a sua capacidade de quantificar e simplificar a informação, sendo que um bom indicador deve medir, avaliar e expressar com fidelidade os fenômenos a que se refere. Além disso, sua relevância está na sua confiabilidade, integridade, estabilidade, solidez, relação com as prioridades do planejamento, utilidade para o usuário, eficiência e eficácia (SANTOS, 2004).
Para cada indicador construído são apresentados sete elementos fundamentais, organizados em tabelas separadas por tipo de indicador: prestação dos serviços, saúde, intersetorialidade, participação e controle social, implementação e revisão do PMSB, e fiscalização e regulação. No caso dos indicadores de prestação, estes também estão separados por componente do saneamento básico: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos e limpeza urbana, e manejo de águas pluviais e drenagem urbana.
16.3.1 Grupo de Indicadores
Segundo Alegre (2006 apud BORRALHO, 2013), um indicador é:
“Um valor ou uma característica particular usada para medir esse efeito ou resultado, um parâmetro útil na determinação do grau em que uma organização ou sistema atinge a sua finalidade, uma expressão quantificada que permite observar e registrar o estado de um processo, ou informação operacional que fornece indicações sobre o desempenho ou a condição de uma organização ou sistema.”
A adoção de indicadores deve equilibrar os custos de monitoramento com os benefícios esperados, de modo que os custos do monitoramento não excedam os benefícios esperados. Portanto, devem-se adotar indicadores sofisticados para ope- rações de maior relevância e indicadores mais simples para operações menos relevantes ou que ofereçam menor risco.
Os indicadores consideram elementos que possibilitam o monitoramento e a gestão dos serviços públicos de saneamento básico no município, em conformidade com os princípios estabelecidos no artigo 2º da Lei nº 11.445/2007:
I. universalização do acesso;
II. integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados;
III. abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;
IV. disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes, adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado (Redação dada pela Lei nº 13.308, de 2016) ;
V. adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;
VI. articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator de- terminante;
VII. eficiência e sustentabilidade econômica;
VIII. utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;
IX. transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados;
X. controle social;
XI. segurança, qualidade e regularidade;
XII. integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos;
XIII. adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água.
O Quadro 56 apresenta o grupo e subgrupos de avaliação dos indicadores definidos para o município.
Quadro 56 - Grupos e subgrupos de avaliação dos indicadores.
| Grupo | Subgrupo |
| Prestação dos serviços | Universalização Eficiência Qualidade Sustentabilidade financeira Emergência e contingência |
| Saúde | - |
| Intersetorialidade | - |
| Participação e controle social | - |
| Implementação do PMSB | - |
| Revisão do PMSB | - |
| Fiscalização e regulação | - |
16.4 INDICADORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Os indicadores de prestação dos serviços devem refletir as condições que caracterizam a prestação em seus aspectos de acesso, com foco na sua universaliza- ção. A Lei Federal nº 11.445/2007 define como integrantes do saneamento as seguintes ações:
· Abastecimento de água potável: caracterizado como o fornecimento às populações de água em quantidade suficiente e com qualidade que a enquadre nos padrões de potabilidade;
· Esgotamento sanitário: compreendendo a coleta dos esgotos gerados pelas populações, o tratamento e sua disposição de forma compatível com a capacidade do meio ambiente em assimilá-los;
· Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: incluindo todas as fases de manejo dos resíduos sólidos domésticos, até sua disposição final, compatível com as potencialidades ambientais;
· Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: significando a condução das águas pluviais, de forma a minimizar seus efeitos danosos sazonais sobre as populações e as propriedades.
16.4.1 Universalização
A Lei Federal 11.445/07 visa à universalização do acesso aos serviços públicos de saneamento básico. A universalização do acesso é o primeiro princípio fundamental disposto no normativo, o que demonstra ser a ideia essencial presente na legislação, sendo que o conceito pode ser definido resumidamente como um progresso de ampliação da cobertura dos serviços de saneamento básico.
Os indicadores para a universalização da prestação de serviços têm seus aspectos detalhados nos quadros a seguir
Quadro 57 – Indicadores da universalização do abastecimento de água.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 1 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| INDICADORES DE DESEMPENHO DO PMSB - UNIVERSALIZAÇÃO |
| INDICADOR (cód. do SNIS/SINISA*) |
NOME DO INDICADOR | OBJETIVO | PERIODICIDADE E RESPONSABILIDADE PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO | INTERVALO DE VALIDADE | FÓRMULA | ORIGEM DOS DADOS | UNIDADE |
| IAT (IN055) | Índice de atendimento total com abastecimento de água | Avaliar o grau de universalização da população total atendida com o serviço de Abastecimento de Água. | Periodicidade: mensal Divulgação: semestral Responsabilidade: prestador | Mensal | População atendida com abastecimento de água (habitantes) / população total do município (habitantes) x 100 | Prestador de serviço | (%) |
| IAU (IN023) | Índice de atendimento urbano de água | Avaliar a cobertura do serviço de abastecimento de água à população urbana | Periodicidade: mensal Divulgação: semestral Responsabilidade: prestador | Mensal | População urbana atendida com abastecimento de água (habitantes)/ população urbana do município (habitantes) x 100 | Prestador de serviço | (%) |
| (IN022) | Consumo médio per capita de água | Avaliar o consumo médio per capita do serviço de abastecimento de água | Periodicidade: mensal Divulgação: semestral Responsabilidade: prestador | Mensal | (Volume de água consumido - Volume de água tratada exportado) / População total atendida com abastecimento de água X 365 | Prestador de serviço | Litros / hab. dia |
| (IN058) | Índice de consumo energia elétrica em sistemas de abastecimento de água | Aferir o consumo de energia elétrica do sistema de tratamento de água com intuito de identificar problemas através do aumento do indicador. | Periodicidade: mensal Divulgação: semestral Responsabilidade: prestador | Mensal | Consumo total de energia elétrica em saa de água/(volume da água produzido + volume de água tratada importado) | Prestador de serviço | (kWh/m³) |
| (IN003) | Despesa total com os serviços por m³ faturado | Aferir os custos com o sistema de tratamento de água com intuito de identificar problemas em virtude da variação do indicador. | Periodicidade: mensal Divulgação: semestral Responsabilidade: prestador | Trimestral | Despesas totais com os serviços / volume total faturado | Prestador de serviço | (%) |
| (IN012) | Índice de desempenho financeiro | Verificar a sustentabilidade econômica do serviço prestado. | Periodicidade: mensal Divulgação: semestral Responsabilidade: prestador | Trimestral | (Receita operacional direta/despesas totais com os serviços) *100 | Prestador de serviço | (%) |
| IAA | Índice de atendimento de água por soluções alternativas | Apresentar o número total de pessoas que adotam soluções alternativas de abastecimento (poços, cisternas, etc.). | Periodicidade: mensal Divulgação: semestral Responsabilidade: prestador | Mensal | População atendida com abastecimento de água por soluções alternativas coletivas e individuais (habitantes)/ população total do município (habitantes) X 100 | Prestador de serviço | (%) |
| IMA | Índice de implementação das ações propostas pelo PMSB de acordo com as metas | Avaliar a implementação do PMSB | Periodicidade: anual Divulgação: anual Responsabilidade: prestador e Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | (Nº de ações exe- cutadas por metas/ total de ações propostas de acordo com as metas) *100 | Prestadores de serviço, Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico; | (%) |
Quadro 58 – Indicadores da universalização do esgotamento sanitário.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 2 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |
| INDICADORES DE DESEMPENHO DO PMSB - UNIVERSALIZAÇÃO |
| INDICADOR (cód. do SNIS/SINISA) |
NOME DO INDICADOR | OBJETIVO | PERIODICIDADE E RESPONSABILIDADE PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO | INTERVALO DE VALIDADE | FÓRMULA | ORIGEM DOS DADOS | UNIDADE |
| (IN015) | Índice da coleta de esgoto | Verificar a instalação e ampliação do sistema coletivo de esgotamento sanitário pela população do Município | Periodicidade: mensal Divulgação: semestral Responsabilidade: prestador | Mensal | [volume de esgo- tos coletado (1000 m³/ano) / (Volume de água consu- mido (1000 m³/ano) – Volume de água tratada exportada)] x 100 | Prestadores de serviço | (%) |
| (IN016) | Índice de tratamento de esgoto | Avaliação do percentual de tratamento do esgoto coletado | Periodicidade: mensal Divulgação: semestral Responsabilidade: prestador | Mensal | [(Vol. De esgoto tratado + Volume de esgoto impor- tado tratado nas instalações do importador + Volume de esgoto bruto exportado tratado nas instalações do importador) / (vol.De esgoto coletado + Volume de esgotos bruto im- portado)] x 100 | Prestadores de serviço | (%) |
| (IN047) | Índice de atendimento urbano de esgoto | Apresentar a cobertura do serviço de esgotamento sanitário da população urbana. | Periodicidade: mensal Divulgação: semestral Responsabilidade: prestador | Mensal | População urbana atendida com esgotamento sanitário | Prestadores de serviço | (%) |
| (IN056) | Índice de atendimento total de esgoto | Apresentar a cobertura do serviço de esgotamento sanitário da população total. | Periodicidade: mensal Divulgação: semestral Responsabilidade: prestador | Mensal | População total atendida com esgotamento sanitário/ | Prestadores de serviço | (%) |
| IAED | índice de atendimento de esgoto aos domicílios | Apresentar a cobertura do serviço de esgotamento sanitário aos domicílios do município. | Periodicidade: mensal Divulgação: semestral Responsabilidade: prestador | Mensal | Domicílios atendi- dos por rede de esgotamento sanitário | Prestadores de serviço | (%) |
| IAE | Índice de atendimento de esgoto (solução individualizada) | Apresentar a cobertura do serviço de esgotamento sanitário por soluão individualizada. | Periodicidade: mensal Divulgação: semestral Responsabilidade: prestador | Mensal | População aten- dida por soluções individuais esgotamento sanitário / População total do município x 100 | Prestadores de serviço | (%) |
| IFL | Índice de fiscalização dos domicílios das ligações de esgoto | Avaliar a eficiência do processo de fiscalização. | Periodicidade: mensal Divulgação: semestral Responsabilidade: prestador | Trimestral | Nº total de liga- ções fiscalizadas/nº total de ligações *100 | Prestadores de serviço | (%) |
| (IN059) | Índice de Consumo de Energia Elétrica em Sistemas de Esgotamento Sanitário | Aferir o con- sumo de energia elétrica do sistema com intuito de identificar problemas através do aumento do indicador. | Periodicidade: mensal Divulgação: semestral Responsabilidade: prestador | Anual | Consumo total de energia elétrico em sistema de esgotamento sanitário/ volume de esgoto coletado | Prestadores de serviço, Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvi- mento Econômico; | (kWh/m³) |
Quadro 59 – Indicadores da universalização dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 3 | LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS |
| INDICADORES DE DESEMPENHO DO PMSB - UNIVERSALIZAÇÃO |
| INDICADOR (cód. do SNIS/SINISA) |
NOME DO INDICADOR | OBJETIVO | PERIODICIDADE E RESPONSABILIDADE PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO | INTERVALO DE VALIDADE | FÓRMULA | ORIGEM DOS DADOS | UNIDADE |
| (IN015) | Índice de cobertura do serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares (rdo) | Apresentar a cobertura do serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares | Periodicidade: mensal divulgação: semestral responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | Mensal | População com acesso à coleta de resíduos sólidos / População total no município x 100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | (%) |
| (IN016) | Taxa de cobertura do serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares (rdo) em relação à população urbana | Apresentar a cobertura do serviço de coleta de resíduos sólidos à população urbana | Periodicidade: mensal divulgação: semestral responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | Mensal | População urbana atendida com coleta de resíduos sólidos (habitantes) / população urbana do município (habitantes) x 100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | (%) |
| TCC | Taxa de cobertura do serviço de coleta de compostável em relação à população urbana | Apresentar a cobertura do serviço de coleta de compostável de resíduos sólidos à população urbana | Periodicidade: mensal divulgação: semestral responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | Mensal | População urbana atendida com coleta de compostável de resíduos sólidos (habitantes) pu2=população urbana do município (habitantes) | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | (%) |
| TCSPP | Taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva porta a porta (população urbana) | Apresentar a cobertura do serviço de coleta seletiva de resíduos sólidos da população urbana | Periodicidade: mensal divulgação: semestral responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | Mensal | População urbana atendida com coleta seletiva porta a porta (habitantes) / pu2=população urbana do município (habitantes) | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | (%) |
| TCSR | Taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva (população rural) | Apresentar a cobertura do serviço de coleta seletiva de resíduos sólidos da população rural | Periodicidade: mensal divulgação: semestral responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | Mensal | População rural atendida com coleta seletiva (habitantes) / pr=população rural do município (habitantes) | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | (%) |
| ICRCC | Índice de resíduos da construção civil (RCC) coletados pela prefeitura por mês | Apresentar o volume coletado de resíduos da construção civil (RCC) pela prefeitura | Periodicidade: mensal divulgação: semestral responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | Mensal | Resíduos da construção civil coletados pela prefeitura (ton) / mês | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | ton/mês |
| IUS | Índice de unidades de saúde com destinação adequada dos resíduos de serviços de saúde (RSS) | Avaliar se as unidades de saúde do município destinam adequadamente os resíduos de serviços de saúde (RSS) | Periodicidade: mensal divulgação: semestral responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | Mensal | Número de unidades de saúde com destinação adequada de RSS (unidades) / número total de unidades de saúde que coletam RSS (unidades) x 100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | (%) |
| ICO | Índice de catadores organizados em relação ao número total de catadores | Calcular a quantidade de catadores que se organizam em cooperativas, associações, etc., em relação ao total de catadores do município | Periodicidade: mensal divulgação: semestral responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | Mensal | Quantidade de catadores organizados (catadores) / quantidade total de catadores autônomos e organizados (catadores) x 100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | (%) |
| (IN021) | Massa de resíduos coletada (resíduos sólidos domiciliares e resíduos sólidos provenientes da limpeza pública) per capita | Mensurar a quantidade de resíduos domiciliares coletados. | Periodicidade: diária divulgação: mensal responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Diária | Quantidade total coletada x 1.000 / população total do município. | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | (ton.) |
| MRR | Massa de resíduos recicláveis coletada per capita | Mensurar a quantidade de resíduos recicláveis coletados. | Periodicidade: diária divulgação: mensal responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Diária | Quantidade total coletada x 1.000 / população total do município. | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | (ton.) |
Quadro 60 – Indicadores da universalização da drenagem urbana e manejo das águas pluviais.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 4 | DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS |
| INDICADORES DE DESEMPENHO DO PMSB - UNIVERSALIZAÇÃO |
| INDICADOR (cód. do SNIS/SINISA) |
NOME DO INDICADOR | OBJETIVO | PERIODICIDADE E RESPONSABILIDADE PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO | INTERVALO DE VALIDADE | FÓRMULA | ORIGEM DOS DADOS | UNIDADE |
| CDU | Cobertura do sistema de drenagem urbana no município e distritos | Verificar a abrangência do sistema de drenagem urbana na sede municipal e distritos. | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Área atendida por sistema de drenagem / área total x100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | (%) |
| NOE | Nº de ocorrências de enchentes/inundações com danos | Quantificar o número de ocorrências relacionadas ao sistema de drenagem urbana, como: alagamentos, inundações, enxurradas, deslizamentos. | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Nº de ocorrências com danos / período de tempo analisado | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | (Ocorrência / ano) |
| IDM | Índice de macrodrenagem | Apresentar a cobertura do sistema de macrodrenagem da área urbana | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Extensão total do arruamento da área urbana com macrodrenagem (km) / extensão total do arruamentoda área urbana (km) x 100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | (%) |
| PCR | Percentual de cadastro de rede existente | Verificar o cadastramento do sistema de drenagem urbana, em base georreferenciada. | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Extensão da rede cadastrada / extensão da rede estimada x 100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | (%) |
| PAI | Percentual de área impermeabilizada | Verificar o índice de impermeabilização do solo no município. | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Área impermeabilizada / área total x 100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | (%) |
| TIV | Taxa de incremento de vazões máximas | Verificar o impacto da impermeabilização de grandes áreas no aumento das vazões máximas, comparando valores antes e depois da execução das obras. | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Vazão máxima antes / vazão máxima depois x 100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | (%) |
| MDG | Manutenção das galerias | Acompanhar a manutenção das galerias de águas pluviais. | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Quilômetros de galerias com manutenção / quilômetros de galerias existentes x 100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | (%) |
16.4.2 Eficiência
A análise da eficiência no saneamento básico busca identificar as características de uso dos recursos energéticos, humanos e financeiros, com o objetivo de melhorar o rendimento com o mínimo de erros ou gastos. Os indicadores propostos para o acompanhamento do PMSB de Iúna/ES neste aspecto são apresentados a seguir:
Quadro 61 – Indicadores de eficiência do abastecimento de água.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 1 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| INDICADORES DE DESEMPENHO DO PMSB - EFICIÊNCIA |
| INDICADOR (cód. do SNIS/SINISA) |
NOME DO INDICADOR | OBJETIVO | PERIODICIDADE E RESPONSABILI- DADE PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO | INTERVALO DE VALIDADE | FÓRMULA | ORIGEM DOS DADOS | UNIDADE |
| EEA | Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água | Medir a eficiência do sistema de abastecimento de água com relação ao consumo de energia elétrica | Periodicidade: mensal Divulgação: semestral Responsabilidade: prestador | Mensal | Consumo total de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água / Volume de água (Produzido + Tratado Importado) | Prestador de serviço | kWh/m3 |
| EPA | Índice de Empregados para o funcionamento do sistema de abastecimento de água | Quantificar o percentual de empregados envolvidos nos serviços abastecimento de água | Periodicidade: mensal Divulgação: semestral Responsabilidade: prestador | Mensal | Quantidade de empregados para funcionamento do SAA x100/População total | Prestador de serviço | % |
| EFR | Índice de Faturamento de Água | Medir a eficiência financeira do sistema de abastecimento de água | Periodicidade: mensal Divulgação: semestral Responsabilidade: prestador | Mensal | Volume de Água Faturado x 100/ Volume de água (Produzido + Tratado Importado - de Serviço | Prestador de serviço | % |
| IIH | Índice de instalação de hidrômetro | Medir a eficiência da medição da água distribuída | Periodicidade: mensal Divulgação: semestral Responsabilidade: prestador | Mensal | Quantidade de ligações ativas de água micromedidas x 100/ Número de ligações ativas de água | Prestador de serviço | % |
| IPD | Índice de perdas na distribuição | Medir a perda de água no processo de distribuição | Periodicidade: mensal Divulgação: semestral Responsabilidade: prestador | Mensal | Vol. de água (Produzido + Tratado Importado - de Serviço) – Vol. de Água Consumido x 100/ Volume de Água (Produzido + Tratado Importado -de Serviço) | Prestador de serviço | % |
| CMP | Consumo médio per capita de água | Avaliar o consumo diário de água por habitante | Periodicidade: mensal Divulgação: semestral Responsabilidade: prestador | Mensal | Volume de Água Consumido x 1000/População Total do município x 365 | Prestador de serviço | L.hab/dia |
Quadro 62 – Indicadores de eficiência do esgotamento sanitário.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 2 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |
| INDICADORES DE DESEMPENHO DO PMSB - EFICIÊNCIA |
| INDICADOR (cód. do SNIS/SINISA) |
NOME DO INDICADOR | OBJETIVO | PERIODICIDADE E RESPONSABILIDADE PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO | INTERVALO DE VALIDADE | FORMULA | ORIGEM DOS DADOS | UNIDADE |
| IEC | Índice de Tratamento do Esgoto Coletado | Avaliar o percentual de tratamento do esgoto coletado | Periodicidade: mensal divulgação: semestral responsabilidade: prestador | Mensal | Quantidade de empregados para funcionamento x100/População total | Prestador de serviço | % |
| ITE | Índice de Utilização da Infraestrutura de Tratamento de Esgoto | Mensurar a capacidade ociosa da estação de tratamento de esgoto | Periodicidade: mensal divulgação: semestral responsabilidade: prestador | Mensal | Vazão de esgoto coletado tratado x100/Capacidade da ETE | Prestador de serviço | % |
| IFE | Índice de Empregados para o Funciona- mento do Sistema Esgotamento Sanitário | Quantificar a força de trabalho aplicada para operação e gestão do sistema de esgotamento sanitário | Periodicidade: mensal divulgação: semestral responsabilidade: prestador | Mensal | Volume de esgoto coletado tratado) x 100/ Volume de esgoto coletado | Prestador de serviço | % |
Quadro 63 – Indicadores de eficiência dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 3 | LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS |
| INDICADORES DE DESEMPENHO DO PMSB - EFICIÊNCIA |
| INDICADOR (cód. do SNIS/SINISA) |
NOME DO INDICADOR | OBJETIVO | PERIODICIDADE E RESPONSABILIDADE PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO | INTERVALO DE VALIDADE | FORMULA | ORIGEM DOS DADOS | UNIDADE |
| IMR | Índice de Empregados para o Manejo dos Resíduos Sólidos | Quantificar a força de trabalho aplicada para operação e gestão do sistema de coleta de resíduos sólidos | Periodicidade: mensal divulgação: semestral responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Mensal | Quantidade de empregados no manejo de RS x100 / População urbana | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | (%) |
| IPE | Despesa per capita com manejo de RSU em relação à população urbana | Mensurar o valor gasto no manejo de RSU por habitante | Periodicidade: mensal divulgação: semestral responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Mensal | Despesa com serviços de manejo de RSU /População urbana do município | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | R$/hab |
| IVE | Incidência de varredores no total de empregados no manejo de RSU | Calcular a quantidade empregados do sistema de coleta de RS alocados no serviço de varrição | Periodicidade: mensal divulgação: semestral responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Mensal | (Quantidade de empregados envolvidos com os serviços de varrição) x 100/ Quantidade de empregados próprios no manejo de RS + Quantidade de empregados terceirizados no manejo de RS x 100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | (%) |
| IMR | Índice de recuperação de materiais recicláveis | Calcular a eficiência da recuperação de recicláveis | Periodicidade: mensal divulgação: semestral responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Mensal | Quantidade de mate- riais recicláveis recu- perados x 100/Quantidade total de resíduos coletados | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | (%) |
| IDM | Incidência das despesas com o manejo de RSU nas despesas da prefeitura | Calcular a porcentagem referente às despesas da prefeitura com o manejo de RSU | Periodicidade: mensal divulgação: semestral responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Mensal | Despesa total com serviços de manejo de RSU/Despesa corrente da prefeitura no ano | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | (%) |
| IMO | Índice de Recupera- ção de Matéria Orgânica | Calcular a eficiência da recuperação de orgânicos | Periodicidade: mensal divulgação: semestral responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Mensal | Quantidade de matéria orgânica recuperado x 100/ Quantidade total de resíduos coletados | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | (%) |
| PPR | Produção per capita de Resíduos Sólidos | avaliar a produção diária de resíduos sólidos domésticos por habitante | Periodicidade: mensal divulgação: semestral responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Mensal | Quantidade de Resíduos Doméstico Coletados x 1000/ População urbana do município x 365 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | L.hab.dia |
Quadro 64 – Indicadores de eficiência da drenagem urbana e manejo das águas pluviais.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 4 | DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS |
| INDICADORES DE DESEMPENHO DO PMSB - EFICIÊNCIA |
| INDICADOR (cód. do SNIS/SINISA) |
NOME DO INDICADOR | OBJETIVO | PERIODICIDADE E RESPONSABILIDADE PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO | INTERVALO DE VALIDADE | FORMULA | ORIGEM DOS DADOS | UNIDADE |
| IDU | Índice de Empregados para o Funcionamento do Sistema de Drenagem Urbana | Quantificar a força de trabalho aplicada para operação e gestão do sistema de drenagem urbana e manejo das águas pluviais | Periodicidade: annual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Quantidade de empregados para funcionamento x100/ População total | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | % |
| IEC | Índice da Eficiência das Ações Contra Eventos Relacionadas à Chuva | Avaliar o percentual da população atingida por inundações, deslizamento de solos, alagamentos, enxurradas, etc | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | População atingida x 100/ População Total do município | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | % |
16.4.3 Sustentabilidade Financeira
Segundo a Lei 11.445/07 art. 29:
“Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços”. Assim, são propostos indicadores de sustentabilidade financeira da prestação dos serviços de saneamento básico’’.
Apresentam-se a seguir os quadros de indicadores de sustentabilidade financeira.
Quadro 65 – Indicadores da sustentabilidade financeira do abastecimento de água e esgotamento sanitário.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 1-2 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO |
| INDICADORES DE DESEMPENHO DO PMSB – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA |
| INDICADOR (cód. do SNIS/SINISA) |
NOME DO INDICADOR | OBJETIVO | PERIODICIDADE E RESPONSABILIDADE PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO | INTERVALO DE VALIDADE | FORMULA | ORIGEM DOS DADOS | UNIDADE |
| (INO12) | Indicador de desempenho financeiro (%) | Avaliar se a receita de contas de água é suficiente para cobrir as despesas com a prestação de serviço de água | Periodicidade: anual Divulgação: anual Responsabilidade: prestador | Anual | Receita operacional direta de água (R$/ano) + Receita operacional direta de esgoto (R$/ano)+ Receita operacional direta de água exportada (bruta ou tratada) (R$/ano) + Receita operacional direta - esgoto bruto importado (R$/ano) / Despesas totais com os serviços de água e esgoto (R$/ano)x 100 | Prestador de serviçoPrestador de serviço | %ERRO! VÍN- CULO NÃO VÁLIDO. |
Quadro 66 – Indicadores da sustentabilidade financeira de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 3 | LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS |
| INDICADORES DE DESEMPENHO DO PMSB - SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA |
| INDICADOR (cód. do SNIS/SINISA) |
NOME DO INDICADOR | OBJETIVO | PERIODICIDADE E RESPONSABILIDADE PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO | INTERVALO DE VALIDADE | FORMULA | ORIGEM DOS DADOS | UNIDADE |
| IMR | Incidência das despesas com o manejo de resíduos sólidos nas despesas correntes da prefeitura |
Calcular o percentual de despesas da prefeitura com o manejo de resíduos sólidos | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | despesa total com serviços de manejo de RSU (r$/ano) / despesa corrente da prefeitura municipal durante o ano com todos os serviços do município (saúde, educação, pagamento de pessoal, etc.)- R$/ Ano x 100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | (%) |
| IDM | Receita arrecadada per capita com taxas ou outras formas de cobrança pela prestação de serviços de manejo de RSU |
Medir a receita arrecadada com o manejo dos resíduos sólidos urbanos em relação à população urbana |
Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Receita arrecadada com taxas e tarifas referentes à gestão e manejo de RSU (r$/ano) /população urbana do município (habitante) | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | R$/hab. Ano |
| IMO | Despesa per capita com manejo de RSU em relação à População Urbana |
Medir o valor gasto com o manejo dos resíduos sólidos por habitante |
Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Despesa total com serviços de manejo de RSU (r$/ano)/ população urbana (habitantes) | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | R$/hab. Ano |
| PPR | Autossuficiência financeira da prefeitura com o manejo de RSU | Avaliar se a receita das taxas arrecadadas com serviço de manejo de RSU custeiam as despesas com a prestação desse serviço | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Receita arrecadada com taxas e tarifas referentes à gestão e manejo de RSU (r$/ano)/despesa total com serviços de manejo de RSU (r$/ano) | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | % |
16.4.4 Qualidade
Os indicadores deste grupo permitem avaliar a qualidade dos serviços públicos de saneamento prestados ao município. De acordo com a Lei nº 11.445/2007, as condições mínimas de prestação desses serviços incluem: regularidade do atendimento, continuidade, aspectos diretamente relacionados aos serviços oferecidos (como a potabilidade da água para consumo humano), atendimento aos usuários, condições operacionais e de manutenção dos sistemas e serviços, conforme normas regulamentares e contratuais (Brasil, 2007). Os indicadores propostos para o acompanhamento do PMSB de Iúna/ES neste aspecto são apresentados a seguir.
Quadro 67 – Indicadores da qualidade do abastecimento de água.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 1 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| INDICADORES DE DESEMPENHO DO PMSB - QUALIDADE |
| INDICADOR (cód. do SNIS/SINISA) |
NOME DO INDICADOR | OBJETIVO | PERIODICIDADE E RESPONSABILIDADE PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO | INTERVALO DE VALIDADE | FORMULA | ORIGEM DOS DADOS | UNIDADE |
| ICF | Incidência das análises de cloro residual fora do padrão | Verificar a qualidade da água distribuída pelo indicador cloro residual na rede de abastecimento | Periodicidade: mensal Divulgação: semestral Responsabilidade: prestador | Mensal | Quantidade de amostras para cloro residual fora do padrão (amostras/ano)/ quantidade de amostras para cloro residual analisadas (amostras/ano) x 100 | Prestador de serviço | % |
| IRA | Índice de reclamações do serviço de abastecimento de água | Avaliar a satisfação da população com a prestação dos serviços de abastecimento de água do município | Periodicidade: mensal Divulgação: semestral Responsabilidade: prestador | Mensal | Serviço de abastecimento de água (reclamações/ano) / número de ligações ativas de água (ligações ativas/ano) | Prestador de serviço | Reclamações/1000 ligações ativas |
| IEI | Economias atingidas por intermitências | Quantificar as economias ativas atingidas por interrupções no sistema de abastecimento de água | Periodicidade: mensal Divulgação: semestral Responsabilidade: prestador | Mensal | Economias ativas atingidas por interrupções (quantidade de economias ativas atingidas por interrupções) / números de interrupções (interrupções/ano) | Prestador de serviço | Economia/interrupção |
Quadro 68 – Indicadores da qualidade do esgotamento sanitário.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 2 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |
| INDICADORES DE DESEMPENHO DO PMSB - QUALIDADE |
| INDICADOR (cód. do SNIS/SINISA) |
NOME DO INDICADOR | OBJETIVO | PERIODICIDADE E RESPONSABILIDADE PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO | INTERVALO DE VALIDADE | FORMULA | ORIGEM DOS DADOS | UNIDADE |
| IRE | Índice de reclamações do serviço de esgotamento sanitário | Avaliar a satisfação da população com a prestação dos serviços de esgotamento sanitário do município | Periodicidade: mensal Divulgação: semestral Responsabilidade: prestador | Mensal | número de reclamações dos usuários do serviço de esgotamento sanitário (reclamações/ano) / número de ligações ativas de esgoto (ligações ativas/ano) | Prestador de serviço | Reclamações/1000 liga- ções ativas |
| EER (IN082) | Extravasamentos de esgotos por extensão de rede | Avaliar a qualidade da rede de esgotamento sanitário | Periodicidade: mensal Divulgação: semestral Responsabilidade: prestador | Mensal | quantidades de extravasamentos de esgotos registrados (extravasamentos) / extensão da rede de esgotamento sanitário (km) | Prestador de serviço | Extrav./km |
Quadro 69 – Indicadores da qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 3 | LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS |
| INDICADORES DE DESEMPENHO DO PMSB - QUALIDADE |
| INDICADOR (cód. do SNIS/SINISA) |
NOME DO INDICADOR | OBJETIVO | PERIODICIDADAE E RESPONSABILIDADE PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO | INTERVALO DE VALIDADE | FORMULA | ORIGEM DOS DADOS | UNIDADE |
| IRR | Índice de reclamações do serviço de coleta de resíduos sólidos | Avaliar a satisfação da população com a prestação dos serviços de coleta de resíduos sólidos do município | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | Anual | Número de reclamações dos usuários do serviço de coleta de resíduos sólidos (reclamações/ano) / número de domicílios que recebem coleta de resíduos sólidos (domicílios/ano) | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | Reclamações/Domicílios |
| NDI | Número de depósitos irregulares | Avaliar a quantificação das deposições irregulares no município ao longo do tempo | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | Anual | Número de deposições irregulares de resíduos sólidos (deposições/mês) | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | Deposições/mês |
Quadro 70 – Indicadores da qualidade da drenagem e manejo das águas pluviais.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 4 | DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS |
| INDICADORES DE DESEMPENHO DO PMSB - QUALIDADE |
| INDICADOR (cód. do SNIS/SINISA) |
NOME DO INDICADOR | OBJETIVO | PERIODICIDADAE E RESPONSABILIDADE PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO | INTERVALO DE VALIDADE | FORMULA | ORIGEM DOS DADOS | UNIDADE |
| IDB | Índice de limpeza de boca de lobo | Verificar se os dispositivos de microdrenagem (boca de lobo) estão sendo limpos | Periodicidade: mensal divulgação: semestral responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Mensal | número de limpeza em bocas de lobo (nº de bocas de lobo limpas/ano) /número total de bocas de lobo (nº total de bo- cas de lobo/ano) x 100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | (%) |
| EDA | Eventos de alagamentos e inundação | Avaliar a frequência de alagamentos e inundações no município | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Mensal | Quantidade de eventos de alagamentos e inundações (alagamentos) | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | Eventos/ano |
| IDP | Identificação de pontos de alagamentos ou inundações | Quantificação dos pontos que alagam ou inundam com frequência | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Listar pontos que alagam no município | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | Locais com alagamentos/ano |
| IRD | Índice de reclamações do serviço de manejo de águas pluviais e drenagem urbana | Avaliar a satisfação da população com a prestação do serviço de manejo de águas pluviais e drenagem urbana | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Número de reclamações dos usuários do serviço de manejo de águas pluviais (reclamações/ano) / número de domicílios da zona urbana (domicílios/ano) | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | Reclamações/Domicílios |
16.4.5 Emergência e Contingência
De acordo com o art. 19 da Lei nº 11.445/2007, a prestação dos serviços públicos de saneamento básico deve considerar o plano de saneamento básico, incluindo como uma das condições mínimas, no inciso IV, as ações para emergências e contingências. A seguir, são apresentados indicadores de emergência e contingência referentes à prestação dos serviços de saneamento básico, que permitem avaliar se as ações de emergência e contingência estão sendo implementadas conforme o plano.
· Abastecimento Água
I. As medidas de contingência e emergência precisaram ser adotadas no período?
Resposta: ( ) Sim ou ( ) Não
II. Essas ações foram adotadas conforme o PMSB?
Resposta: ( ) Sim ou ( ) Não. **Caso a reposta seja “Não” justificar.
·Esgotamento Sanitário
I. As medidas de contingência e emergência precisaram ser adotadas no perí- odo?
Resposta: ( ) Sim ou ( ) Não
II. Essas ações foram adotadas conforme o PMSB?
Resposta: ( ) Sim ou ( ) Não. **Caso a reposta seja “Não” justificar.
· Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
I. As medidas de contingência e emergência precisaram ser adotadas no período?
Resposta: ( ) Sim ou ( ) Não
II. Essas ações foram adotadas conforme o PMSB?
Resposta: ( ) Sim ou ( ) Não. **Caso a reposta seja “Não” justificar.
· Drenagem urbana e manejo de águas pluviais
I. As medidas de contingência e emergência precisaram ser adotadas no perí- odo?
Resposta: ( ) Sim ou ( ) Não
II. Essas ações foram adotadas conforme o PMSB?
Resposta: ( ) Sim ou ( ) Não. **Caso a reposta seja “Não” justificar.
16.5 INDICADORES DA SAÚDE
Conforme a Lei nº 11.445/2007, a saúde pública é um dos princípios fundamentais na prestação dos serviços públicos de saneamento, devendo ser oferecidos de forma adequada à proteção da saúde, ao meio ambiente, e à segurança da vida e do patrimônio público e privado.
O objetivo de definir indicadores de saúde para o município é avaliar, de forma indireta, se a implementação das ações de saneamento básico propostas resulta na redução da incidência de doenças relacionadas a deficiências no saneamento. Os indicadores propostos para acompanhamento do PMSB de Iúna/ES neste aspecto são apresentados a seguir.
Quadro 71 – Indicadores da saúde.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | SAÚDE |
| INDICADORES DE DESEMPENHO DO PMSB |
| INDICADOR (cód. do SNIS/SINISA) |
NOME DO INDICADOR | OBJETIVO | PERIODICIDADE E RESPONSABILIDADE PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO | INTERVALO DE VALIDADE | FORMULA | ORIGEM DOS DADOS | UNIDADE |
| TIA | Taxa de incidência de Dengue, Zika, Chikungunya | Avaliar a incidência das doenças relacionadas ao saneamento básico inadequado | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria Municipal de Saúde |
Anual | Somatório da quantidade de casos notificados de dengue, Zika, Chikungunya (casos) /população total do município (habitantes) x 1000 |
Secretaria Municipal de Saúde | Casos/1000 hab. |
| TIE | Taxa de incidência de Esquistossomose | Avaliar a incidência das doenças relacionadas ao saneamento básico inadequado | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria Municipal de Saúde |
Anual | Quantidade de casos notificados de esquistossomose (casos)/população total do município (habitantes) x 1000 |
Secretaria Municipal de Saúde | Casos/1000 hab. |
| TIH | Taxa de incidência de Hepatite A | Avaliar a incidência das doenças relacionadas ao saneamento básico inadequado | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria Municipal de Saúde |
Anual | (Quantidade de casos notificados de hepatite a (casos) / população total do município (habitantes) x 1000) | Secretaria Municipal de Saúde | Casos/1000 hab. |
| TIL | Taxa de incidência de Leptospirose | Avaliar a incidência das doenças relacionadas ao saneamento básico inadequado | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria Municipal de Saúde |
Anual | Quantidade de casos notificados de leptospirose (casos) / população total do município (habitantes) x 1000 |
Secretaria Municipal de Saúde | Casos/1000 hab. |
16.6 INDICADORES DE INTERSETORIALIDADE
Os indicadores para esta categoria têm o objetivo de refletir o grau de articulação das políticas de saneamento com outras políticas desenvolvidas, por meio da integração existente entre os setores da administração pública do município. Os indicadores propostos são apresentados a seguir:
I. Existem planos, programas, e/ou projetos desenvolvidos por outros setores administrativos no campo do saneamento básico?
Se a resposta for SIM, passar para as próximas perguntas:
· Citar quais planos, programas e/ou projetos e a que setores administrativos estão vinculados (saúde, meio ambiente, recursos hídricos, desenvolvimento urbano, habitação e educação).
·Estes planos, programas, projetos e/ou atividades de controle se articulam com o setor administrativo responsável pelo saneamento?
Se a resposta for SIM, descrever como. Se a resposta for NÃO, justificar o porquê.
II. Existem mecanismos de integração e de articulação entre as diversas áreas administrativas que possuem interface com o saneamento (saúde, meio ambiente, recursos hídricos, desenvolvimento urbano, habitação e educação)?
Se a resposta for SIM, descrever como. Se a resposta for NÃO, justificar o porquê.
16.7 INDICADORES DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL
De acordo com a Lei nº 11.445/2007, o controle social é um princípio fundamental, definido no art. 3º, inciso IV, como um conjunto de mecanismos e procedimentos que asseguram à sociedade conhecimentos, representações técnicas, e a participação na elaboração de políticas públicas, no planejamento e na análise dos serviços públicos de saneamento básico (BRASIL, 2007).
A participação e o controle social fazem parte da gestão dos serviços públicos de saneamento básico e estão relacionados ao desenvolvimento da democracia, ao se vincularem aos princípios da cidadania e da governança dos bens comuns. Representam a democratização da gestão dos serviços, um processo que enfrenta desafios significativos, como a necessidade de articulações interdisciplinares em um campo cada vez mais complexo, influenciado por fatores técnicos, políticos, econômicos e culturais (CASTRO, 2011; JACOBI, 2004).
Tradicionalmente, a gestão dos serviços públicos de saneamento básico é relegada à dimensão técnico-administrativa, separando-se artificialmente dos processos socioeconômicos e políticos que estruturam e determinam a organização e gestão desses serviços (CASTRO, 2011).
O controle social e a transparência têm como objetivo a divulgação das ações e medidas implementadas no saneamento básico, permitindo à população participar das tomadas de decisões e exercer o controle das atividades. Para garantir essa participação, é desejável a existência dos seguintes fatores:
·Envolvimento da população na discussão das potencialidades e dos problemas de saneamento básico no Município e suas implicações na qualidade de vida;
· Conscientização da sociedade para a responsabilidade coletiva na preservação e conservação ambiental, por meio de uma reflexão crítica para o desenvolvimento de valores práticos rumo às mudanças culturais e sociais necessárias para adoção de uma política de saneamento básico;
·Estímulo aos diversos atores sociais a participarem do processo de gestão ambiental;
·Sensibilização da comunidade para participação das atividades referentes ao PMSB;
· Incorporação da opinião da população na escolha de diretrizes, cenários futuros e priorização de programas, projetos e ações, compatíveis do ponto de vista técnico e econômico;
· Garantia da publicação de relatórios periódicos que demonstrem os indicadores do desempenho das ações, assim como a qualidade dos serviços de acordo com o cenário de cada eixo do saneamento.
A participação da sociedade no exercício do controle pode ocorrer de várias maneiras, sendo a transparência e a divulgação das ações indispensáveis para o processo. As seguintes formas de controle social e medidas de transparência podem ser destacadas:
·Formação dos Conselhos Municipais;
·Reuniões e encontros setoriais;
· Participação nos órgãos de regulação, quando instituídos;
· Publicação em sítio eletrônico dos dados referentes ao saneamento, inclusive os econômico-financeiros da prestação dos serviços.
Assim, como forma de acompanhamento da participação e controle social, recomendam-se os seguintes indicadores:
I. Há órgão responsável pelo controle social dos serviços de saneamento básico no município?
Resposta: ( ) Sim ou ( ) Não
·Se sim, citar a legislação que instituiu o órgão de controle social.
Há paridade neste órgão?
Resposta: ( ) Sim ou ( ) Não
Há regularidade mínima das reuniões?
Resposta: ( ) Sim ou ( ) Não
· Se sim, citar qual a regularidade mínima.
II.Descrever as atividades realizadas de participação e controle social que aconteceram ao longo de cada ano, com o objetivo de acompanhar a gestão em todas as suas atividades (prestação do serviço, regulação, fiscalização e planejamento), por meio de reuniões, seminários, audiências públicas, cursos, dentre outros.
Resposta: Descrição das atividades.
III.Descrever quais são as estratégias utilizadas para a prática permanente da Participação e controle social com o objetivo de acompanhar o PMSB em todas as suas etapas.
Resposta: Descrição das atividades
16.8 INDICADORES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PMSB
O objetivo principal dos indicadores dos planos municipais de saneamento bá- sico é avaliar sua implementação conforme previsto, monitorar a evolução das metas estabelecidas, verificar o cumprimento dos objetivos fixados, garantir o efetivo funcionamento das ações de emergência e contingência, e assegurar a consistência na par- ticipação e controle social na tomada de decisões. A seguir, são apresentados os indicadores recomendados para monitorar a implementação do PMSB de Iúna/ES.
Quadro 72 – Indicadores de implementação do PMSB de abastecimento de água.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 1 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| INDICADORES DE DESEMPENHO DO PMSB – IMPLEMENTAÇÃO DO PMSB |
| INDICADOR (cód. do SNIS/SINISA) |
NOME DO INDICADOR | OBJETIVO | PERIODICIDADE E RESPONSABILIDADE PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO | INTERVALO DE VALIDADE | FORMULA | ORIGEM DOS DADOS | UNIDADE |
| AAE | Índice de alcance das metas de execução de ações imediatas | Avaliar a implemen- tação das ações imediatas propostas para o serviço de abastecimento de água | Periodicidade: mensal divulgação: semestral responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Total de ações imediatas de abastecimento de água implementadas (ações)/ total de ações imediatas de abastecimento de água (ações) x 100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico demais secretarias municipais | (%) |
| AAC | Índice de alcance das metas de execução de ações de curto prazo | Avaliar a implemen- tação das ações de curto prazo propos- tas para o serviço de abastecimento de água | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Total de ações de curto prazo de abastecimento de água implementadas (ações);/ total de ações de curto prazo de abastecimento de água (ações) x100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico demais secretarias municipais | (%) |
| AAM | Índice de alcance das metas de execução de ações de médio prazo |
Avaliar a implementação das ações de médio prazo propos- tas para o serviço de abastecimento de água | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Total de ações de médio prazo de abastecimento de água implementadas (ações)/ total de ações de médio prazo de abastecimento de água (ações) x 100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico demais secretarias municipais | (%) |
| AAL | Índice de alcance das metas de execução de ações de longo prazo | Avaliar a implementação das ações de longo prazo propostas para o serviço de abastecimento de água | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Total de projetos de abastecimento de água iniciados no prazo (projetos) / total de projetos de abastecimento de água (projetos) x 100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico demais secretarias municipais | (%) |
| API | Índice de alcance das metas de execução de projetos iniciados no prazo | Avaliar a implementação dos projetos iniciados no prazo propostos para o serviço de abastecimento de água | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Total de projetos de abastecimento de água iniciados no prazo (projetos) ta10= total de projetos de abastecimento de água (projetos) | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico demais secretarias municipais | (%) |
| APA | Índice de alcance das metas de execução de projetos em andamento | Avaliar a implementação dos projetos em andamento propostos para o serviço de abastecimento de água | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Total de projetos de abastecimento de água em andamento (projetos) / total de projetos de abastecimento de água (projetos) x 100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico demais secretarias municipais | (%) |
Quadro 73 – Indicadores de implementação do PMSB do esgotamento sanitário.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 2 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |
| INDICADORES DE DESEMPENHO DO PMSB – IMPLEMENTAÇÃO DO PMSB |
| INDICADOR (cód. do SNIS/SINISA) |
NOME DO INDICADOR | OBJETIVO | PERIODICIDADE E RESPONSABILIDADE PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO | INTERVALO DE VALIDADE | FORMULA | ORIGEM DOS DADOS | UNIDADE |
| EAE | Índice de alcance das metas de execução de ações imediatas | Avaliar a implementação das ações imediatas propostas para o serviço de esgotamento sanitário | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Total de ações imediatas de esgotamento sanitário implementadas (ações) / total de ações imediatas de esgotamento sanitário (ações) x 100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico demais secretarias municipais | (%) |
| EAC | Índice de alcance das metas de execução de ações de curto prazo | Avaliar a implementação das ações de curto prazo propostas para o serviço de esgotamento sanitário | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Total de ações de curto prazo de esgotamento sanitário implementadas (ações) / total de ações de curto prazo de esgotamento sanitário (ações) x 100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico demais secretarias municipais | (%) |
| EAM | Índice de alcance das metas de execução de ações de médio prazo | Avaliar a implementação das ações de médio prazo propostas para o serviço de esgotamento sanitário | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Total de ações de médio prazo de esgotamento sanitário implementadas (ações) /total de ações de médio prazo de esgotamento sanitário (ações) x 100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico demais secretarias municipais | (%) |
| EAL | Índice de alcance das metas de execução de ações de longo prazo | Avaliar a implementação das ações de longo prazo propostas para o serviço de esgotamento sanitário | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Total de ações de longo prazo de esgotamento sanitário implementadas (ações)/total de ações de longo prazo de esgotamento sanitário (ações) x 100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico demais secretarias municipais | (%) |
| EPI | Índice de alcance das metas de execução de projetos iniciados no prazo | Avaliar a implementação dos projetos iniciados no prazo propostos para o serviço de esgotamento sanitário | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Total de projetos de esgotamento sanitário iniciados no prazo (projetos) / total de projetos de esgotamento sanitário (projetos) x 100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico demais secretarias municipais | (%) |
| EPA | Índice de alcance das metas de execução de projetos em andamento | Avaliar a implementação dos projetos em andamento propostos para o serviço de esgotamento sanitário | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Total de projetos de esgotamento sanitário em andamento (projetos) / total de projetos de esgotamento sanitário (projetos) x 100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico demais secretarias municipais | (%) |
Quadro 74 – Indicadores de implementação do PMSB de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 3 | LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS |
| INDICADORES DE DESEMPENHO DO PMSB – IMPLEMENTAÇÃO DO PMSB |
| INDICADOR (cód. do SNIS/SINISA) |
NOME DO INDICADOR | OBJETIVO | PERIODICIDADE E RESPONSABILIDADE PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO | INTERVALO DE VALIDADE | FORMULA | ORIGEM DOS DADOS | UNIDADE |
| RAE | Índice de alcance das metas de execução de ações imediatas | Avaliar a imple- mentação das ações imediatas propostas para o serviço de resí- duos sólidos | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Total de ações imediatas de resíduos sólidos implementadas (ações) / total de ações imediatas de resíduos sólidos (ações) x100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico demais secretarias municipais | (%) |
| RAC | Índice de alcance das metas de execução de ações de curto prazo | Avaliar a imple- mentação das ações de curto prazo propostas para o serviço de resíduos sólidos | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Total de ações de curto prazo de resíduos sólidos implementadas (ações) / total de ações de curto prazo de resíduos sólidos (ações) x 100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico demais secretarias municipais | (%) |
| RAM | Índice de alcance das metas de execução de ações de médio prazo | Avaliar a imple- mentação das ações de médio prazo propostas para o serviço de resíduos sólidos | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Total de ações de médio prazo de resíduos sólidos implementadas (ações) / total de ações de médio prazo | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico demais secretarias municipais | (%) |
| RAL | Índice de alcance das metas de execução de ações de longo prazo | Avaliar a implementação das ações de longo prazo propostas para o serviço de resíduos sólidos | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Total de ações de longo prazo de resíduos sólidos implementadas (ações)/ total de ações de longo prazo de resíduos sólidos (ações) x 100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico demais secretarias municipais | (%) |
| RPI | Índice de alcance das metas de execução de projetos iniciados no prazo | Avaliar a implementação dos projetos iniciados no prazo propostos para o serviço de resíduos sólidos | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Total de projetos de resíduos sólidos iniciados no prazo (projetos) / total de projetos de resíduos sólidos (projetos) x 100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico demais secretarias municipais | (%) |
| RPA | Índice de alcance das metas de execução de projetos em andamento | Avaliar a implementação dos projetos em andamento propostos para o serviço de resíduos sólidos | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Total de projetos de resíduos sólidos em andamento (projetos) / total de projetos de resíduos sólidos (projetos) x 100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico demais secretarias municipais | (%) |
Quadro 75 – Indicadores de implementação do PMSB de drenagem e manejo de águas pluviais.
| MUNICÍPIO DE IÚNA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| SETOR | 4 | DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS |
| INDICADORES DE DESEMPENHO DO PMSB – IMPLEMENTAÇÃO DO PMSB |
| INDICADOR (cód. do SNIS/SINISA) |
NOME DO INDICADOR | OBJETIVO | PERIODICIDADE E RESPONSABILIDADE PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO | INTERVALO DE VALIDADE | FORMULA | ORIGEM DOS DADOS | UNIDADE |
| DAE | Índice de alcance das metas de execução de ações imediatas | Avaliar a implementação das ações imediatas propostas para o serviço de drenagem urbana | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Total de ações imediatas de drenagem urbana implementadas (ações)/ total de ações imediatas de drenagem urbana (ações) x 100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico demais secretarias municipais | (%) |
| DAC | Índice de alcance das metas de execução de ações de curto prazo | Avaliar a implementação das ações de curto prazo propostas para o serviço de drenagem urbana | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Total de ações de curto prazo de drenagem urbana implementadas (ações); td4= total de ações de curto prazo de drenagem urbana (ações) x 100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico demais secretarias municipais | (%) |
| DAM | Índice de alcance das metas de execução de ações de médio prazo | Avaliar a implementação das ações de médio prazo propostas para o serviço de drenagem urbana | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Total de ações de médio prazo de drenagem urbana implementadas (ações) / total de ações de médio prazo de drenagem urbana (ações) x 100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico demais secretarias municipais | (%) |
| DAL | Índice de alcance das metas de execução de ações de longo prazo | Avaliar a implementação das ações de longo prazo propostas para o serviço de drenagem urbana | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Total de ações de longo prazo de drenagem urbana implementadas (ações) / total de ações de longo prazo de drenagem urbana (ações) x 100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico demais secretarias municipais | (%) |
| DPI | Índice de alcance das metas de execução de projetos iniciados no prazo | Avaliar a implementação dos projetos iniciados no prazo propostos para o serviço de drenagem urbana | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Total de projetos de drenagem urbana iniciados no prazo (projetos) / total de projetos de drenagem urbana (projetos) x 100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico demais secretarias municipais | (%) |
| DPA | Índice de alcance das metas de execução de projetos em andamento | Avaliar a implementação dos projetos em andamento propostos para o serviço de drenagem urbana | Periodicidade: anual divulgação: anual responsabilidade: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico |
Anual | Total de projetos de drenagem urbana em andamento (projetos)/ total de projetos de drenagem urbana (projetos) x 100 | Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico demais secretarias municipais | (%) |
16.9 INDICADORES DE REVISÃO DO PMSB
De acordo com o art. 19, inciso V, parágrafo 2º, da Lei nº 11.445/2007, o titular dos serviços (o município) deve realizar a revisão contínua do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) como ação programada para avaliar a eficiência e eficácia do planejamento dos serviços públicos de saneamento básico. Os indicadores de- monstrarão à sociedade se o gestor está cumprindo as diretrizes estabelecidas na legislação nacional, com a revisão não podendo ultrapassar um prazo de 4 anos. Os indicadores propostos para o acompanhamento do PMSB de Iúna/ES neste aspecto são apresentados a seguir:
I.Quando foi elaborada a primeira versão do PMSB?
Resposta: Informar o ano da promulgação da lei do PMSB.
II.Caso tenha 4 anos ou mais de elaborado, já foram realizadas revisões do PMSB?
Resposta: ( ) Sim ou ( ) Não.
• Caso a resposta seja sim, informar quando as revisões foram realizadas.
16.10 INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO
De acordo com a Lei nº 11.445/07, a gestão dos serviços de saneamento deve incluir a regulação e fiscalização desses serviços. Esses indicadores permitem verificar se a prestadora está cumprindo com as normas estabelecidas pela regulação. A seguir, são apresentados os indicadores propostos para o acom- panhamento da situação de fiscalização e regulação ao longo da implementa- ção do PMSB de Iúna/ES:
I. Se o ente não foi instituído, qual é o prazo para a instituição?
II. Já foi instituído o ente regulador e fiscalizador dos serviços de saneamento básico?
Resposta: ( ) Sim ou ( ) Não. SE A RESPOSTA FORA SIM, RESPONDER AS DEMAIS PERGUNTAS:
a. Como (diretamente ou indiretamente)? Qual a natureza jurídica do ente?
b. O dirigente do ente regulador e fiscalizador possui mandato fixo?
c. O ente regulador e fiscalizador dispõe de previsão orçamentária e financeira própria?
d. O ente regulador e fiscalizador possui equipe técnica mínima (informar quantidade e cargos)? Atende à demanda?
e. As atividades do ente regulador e fiscalizador já estão sendo desenvolvidas? Se sim, descrever quais.
f. O manejo dos resíduos sólidos e limpeza urbana e o manejo de águas pluviais e drenagem urbana estão sendo regulados e fiscalizados?
g. O ente regulador e fiscalizador está verificando o cumprimento do plano municipal de saneamento básico por parte dos prestadores de serviços?
h. São elaborados relatórios de fiscalização? Eles estão disponíveis para acesso público? Como? Qual a periodicidade?
i. Sobre as estratégias utilizadas para a prática das atividades realizadas pelo ente regulador:
Ø Foram editadas normas relativas à qualidade e regularidade da prestação dos serviços?
Ø Foram editadas normas relativas à avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados?
Ø Foram editados os requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas?
Ø O ente regulador estabeleceu regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos para a fixação, revisão e reajuste?
Ø Foram editadas normas relativas à medição, faturamento, monitoramento dos custos e cobrança de serviço?
Ø Foi estabelecido algum tipo de canal para o relacionamento com a sociedade?
REFERÊNCIAS
ABRELPE. Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Estimativa dos custos para viabilizar a universalização da destinação adequada de re- síduos sólidos no Brasil. São Paulo: Abrelpe, jun. 2015.
ABRELPE. Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2021.
ABRELPE. Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2022.
AGERH. Agencia Estadual de Recursos Hídricos. Comitê de Baia Hidrográfica do Itapemirim. Disponível em: https://agerh.es.gov.br/Media/agerh/Ma- pas/CBHs/CBH%20-%20Rio%20Itapemirim.pdf. Acesso em 11 abr. 2024.
AGERH. Agencia Estadual de Recursos Hídricos. Declaração de Uso da Água Subterrânea. Disponível em: https://agerh.es.gov.br/declaracao_ceas. Acesso em 22 mar. 2024 (a).
ALVARES, C. A.; STAPE, J. L.; SENTELHAS, P. C.; GONÇALVES, J. L. M.; SPA-
ROVEK, G. Köppen’s climate classification map for Brazil. Meteorologische Zeitschrift, v. 22, n. 6, p. 711 – 728, 2013.
ARCADIS. Estudo sobre o potencial de geração de energia a partir de Resíduos de Saneamento (lixo, esgoto), visando incrementar o uso do biogás como fonte alternativa de energia renovável, Resumo Executivo, 56p. Ministério do Meio Ambi- ente (MMA) e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 2010.
ARSP. Agência de regulação de serviços públicos do Espírito Santo. Relatório de Fiscalização RF/DS/GSB/089/2020. 2020. Disponível em: https://arsp.es.gov.br/Me- dia/arsi/Saneamento/Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o/I%C3%BAna/2020/1Relato- rio_ARSP_2020-089_Iuna.pdf . Acesso em 22 mai. 2024.
ASCE. American Society of Civil Engineers Standard. Design and Construction of Urban Stormwater Management Systems. American Society of Civil Engeneer. 753p. 1992.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 10.844 - Instalações prediais de águas pluviais. Rio de Janeiro, 1989.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 10.007: Amostragem de resíduos sólidos. Rio de Janeiro, 2004.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 14.728: Gerenciamento de resíduos sólidos. Rio de Janeiro, 2005. Disponível em:
<https://www.abnt.org.br.> Acesso em: 17 out. 2024.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 15114: Resíduos sólidos da construção civil – Áreas de reciclagem – Diretrizes para projeto, implantação e operação. Rio de Janeiro, 2004.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10.004: Resíduos Sólidos – Classificação. Rio de Janeiro, 2004.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10.844: Instalações Prediais de Águas Pluviais. Rio de Janeiro, 1989.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10.844: Instalações prediais de águas pluviais. Rio de Janeiro, 1989.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 12.810: Resíduos de Serviços de Saúde – Gerenciamento Extraestabelecimento – Requisitos. Rio de Janeiro, 2020.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 12.810: Resíduos de Serviços de Saúde – Gerenciamento Extraestabelecimento – Requisitos. Rio de Janeiro, 2020.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 12.980: Coleta, Varrição e Acondicionamento de Resíduos Sólidos Urbanos. Rio de Janeiro, 1993.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 12.980: Coleta,
Varrição e Acondicionamento de Resíduos Sólidos Urbanos. Rio de Janeiro, 1993.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 13.221: Transporte Terrestre de Resíduo. Rio de Janeiro, 2003.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 13.221: Transporte Terrestre de Resíduo. Rio de Janeiro, 2003.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 13.463: Coleta de Resíduos Sólidos. Rio de Janeiro, 1995.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 13.463: Coleta de Resíduos Sólidos. Rio de Janeiro, 1995.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 13.896: Aterros de Resíduos não Perigosos - Critérios para Projeto, Implantação e Operação. Rio de Janeiro, 1997.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 13.896: Aterros de Resíduos não Perigosos - Critérios para Projeto, Implantação e Operação. Rio de Janeiro, 1997.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 13.968: Embalagem Rígida Vazia de Agrotóxico – Procedimentos de Lavagem. Rio de Janeiro, 1997.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 13.968: Embalagem Rígida Vazia de Agrotóxico – Procedimentos de Lavagem. Rio de Janeiro, 1997.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14.064: Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos – Diretrizes do Atendimento à Emergência. Rio de Janeiro, 2022.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14.064: Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos – Diretrizes do Atendimento à Emergência. Rio de Janeiro, 2022.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 15.112 a 15.116: Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos – Áreas de Transbordo e Triagem – Diretrizes para Projeto, Implantação e Operação. Rio de Janeiro, 2004.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 15.112 a 15.116: Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos – Áreas de Trans- bordo e Triagem – Diretrizes para Projeto, Implantação e Operação. Rio de Ja- neiro, 2004.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 15.849: Resíduos Sólidos Urbanos – Aterros Sanitários de Pequeno Porte – Diretrizes para Localização, Projeto, Implantação, Operação e Encerramento. Rio de Janeiro, 2010.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 7.500: Símbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de materiais. Rio de Janeiro, 2001.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 7.500: Símbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de materiais. Rio de Janeiro, 2001.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 7.501: Transporte Terrestre de Produtos Perigosos – Terminologia. Rio de Janeiro, 2021.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 7.501: Transporte Terrestre de Produtos Perigosos – Terminologia. Rio de Janeiro, 2021.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 7.503: Transporte Terrestre de Produtos Perigosos – Ficha de Emergência – Requisitos Mínimos. Rio de Janeiro, 2020.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 7.503: Transporte Terrestre de Produtos Perigosos – Ficha de Emergência – Requisitos Mínimos. Rio de Janeiro, 2020.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 8.890: Tubo de concreto de seção circular para água pluvial e esgoto sanitário – Requisitos e métodos de ensaios. Rio de Janeiro, 2020.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 9.190: Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo. Rio de Janeiro, 1993.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 9.190: Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo. Rio de Janeiro, 1993.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 9.191: Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo – Requisitos e Métodos de Ensaios. Rio de Janeiro, 2002.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 9.191: Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo – Requisitos e Métodos de Ensaios. Rio de Janeiro, 2002.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13969:1997 – Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluen- tes líquidos – Projeto, construção e operação. Rio de Janeiro, 1997.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7229:1993 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos – Procedimento. Rio de Janeiro, 1993.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9649:1986 – Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário – Procedimento. Rio de Janeiro, 1986
AYOADE, J. O. Introdução à Climatologia para os Trópicos. Rio de Janeiro: Ber- trand Brasil, 1996. 332 p. Disponível em: https://www2.ifmg.edu.br/governadorvalada- res/pesquisa/laboratorio-de-climatologia/livros/ayoade-j-o-_introducao_a_climatolo- gia_para_os_tropicos.pdf. Acesso em: 09 fev. 2024.
BANDEIRA, P. K. D. N. Direito internacional de água: ausência legislativa inter- nacional ambiental em área de fronteira. Revista Geopolítica Transfronteiriça, Manaus, v. 2, n. 1°, p. 41-61, 2018.
BARTH, M. E.; LANDSMAN, W. R.; LANG, M. H.; WILLIAMS, C. D. Effects on Comparability and Capital Market Benefits of Voluntary IFRS Adoption. Journal of Fi- nancial Reporting, v. 3, n.1, p. 1–22, 2018.
BDIA. Banco de informações ambientais. Disponível em: https://bdia- web.ibge.gov.br/#/consulta/vegetacao. Acesso em: 19 MAR. 2024.
BENINI, Sandra Medina; MARTINS, Encarnita Salas. Resíduos Sólidos Urbanos: Es- tudo de Caso da Estância Turística de Tupã/SP. Fórum Ambiental da Alta Paulista, v. 8, n. 4, 2012, p. 43-63.
BNDES. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Relatório Anual – 2014. Rio de Janeiro, 2014.
BORRALHO. Francisco Miguel Bento. Avaliação do Desempenho Ambiental de Sistemas de Drenagem Urbanos com ênfase na Contaminação Microbiológica: Desenvolvimento do Modelo Simplificado ASI-Mic. Dissertação – Instituto Superior Técnico Lisboa. Outubro, 2013.
BRASIL. Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Resolução nº 5.232, de 26 de dezembro de 2016. Aprova as Instruções Complementares ao Re- gulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 28 dez. 2016. Disponível em: https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/transporte-de-produtos-perigosos/resolu- coes/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-5.232-2016.pdf. Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Resolução nº 5.848, de 23 de dezembro de 2019. Atualiza o Regulamento para o Transporte Ro- doviário de Produtos Perigosos e revoga a Resolução ANTT nº 3.665, de 2011. Diário Oficial da União, Brasília, 26 dez. 2019. Disponível em: https://www.gov.br/antt/pt- br/assuntos/transporte-de-produtos-perigosos/resolucoes/Re- solu%C3%A7%C3%A3o-5.848-2019.pdf. Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução da Dire- toria Colegiada (RDC) nº 306, de 7 de dezembro de 2004. Dispõe sobre o gerenci- amento de resíduos de serviços de saúde. Diário Oficial da União, Brasília, 8 dez. 2004. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-da-diretoria-cole- giada-rdc-n-306-de-7-de-dezembro-de-2004-17383793. Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução da Dire- toria Colegiada (RDC) nº 222, de 28 de março de 2018. Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 29 mar. 2018. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-da-diretoria-colegiada-rdc-n-222-de- 28-de-marco-de-2018-9402342.> Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução nº 375, de 29 de agosto de 2006. Estabelece diretrizes para o gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 30 ago. 2006. Disponível em: http://www.mma.gov.br/portugue/legis/resolucao375.pdf. Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução nº 498, de 22 de dezembro de 2009. Aprova as diretrizes para o controle da poluição e a conservação da biodiversidade em áreas de conservação ambiental e unidades de conservação. Diário Oficial da União, Brasília, 28 dez. 2009. Disponível em: http://www.mma.gov.br/portugue/legis/resolucao498.pdf. Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www4.planalto.gov.br/legislacao>. Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:<http://www4.planalto.gov.br/legislacao>.
BRASIL. Decreto nº 1.797, de 27 de setembro de 1996. Regulamenta a execução do Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte de Produtos Perigosos entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, celebrado em 30 de dezembro de 1994. Diário Oficial da União, Brasília, 30 set. 1996. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-1.797-de-27-de-setembro-de-1996- 246894. Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. Decreto nº 10.388, de 5 de junho de 2020. Regulamenta o § 1º do caput do art. 33 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e institui o sistema de logís- tica reversa de medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, de uso hu- mano, industrializados e manipulados, e de suas embalagens após o descarte pelos consumidores. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/cci- vil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10388.htm>. Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. Decreto nº 10.388, de 5 de junho de 2020. Regulamenta o § 1º do caput do art. 33 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e institui o sistema de logísica reversa de medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, de uso hu- mano, industrializados e manipulados, e de suas embalagens após o descarte pelos consumidores. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/cci- vil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10388.htm>.
BRASIL. Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022. Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/De- creto/D10936.htm#art91>. Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022. Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019- 2022/2022/Decreto/D10936.htm#art91>.
BRASIL. Decreto nº 2.866, de 29 de setembro de 1998. Trata do 1º Protocolo Adici- onal ao Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte de Produtos Pe- rigosos entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, abordando o regime de infrações e sanções. Diário Oficial da União, Brasília, 30 set. 1998. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-2.866-de-29-de-setembro-de-1998- 248316. Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. Decreto nº 4.954, de 14 de janeiro de 2004. Altera o Anexo ao Decreto nº 4.954, de 14 de janeiro de 2004, que aprova o Regulamento da Lei nº 6.894, de 16 de dezembro de 1980, que dispõe sobre a inspeção e fiscalização da produção e do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes, ou biofertilizantes, remineralizadores e substratos para plantas destinados à agricultura. Diário Oficial da União, Brasília, 15 jan. 2004. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-4.954-de-14- de-janeiro-de-2004-1824583. Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007. Regulamenta a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007- 2010/2007/Decreto/D6017.htm>. Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007. Regulamenta a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de con- sórcios públicos. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007- 2010/2007/Decreto/D6017.htm>.
BRASIL. Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010. Regulamenta a Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/cci- vil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/D7217.htm>. Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010. Regulamenta a Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/cci- vil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/D7217.htm>.
BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. 1º Caderno de pesquisa em engenharia de saúde pública / Fundação Nacional de Saúde. – Brasília: Funasa, 2013. 244 p.
BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. 1º Caderno de pesquisa em engenharia de saúde pública / Fundação Nacional de Saúde. – Brasília: Funasa, 2013. 244 p.
BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Diretrizes de educação em saúde visando à promoção da saúde: documento base - documento I/Fundação Nacional de Saúde - Brasília: Funasa, 2007.
BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Diário Oficial da União, Brasília, 5 maio 2000. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/cci- vil_03/leis/LCP/Lcp101.htm. Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003. Altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, para modificar o nome e as atribuições do cargo de Especialista em Recursos Hídricos. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 20 nov. 2003.
BRASIL. Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. Institui normas gerais para lici- tação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública. Diário Oficial da União, Brasília, 31 dez. 2004. Disponível em: http://www.pla- nalto.gov.br/ccivil_03/leis/11079.htm. Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005. Dispõe sobre normas gerais de con- tratação de consórcios públicos e dá outras providências. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm>. Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005. Dispõe sobre normas gerais de con- tratação de consórcios públicos e dá outras providências. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm>.
BRASIL. Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007- 2010/2007/lei/L11445compilado.htm>. Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007- 2010/2007/lei/L11445compilado.htm>
BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Re- síduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007- 2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Re- síduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007- 2010/2010/lei/l12305.htm>.
BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegeta- ção nativa e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 28 mai. 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2012/L12651.htm. Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015. Institui o Estatuto da Metrópole e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 13 jan. 2015.
BRASIL. Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015. Institui o Estatuto da Metrópole, altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13089.htm>. Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015. Institui o Estatuto da Metrópole, altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e dá outras providências. Disponí- vel em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13089.htm>.
BRASIL. Lei nº 13.308, de 30 de maio de 2016. Estabelece diretrizes e normas para a Política Nacional de Resíduos Sólidos e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 31 mai. 2016. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/cci- vil_03/leis/2016/L13308.htm. Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. Lei nº 13.529, de 4 de dezembro de 2017. Autoriza a União a participar de fundo com a finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especializados. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 5 dez. 2017.
BRASIL. Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020. Atualiza o marco legal do sanea- mento básico e altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir à Agên- cia Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) competência para editar nor- mas de referência sobre o serviço de saneamento, a Lei nº 10.768, de 19 de no- vembro de 2003, para alterar o nome e as atribuições do cargo de Especialista em Recursos Hídricos, a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para vedar a pres- tação por contrato de programa dos serviços públicos de que trata o art. 175 da Constituição Federal, a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para aprimorar as condições estruturais do saneamento básico no País, a Lei nº 12.305, de 2 de agosto]de 2010, para tratar dos prazos para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole), para estender seu âmbito de aplicação às microrregiões, e a Lei nº 13.529, de 4 de dezembro de 2017, para autorizar a União a participar de fundo com a finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especializados. Dispo- nível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019- 2022/2020/Lei/L14026.htm#art7>. Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020. Atualiza o marco legal do sanea- mento básico e altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) competência para edi- tar normas de referência sobre o serviço de saneamento, a Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003, para alterar o nome e as atribuições do cargo de Especi- alista em Recursos Hídricos, a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para vedar a prestação por contrato de programa dos serviços públicos de que trata o art.
175 da Constituição Federal, a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para apri- morar as condições estruturais do saneamento básico no País, a Lei nº 12.305, de 2 de agosto]de 2010, para tratar dos prazos para a disposição final ambien- talmente adequada dos rejeitos, a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 (Esta- tuto da Metrópole), para estender seu âmbito de aplicação às microrregiões, e a Lei nº 13.529, de 4 de dezembro de 2017, para autorizar a União a participar de fundo com a finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especializa- dos. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019- 2022/2020/Lei/L14026.htm#art7>.
BRASIL. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Institui a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Diário Oficial da União, Brasília, 2 abr. 2021. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.133-de-1-de-abril-de-2021- 307612610. Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Institui o Código Tributário Nacio- nal. Diário Oficial da União, Brasília, 27 out. 1966. Disponível em: http://www.pla- nalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172.htm. Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989. Cria o Fundo Nacional de Meio Am- biente e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/cci- vil_03/Leis/L7797.htm>. Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Dis- ponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9795.htm>. Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.
Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9795.htm>.
BRASIL. Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000. Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas – ANA e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 18 jul. 2000.
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Norma- tiva SDA nº 25, de 23 de julho de 2009. Aprova normas sobre as especificações e as garantias, as tolerâncias, o registro, a embalagem e a rotulagem dos fertilizantes orgânicos simples, mistos, compostos, organominerais e biofertilizantes destinados à agricultura. Diário Oficial da União, Brasília, 24 jul. 2009. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-sda-n-25-de-23-de-julho-de- 2009-204667. Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. Orientações técnicas para o monitoramento de cianobactérias/cianotoxinas nos mananciais de abasteci- mento de água para consumo humano. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 22 p.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. Orientações técnicas para o monitoramento de cianobactérias/cianotoxinas nos mananciais de abas- tecimento de água para consumo humano. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 22 p.
BRASIL. Ministério das Cidades. Instrução Normativa nº 22, de 3 de agosto de 2018. Regulamenta, no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional, o pro- cesso seletivo para contratação de operações de crédito para a execução de ações de saneamento – Mutuários Públicos. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 6 ago. 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informa- cao/acoes-e-programas/saneamento/avancar-cidades-saneamento/avancar-cidades- saneamento-selecao-continua-instrucao-normativa- n222018/in_22_DE_3_DE_AGOSTO_DE_2018_final.pdf.> Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Compostagem doméstica, comunitária e institucional de resíduos orgânicos: manual de orientação. Ministério do Meio Ambiente, Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, Serviço Social do Comércio/SC. Brasília, DF: MMA, 2018. 68 p.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Compostagem doméstica, comunitária e institucional de resíduos orgânicos: manual de orientação. Ministério do Meio Ambiente, Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, Serviço Social do Comércio/SC. Brasília, DF: MMA, 2018. 68 p.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Portaria nº 280, de 29 de junho de 2020. Re- gulamenta os arts. 56 e 76 do Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, e o art. 8º do Decreto nº 10.388, de 5 de junho de 2020, institui o Manifesto de Trans- porte de Resíduos - MTR nacional, como ferramenta de gestão e documento de- claratório de implantação e operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos, dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos e comple- menta a Portaria nº 412, de 25 de junho de 2019. Disponível em:
<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-280-de-29-de-junho-de-2020- 264244199>. Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Portaria nº 280, de 29 de junho de 2020. Re- gulamenta os arts. 56 e 76 do Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, e o art. 8º do Decreto nº 10.388, de 5 de junho de 2020, institui o Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR nacional, como ferramenta de gestão e docu- mento declaratório de implantação e operacionalização do plano de gerencia- mento de resíduos, dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos e complementa a Portaria nº 412, de 25 de junho de 2019. Disponível em:
<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-280-de-29-de-junho-de-2020- 264244199>.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 357, de 15 de junho de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambien- tais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Brasília, 2005.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 357, de 15 de ju- nho de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes am- bientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e pa- drões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Brasília, 2005.
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora 06: Equipa- mento de Proteção Individual (EPI). Aprovação em 8 de junho de 1978. Disponível em: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/seguranca-e-saude-no- trabalho/normas-regulamentadoras/nr-06. Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora 32: Segu- rança e saúde no trabalho em serviços de saúde. Aprovação em 2005. Disponível em: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/seguranca-e-saude-no-traba- lho/normas-regulamentadoras/nr-32. Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. Norma Regulamentadora nº 24 (NR 24) – Condições Sanitárias e de Con- forto nos Locais de Trabalho. Portaria MTB nº 3.214, de 8 de junho de 1978. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 6 jul. 1978.
BRASIL. NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de ma- teriais (1978). Disponível em: < http://acesso.mte.gov.br/data/fi- les/FF8080812BE914E6012BEF1FA6256B00/nr_11.pdf>. Acesso em: 17 out. 2024.
BRASIL. NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de ma- teriais (1978). Disponível em: < http://acesso.mte.gov.br/data/fi- les/FF8080812BE914E6012BEF1FA6256B00/nr_11.pdf>.
BRASIL. Portaria SIT nº 588, de 28 de junho de 2017. Disponibiliza para consulta pública o texto técnico básico para criação de Norma Regulamentadora referente às atividades de Limpeza Urbana. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 30 jun. 2017.
BRITO, S. Quantidade de água necessária – Capítulo V. .Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), 2016 .
CANALI, N. E. Análise morfométrica da Bacia do Rios Açungui – PR. Curitiba – PR, 1986. Tese (Professor Titular), UFPR.
CANHOLI, A. P. Drenagem Urbana e Controle de Enchentes, São Paulo: Oficina de Tex-tos.2005.
CANHOLI, A. P. Soluções estruturais não convencionais em drenagem urbana, tese de doutorado, Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. 1995. CASTRO, D. P. Auditoria, contabilidade e controle interno no setor público: integração das áreas do ciclo de gestão. 5ª ed. São Paulo. Atlas, 2011.
CASTRO, R. C. M. L. CACCIAMALI, M. C. SUZUKI, J. C. Expressões da Economia como Ciência Social. São Paulo: FFLCH/USP, 2021.
CEMPRE. Compromisso empresarial para reciclagem. Lixo municipal: Manual de gerenciamento integrado. 4. ed. rev. e aum. São Paulo - SP: Coordenação geral André Vilhena, 2018. 316 p. ISBN 978-85-87345-02-8.
CEMPRE. Compromisso empresarial para reciclagem. Lixo municipal: Manual de gerenciamento integrado. 4. ed. rev. e aum. São Paulo - SP: Coordenação geral André Vilhena, 2018. 316 p. ISBN 978-85-87345-02-8.
CESAN. Companhia Espírito Santense de Saneamento. Relatório Anual da Quali- dade da Água distribuída em 2023. Disponível em: https://informacoes.ce- san.com.br/wp-content/uploads/2024/02/Qualidade-da-%C3%81gua- 2023_I%C3%9ANA-FINAL.pdf. Acesso em 22 mar. 2024.
CESAN. Companhia Espírito Santense de Saneamento. Relatório de Gestão 2016. Nível II – PQES 2017. Disponível em: https://cesan.com.br/wp-content/uplo- ads/2017/04/RG_PQES_2017.pdf. Acesso em 17 abr. 2024.
CESAN. Companhia Espírito Santense de Saneamento. Sistema de Esgotamento Sanitário de Iúna – Memorial descritivo e de cálculo. Contrato nº 443/10 OS nº 001. Maio, 2012.
CHRISTOFOLETTI, A. Geomorfologia. 2. ed. Rio Claro: Blucher, 1974. 188 p.
CIBIOGÁS. Panorama do biogás no Brasil. 2021. Disponível em: https://cibio- gas.org/wp-content/uploads/2022/04/NT-PANORAMA-DO-BIOGAS-NO-BRASIL- 2021.pdf. Acesso em: 17 out. 2024.
CLIMATE DATA. 2024. Disponível em: https://pt.climate-data.org/america-do-sul/bra- sil/espirito-santo/iuna-27818/. Acesso em: 20 fev. 2024.
CNES. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. DataSUS. Disponível em: <https://cnes2.datasus.gov.br/Index.asp?home=1>. Acesso em 20 mar. 2024.
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB
(2023). Fossas/tanques Séptico. Disponível em: <https://www.caesb.df.gov.br/.> Acesso em: 17 out. 2024.
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB
(2023). Fossas/tanques Séptico. Disponível em: https://www.caesb.df.gov.br/.
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB.
Manual de orientações para instalação domiciliar do sistema de fossa e sumidouro. Brasília, 2010.
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB.
Manual de orientações para instalação domiciliar do sistema de fossa e sumi- douro. Brasília, 2010.
COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA RECICLAGEM, Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. CEMPRE. São Paulo, 2010.
CONAMA. Conselho Nacional de Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001. Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resí- duos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva. Disponível em: < http://co- ama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.down- load&id=273#:~:text=RESOLU%C3%87%C3%83O%20CO- NAMA%20n%C2%BA%20275%2C%20de%2025%20de%20abril,como%20nas%20campanhas%20informativas%20para%20a%20coleta%20seletiva.>. Acesso em: 17 out. 2024.
CONAMA. Conselho Nacional de Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001. Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de re- síduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva. Disponível em: <
http://conama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.down- load&id=273#:~:text=RESOLU%C3%87%C3%83O%20CO- NAMA%20n%C2%BA%20275%2C%20de%2025%20de%20abril,como%20nas%20campanhas%20informativas%20para%20a%20coleta%20seletiva.>.
CONAMA. Conselho Nacional de Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002. Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Disponível em: < http://conama.mma.gov.br/in- dex.php?option=com_sisconama&task=documento.download&id=19132>. Acesso em: 17 out. 2024.
CONAMA. Conselho Nacional de Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005. Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. Disponível em: <https://as.org.br/docs/Resolucao_CONAMA_358.pdf>. Acesso em: 17 out. 2024.
CONAMA. Conselho Nacional de Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho de 2005. Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado. Disponível em: < http://co- nama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=457>.Acesso em: 17 out. 2024.
CONAMA. Conselho Nacional de Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002. Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Disponível em: < http://conama.mma.gov.br/in- dex.php?option=com_sisconama&task=documento.download&id=19132>.
CONAMA. Conselho Nacional de Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005. Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. Disponível em:
<https://as.org.br/docs/Resolucao_CONAMA_358.pdf>.
CONAMA. Conselho Nacional de Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho de 2005. Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado. Disponível em: < http://co- nama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=457>.
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA. Resolução nº 357, de 1 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretri- zes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 17 mar. 2005.
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA. Resolução nº 430, de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de eflu- entes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. Diário Oficial da União. Brasília, 13 mai. 2011.
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA. Resolução nº 430, de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. Diário Oficial da União.
Brasília, 13 mai. 2011.
CORMIER, N. S.; PELLEGRINO, P. R. M. Infra-estrutura verde: uma estratégia pai- sagís-tica para a água urbana. Rev. Paisagem e Ambiente, São Paulo, n.25, pp. 125-142, 2008.
CPRM. Serviço Geológico do Brasil. Ação Emergencial para Delimitação de Áreas em Alto e Muito Alto Risco a Enchentes, Inundações e Movimentos de Massa. Município de Iúna, ES. 2014.
CPRM. Serviço Geológico do Brasil. Atlas Pluviométrico do Brasil; Equações In- tensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias). Muni- cípio: Iúna. Estação Pluviométrica: Iúna, Código 02041013. Jean Ricardo da Silva do Nascimento; José Alexandre Moreira Farias; Eber José de Andrade Pinto. Teresina, PI, 2016.
DATASUS. TabNet. 2024. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/de- ftohtm.exe?sih/cnv/nipr.def>. Acesso 20 mar. 2024.
em: http://www.dec.ufcg.edu.br/saneamento/A5.html.
EMBRAPA. Solos. Disponível em: https://www.embrapa.br/. Acesso em: 17 jul. 2023.
EPE. Empresa de Pesquisa Energética (Brasil). Balanço Energético Nacional 2014: Ano base 2013 / Empresa de Pesquisa Energética. – Rio de Janeiro: EPE, 2014.
FALCÓN, Antoni. Espacios verdes para una ciudad sostenible – Planificación, proyecto, mantenimiento y gestión. Ed. Gustavo Gili: Barcelona, 2007.
FAUSTINO, J. Planificación y gestión de manejo de cuencas. Turrialba: CATIE, 1996. 90p.
FESTI, Aparecido Vanderlei. COLETÂNEA DAS EQUAÇÕES DE CHUVA DO BRA- SIL. In: XVII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS- SÃO PAU-LO, 2007, São Paulo - SP. Anais [...]. [S. l.: s. n.], 2007.
FIGUEIREDO, A. dos S. Diagnóstico de Outorgas e Vazões na Unidades Hidro- gráfica do Alto Ivaí - Paraná. Campo Mourão. 2021.
FRANCO, Edu José. DIMENSIONAMENTO DE BACIAS DE DETENÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS COM BASE NO MÉTODO RACIONAL. 2004. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental) - Universidade Federal do Paraná - UFPR, Curitiba, 2004.
FRANCO, Edu José. DIMENSIONAMENTO DE BACIAS DE DETENÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS COM BASE NO MÉTODO RACIONAL. 2004. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental) - Universidade Federal do Paraná - UFPR, Curitiba, 2004.
FUNASA. Manual de Implementação do PDCA na Gestão de Projetos em Saneamento. Brasília, 2008. Disponível em: http://www.funasa.gov.br. Acesso em: 17 out. 2024.
GBIF.org (09 April 2024) GBIF Occurrence Download. Disponível em: https://doi.org/10.15468/dl.vvy74v. Acesso em 09 abr. 2024.
GEOBASES - ES. IBGE - BC100 - ES - Trecho de drenagem, 2018. Disponível em: https://ide.geobases.es.gov.br/layers/geonode:hid_trecho_drenagem_l_31984.
HERZOG, C. P. Corredores verdes: expansão urbana sustentável através da ar- ticulação entre espaços livres, conservação ambiental e aspectos históricos cul- turais. In: Terra, Car-los G. e Andrade Rubens de. Coleção PaisagenCulturais – Ma- terialização da Paisagem através das Manifestações SócioCulturais. UFRJ-EBA, 2008. Disponível em: < http://inverde.fi-les.wordpress.com/2010/08/herzog_ceci- lia_corredores_verdes.pdf/>. Acesso em: 17 out. 2024.
HERZOG, C. P. ROSA, L. Z. Infraestrutura Verde: Sustentabilidade e Resiliência para a Paisagem Urbana. Rev. LABVERDE, São Paulo, v.1, n.1, p. 91-115, 2010. http://cempre.org.br/upload/Lixo_Municipal_2018.pdf.
IBAM Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: Manual Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, 2001.
IBAM Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: Manual Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, 2001.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2008. Pesquisa Na- cional de Saneamento Básico: Manejo de Resíduos Sólidos. Disponível:
<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pnsb/pnsb-2008#Ma- nejo%20de%20Res%C3%ADduos%20S%C3%B3lidos.> Acesso em: 17 out. 2024.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2022. Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/?utm_source=ibge&utm_medium=home&utm_campaign=portal>. Acesso 10 mar. 2024.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Manual Técnico da Vegetação Brasileira. 2012. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4228241/mod_resource/content/2/Manual%20Tecnico%20da%20Vegeta- cao%20Brasileira%20-%202012.pdf. Acesso em 19 mar. 2024.
IBGE. Vegetação. 2023. Disponível em: https://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_ambientais/vegetacao/vetores/escala_250_mil/versao_2023/
IEMA. Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Atlas da Mata Atlântica. 2018. Disponível em:
https://seama.es.gov.br/Media/seama/Documentos/Reflorestar/Atlas/Cobertura%20Florestal%20por%20por%20municipios%20de%20C%20a%20G.pdf. Acesso em 10 mar. 2024.
IJSN. Instituto Jones dos Santos Neves. Mapeamento geomorfológico do estado do Espírito Santo. Vitória, ES, 2012.
INCRA. Solos ES. 2016. Disponível em: https://ide.geobases.es.gov.br/layers/ge- onode:INCRA_SOLOS_ES_2016_EPSG_31984_UTF82.
JACOBI, P. R. Educação e meio ambiente: transformando as práticas. Revista Brasileira de Educação Ambiental, v. no 2004, n. 0, p. 28-35, 2004.
KUMAR A, SAMADDER SR. A review on technological options of waste to energy for effective management of municipal solid waste. Waste Manag 2017.
LEPSCH, I. F.; BELLINAZZI, J.R.; BERTOLINI, D.; ESPÍNDOLA, C. R. Manual para levantamento utilitário do meio físico de terras no sistema de capacidade de uso. Campinas: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 1983.
LIBERATO, Samuel. Imagens aéreas: chuva provoca morte e destruição em Iúna. A Gazeta, 2020. Disponível em: https://www.agazeta.com.br/es/sul/imagens-aereas- chuva-provoca-morte-e-destruicao-em-iuna-0120. Acesso em 19 jul. 2024.
MASSOUD, M. A.; TARHINI, A.; NASR, J. A. Decentralized Approaches to Wastewater Treatment and Management: applicability in developing countries. Journal of Enverinmental Management, v. 90, n. 1, p. 652-659, 2009.
MILANEZ, B. Resíduos sólidos e sustentabilidade: princípios, indicadores e instrumentos de ação. Dissertação (Mestrado). São Carlos, Universidade Federal de São Carlos. 2002.
MMA. Biomas. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: https://antigo.mma.gov.br/biomas.html. Acesso em: 26 jun. 2023.
MORGAN, R.P.C. Soil Erosion and Conservation. Blackwell, Oxford, 2005. MOURÃO, R. F.; SEO, E. S.M. Logística reversa de lâmpadas fluorescentes. Revista InterfacEHS. São Paulo, v. 7, n. 3, 2012.
MSF07. Manual de Fiscalização. Prestação dos serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. 2022. AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO – ARSP/ DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁ- SICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA – DS/ GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO
– GSB. Disponível em: https://arsp.es.gov.br/Media/arsi/Saneamento/Fisca- liza%C3%A7%C3%A3o/Manual%20e%20Checklist/MFS_V07_2022_Chec- klist%20e%20Manual%20de%20Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o.pdf. Acesso em 15 mai. 2024.
NAKAMURA, E. Regulating loads to receiving Waters: Control practices for com- bined sewer overflows in Japan. In: Urban Discharges and Receiver Water Quality Impacts. Semi-nar. IAWPRC/IAHR, Brighton, U.K. 1988.
PIRH. Bacia do Rio Doce. PP06 – Proposta de enquadramento e programa de efe- tivação da Bacia Hidrográfica do Rio Manhuaçu. 2022. Disponível em: https://www.cbhdoce.org.br/wp-content/uploads/2022/11/DO6-Relatorio-da-Proposta- de-Enquadramento-dos-Corpos-de-Agua.pdf. Acesso em 11. abr. 2024.
PMSB. Plano Municipal de Saneamento Básico. Iúna. 2017. Elaborado por Univer- sidade Federal do Espírito Santo, Governo do Estado do Espírito Santo, Prefeitura Municipal de Iúna.
POLAZ, C.; TEIXEIRA, B. Indicadores de sustentabilidade para a gestão munici- pal de resíduos sólidos urbanos: um estudo para São Carlos (SP) Eng. Sanit. Ambient. vol.14 no.3. Rio de Janeiro July/Sept. 2009.
PORTAL RESÍDUOS SÓLIDOS. Como funciona uma usina de triagem de lixo. Disponível em: https://portalresiduossolidos.com/usina-de-triagem-de-residuos-soli- dos/como-funciona-uma-usina-de-triagem-de-lixo/. Acesso em: 01 out. 2024.
PORTO, R. La Laina. Escoamento superficial direto. Drenagem Urbana. Tradução. Porto Alegre: Abrh/Editora da Universidade/Ufrgs, 1995.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA. Legislação. Disponível em: https://iuna.es.gov.br/legislacao/localizar.html. Acesso em 11. abr. 2024.
RESOL, Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana. EPIs. Disponível em: <http://www.re- sol.com.br/site/.> Acesso em: 17 out. 2024.
SANTOS, H. G. dos; JACOMINE, P. K. T.; ANJOS, L. H. C. dos; OLIVEIRA, V. A. de; OLIVEIRA, J. B. de; COELHO, M. R.; LUMBRERAS, J. F.; CUNHA, T. J. F. (Ed.).
Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 2. ed. Rio de Janeiro: Embrapa So- los, 2006. 306 p.
SANTOS, R. (2004) Indicadores Ambientais e Planejamento. In: Planejamento Ambi- ental: teoria e prática. São Paulo: Oficina de Textos. pp 57-70. 2004.
SÃO PAULO (cidade). Diretrizes de Projeto para Estudos Hidrológicos – Método de "I-PAI-WU". São Paulo: SMDU, 1999.
SCHLICKMANN; R. de L.; BACK, A. B. Avaliação de métodos de estimativa de vazão máxima para dimensionamento de bueiros. Revista Técnico-Científica de Engenha- ria Civil UNESC, v. 3 n. 1: CIVILTEC, 2020. DOI: 10.18616/civiltec.v3i1.5729.
SEBRAE. Relatório de Dados Econômicos. Branding da Cidade de Iúna. 2023. Disponível em: https://iuna.es.gov.br/arquivos/files/2023/05/editor-html/b_iunarelatorioeconomiav01_64590ab885c7c.pdf. Acesso em 11 abr. 2024.
SILVA FILHO, C. R. V.; SOLER, F. D. Gestão de resíduos sólidos: o que diz a lei.
2.ed. São Paulo: Trevisan, 2013.
SISTEMA Nacional de Informações sobre Saneamento: SNIS - Série Histórica. 2022. Disponível em: http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/#.
SNIS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - Série Histórica. SNIS - Série Histórica. 2022. Disponível em: <http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/#>.
SNIS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Diagnóstico Temático Serviços de Água e Esgoto - Visão Geral. Ministério das Cidades. 2022.
SNIS/SINISA/SINISA. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - Série Histórica.SNIS/SINISA - Série Histórica. 2022. Disponível em: <http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/#>. Acesso em: 17 out. 2024.
SOUZA, M. T. S., PAULA, M. B., & SOUZA-PINTO (2012). O papel das cooperativas de reciclagem nos canais reversos pós-consumo. Revista De Administração De Empresas, 52(2), 246–262.
SUGUIO, Kenitiro. Geologia sedimentar. São Paulo: Edgard Blücher. 2003.
TEIXEIRA, Marta Raquel Machado. A Economia da Partilha: o caso Airbnb. 2020. 66f. Dissertação (mestrado) – Instituto Superior de Gestão, Lisboa, 2020.
TOMAZ, P. Curso de manejo de águas pluviais. Capítulo 66 – Método de I-PAI-WU. Cap. 66. 25 de jul. 2014.
TONETTI, A. L.; DUARTE, N. C.; FIGUEIREDO, I. C. S. Brasil, A. L. 2018. Alternativas para o gerenciamento de lodo de sistemas descentralizados de tratamento de esgotos de áreas rurais. Labor & Engenho, Campinas [SP] Brasil, v.12, n.1, p.145-152, jan./mar. 2018.
TUCCI, C. E. M. Drenagem Urbana. Rev. Ciência e Cultura, SP, v. 55, nº 4, 2003. TUCCI, C.E.M. Coeficiente de escoamento e vazão máxima. RBRH V5 n.2 p. 2000.
UC. Unidades de Conservação no Brasil. Disponível em: https://uc.socioambiental.org/pt-br. Acesso em 10. abr. 2024.
VIEIRA, V.S; SILVA, M. A.; CORRÊA, T. R.; LOPES, N. H. B. Mapa geológico do estado do Espírito Santo. Escala 1:400.000. Editado por Ministério de Minas e Energia e CPRM. 2018. Disponível em: https://rigeo.sgb.gov.br/han- dle/doc/15564?mode=full.
VILLELA, S. M.; MATOS, A. Hidrologia aplicada. McGraw-Hill do Brasil, São Paulo - SP, 245 p. 1975.
VON SPERLING, Marcos. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos / Marcos von Sperling – 2 ed. – Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal de Minas Gerais, 1996.
VON SPERLING, Marcos. Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias: Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. Volume 1. 3ª Ed. UFMG. 2005.
VON SPERLING, Marcos. Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuarias: Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. Volume 1. 3ª Ed. UFMG. 2005.
WALESH, S. G. Urban surface water management. New York. 1989.
WILKEN, P. S. Engenharia de drenagem superficial. São Paulo: Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, 1978.
WISCHMEIER, W. H.; SMITH, D. D. Predicting rainfall erosion losses: a guide to conservation planning. Washington, DC: USDA, 1978.
ANEXOS


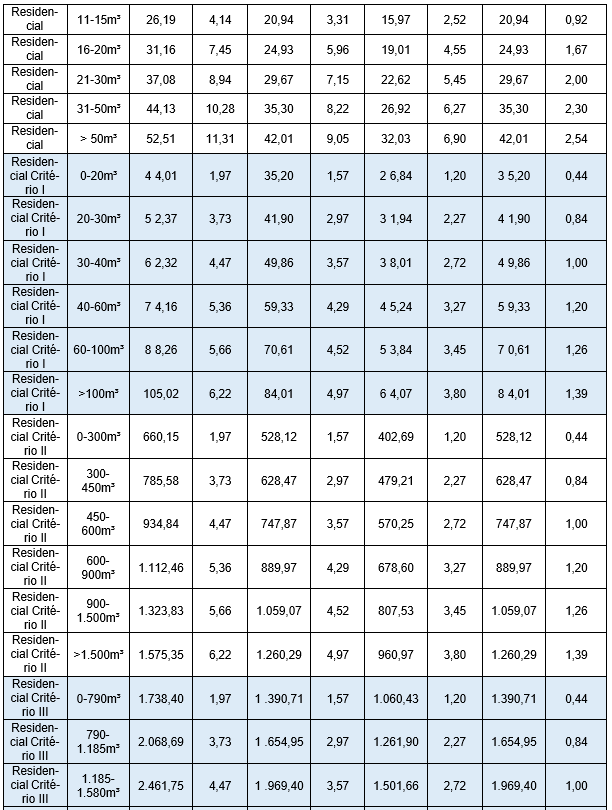
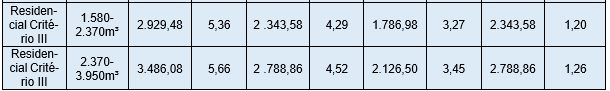


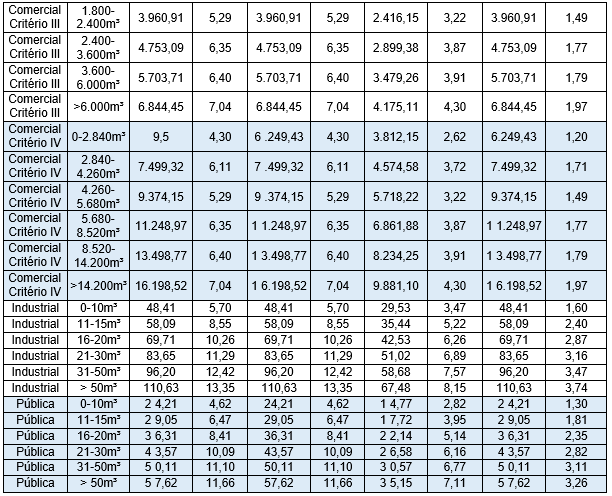
Anexo II – Oficinas participativas
Lista de Presença 1ª oficina participativa.

Lista de Presença 2ª oficina participativa.

Questionário aplicado nas 2 oficinas.
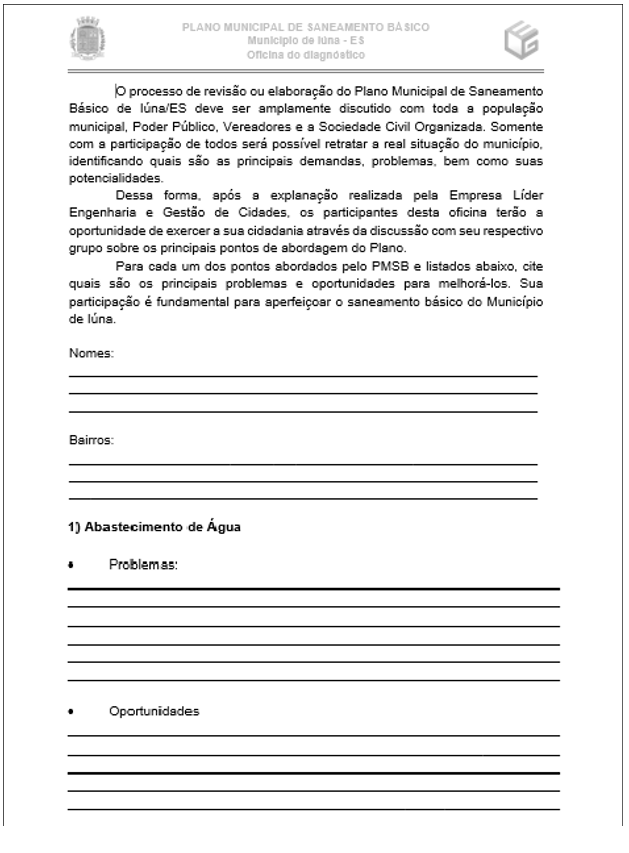


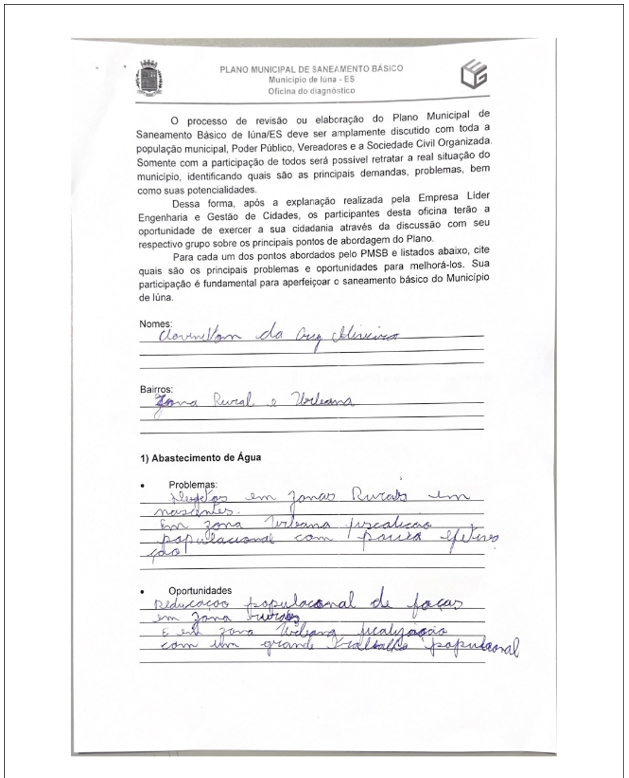

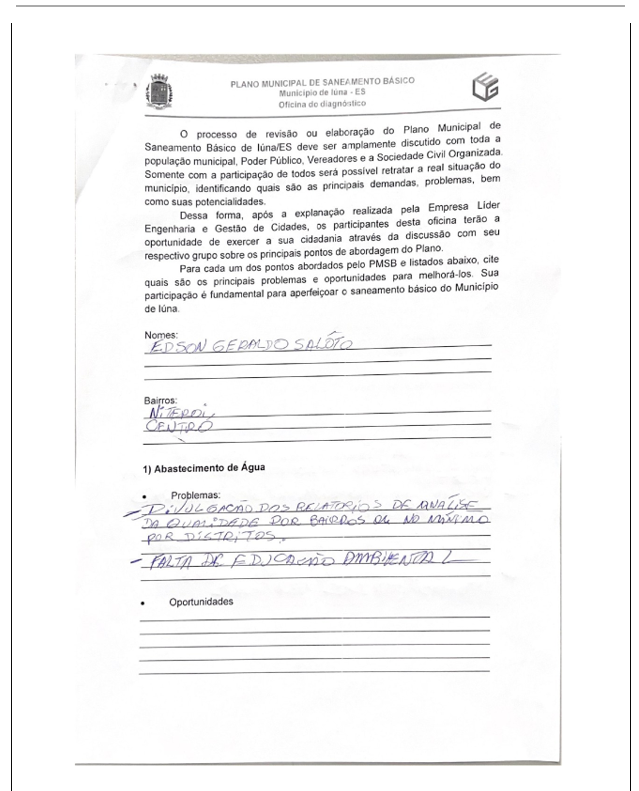
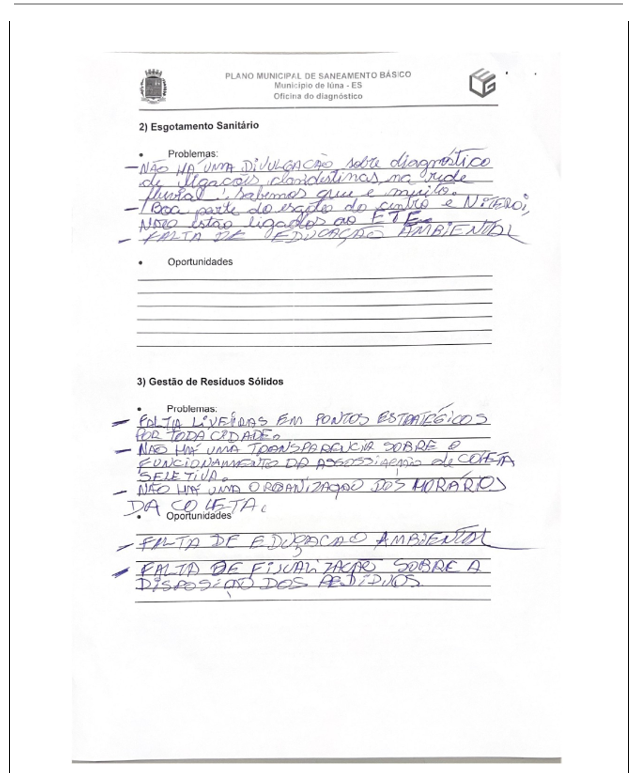
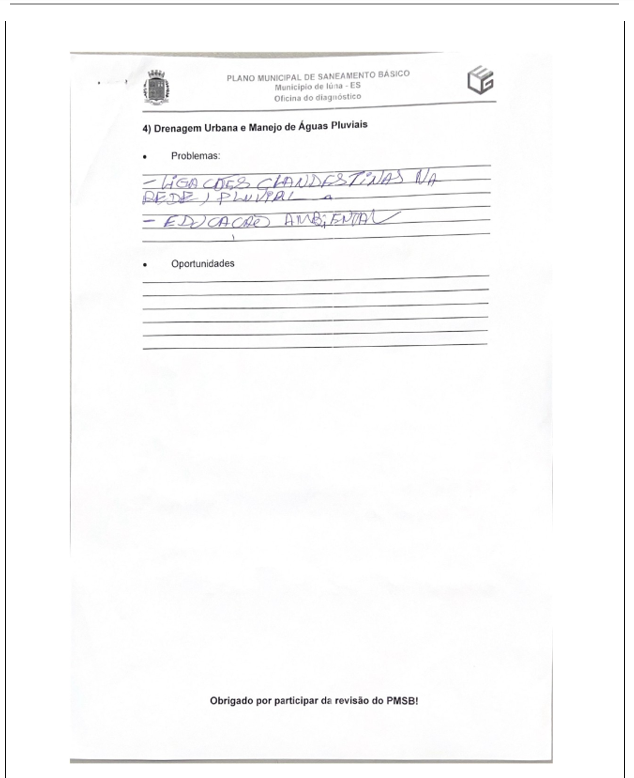







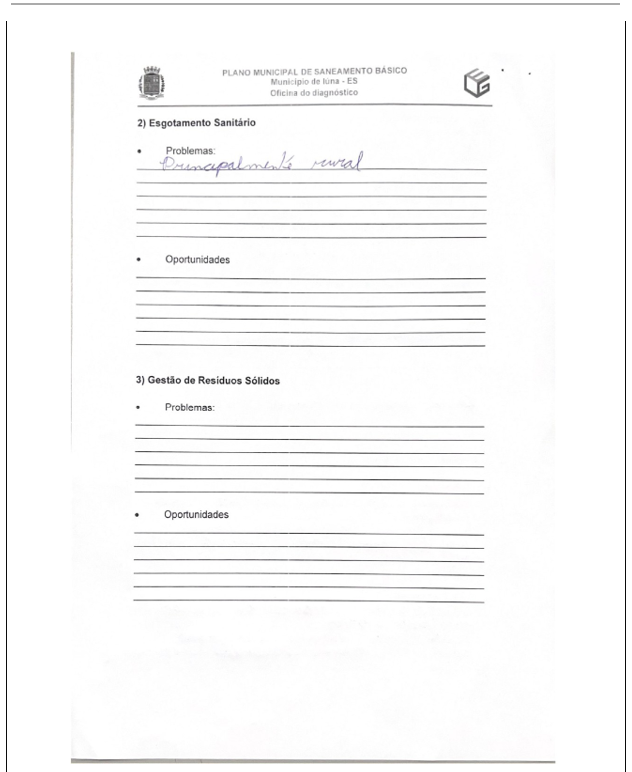
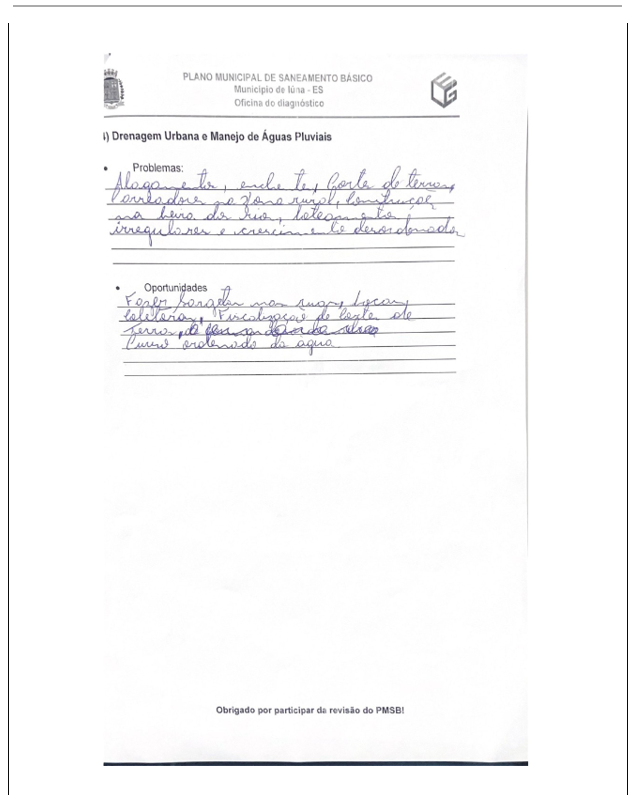



















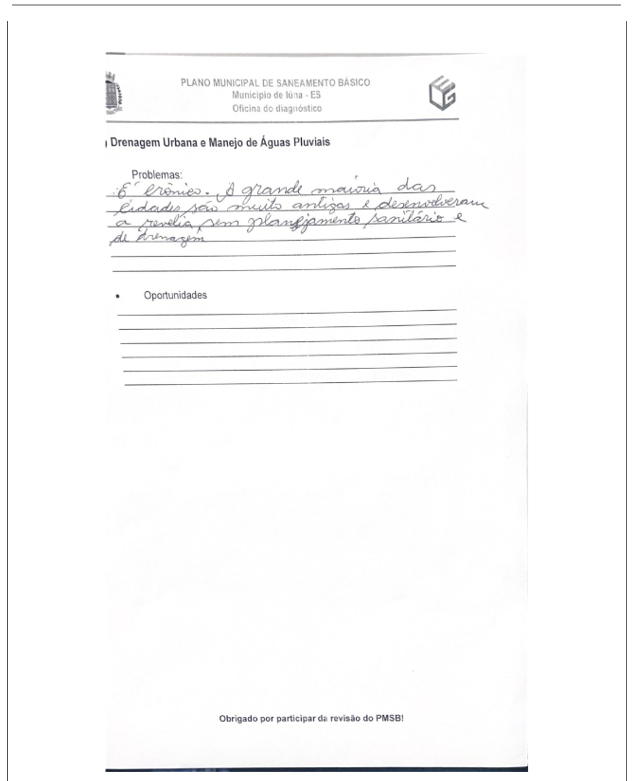


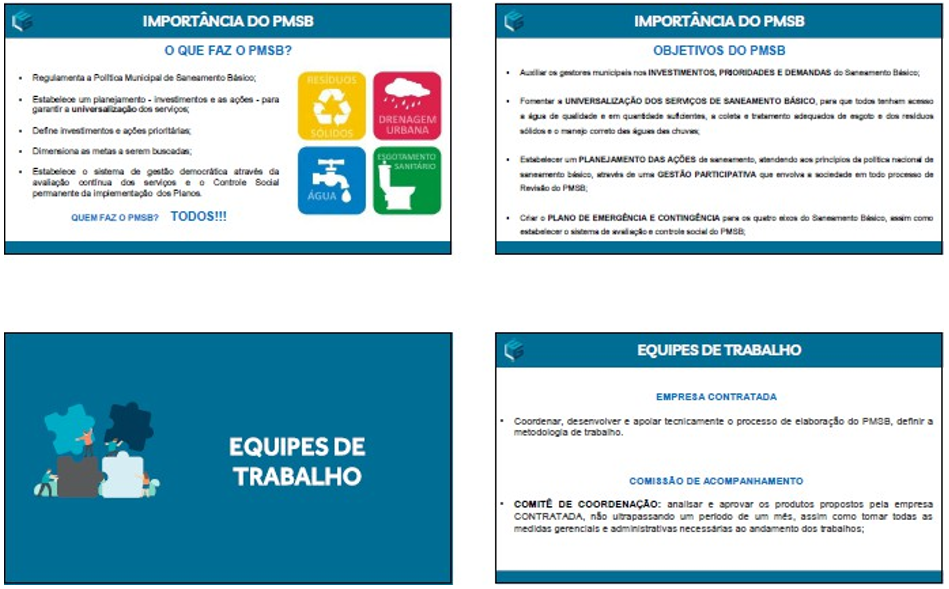

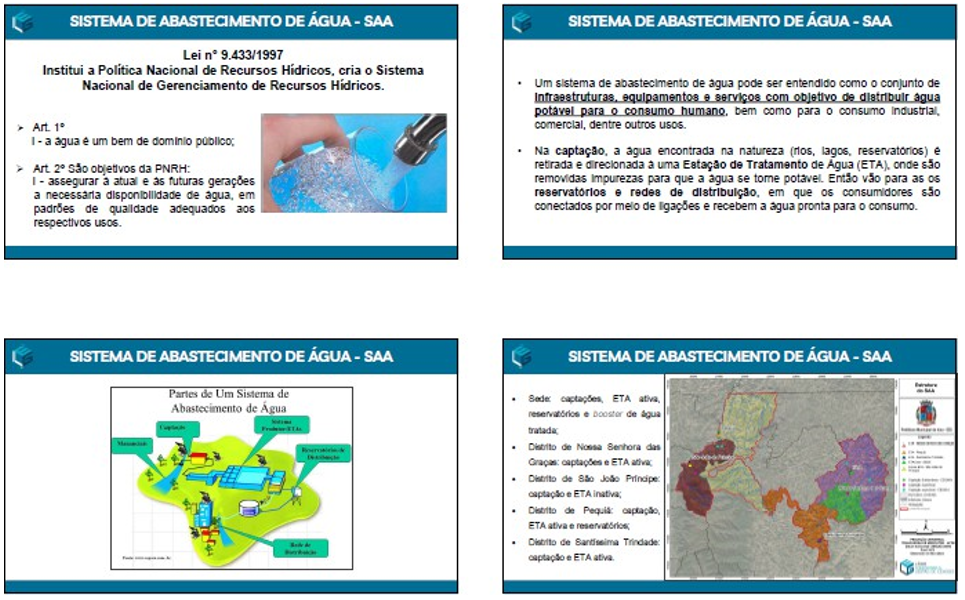


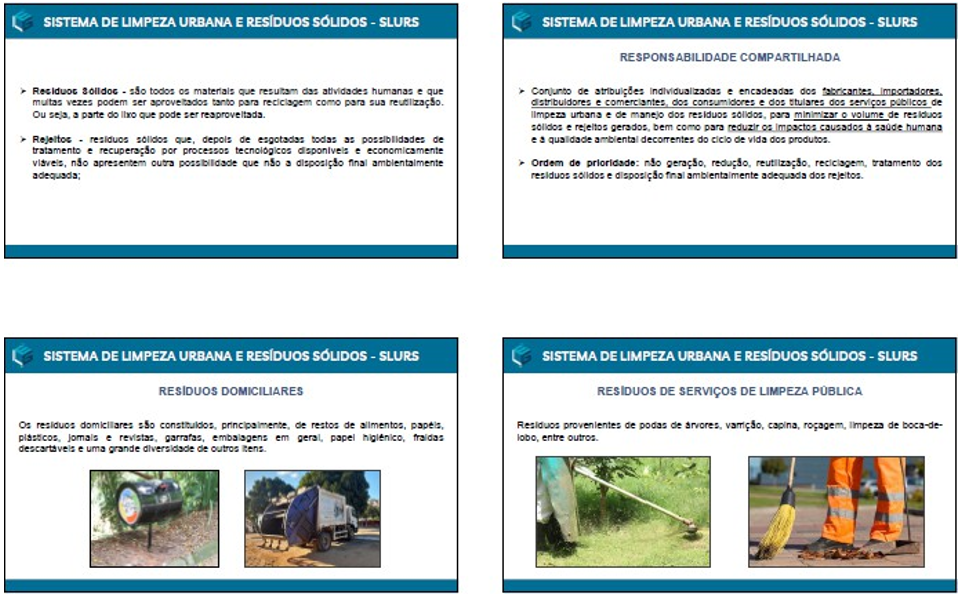
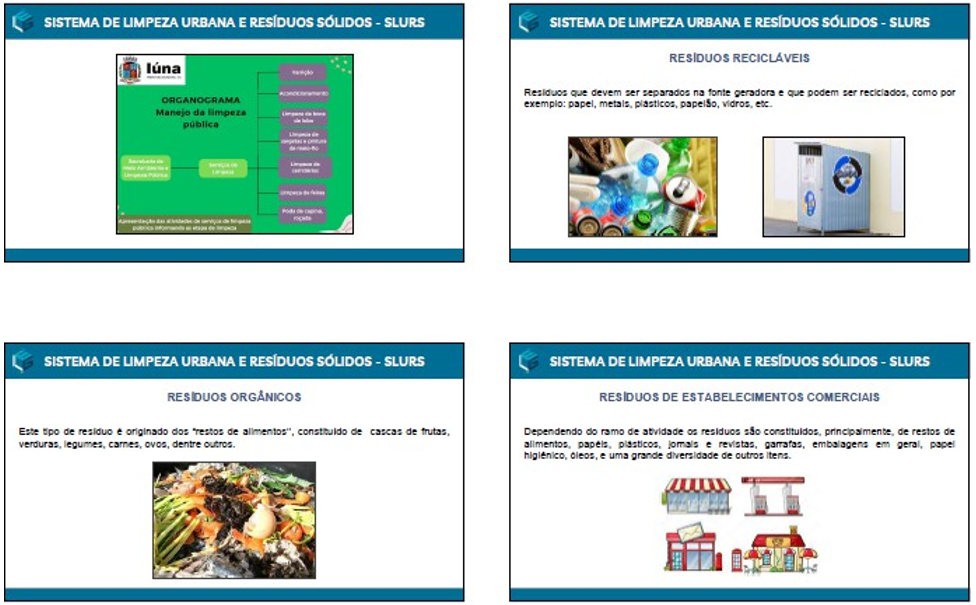

























Este texto não substitui o Publicado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Iúna, no dia 29 de maio de 2025.
Este texto é meramente informativo e não exprime a orientação jurídica do órgão.